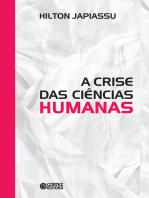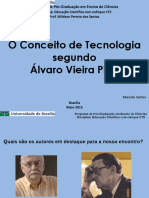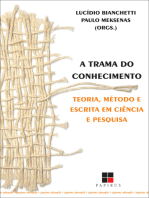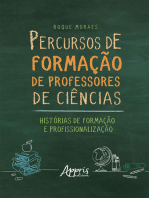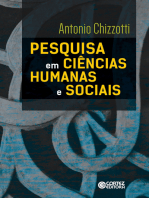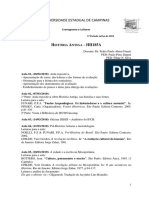Professional Documents
Culture Documents
Andery - para Compreender A Ciência
Uploaded by
saraurrea0718Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Andery - para Compreender A Ciência
Uploaded by
saraurrea0718Copyright:
Available Formats
PARA COMPREENDER
A CINCIA
UMA PERSPECTIVA HISTRICA
Maria Amlia Pie Abib Andery
Nilza Micheletto
Tereza Maria de Azevedo Pires Srio
Denize Rosana Rubano
Melania Moroz
Maria Eliza Mazzilli Pereira
Slvia Catarina Gioia
Mnica Helena Tieppo Alves Gianfaldoni
Mrcia Regina Savioli
Maria de Lourdes Bara Zanotto
PARA COMPREENDER
A CINCIA
UMA PERSPECTIVA HISTRICA
ESPA O
educ
E1W0
So Paulo / Rio de Janeiro
1996
Autoras, 1988, 1996
Catalogao na Fonte - Biblioteca Central/PUC-SP
Para compreender a cincia: uma perspectiva histrica / Maria Amlia Andery... et ai. -
6. ed. rev. e ampl. - Ri o de Janeiro: Espao e Tempo: So Paulo: EDUC, 1996.
p. 436; 21 cm.
Inclui bibliografia.
ISBN: 85-283-0097-8
1. Cincia - Metodologia. 2. Cincia - Filosofia. I. Andery, Maria Amlia.
II. Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo.
CDD 500.18
501
Produo Editorial
Eveline Bouteiller Kavakama
Maria Eliza Mazzilli Pereira
Reviso
Snia Montone
Berenice Haddad Aguerre
Editorao Eletrnica
Elaine Cristine Fernandes da Silva Capa
Maurcio Fernandes da Silva Cludio Mesquita
EDUC - Editora da PUC-SP Editora Espao e Tempo
Rua Monte Alegre, 984 Rua Santa Cristina, 18
05014-001 - So Paulo - SP 20451-250 - Rio de Janeiro - RJ
Fone: (011) 873-3359 - Fax: (011) 62-4920 Tel.: (021) 232-5474
SUMARIO
INTRO DU O
O lhar para a histria: caminho para a compreenso da cincia hoje 9
PARTE I
A DESCO BERTA DA RACIO NALIDADE NO MUNDO
E NO HO MEM: A GRCIA ANTIGA 17
Captulo 1-0 mito explica o mundo 23
Maria Amlia Pie Abib Andery
Nilza Micheletto
Tereza Maria de Azevedo Pires Srio
Captulo 2-0 mundo tem uma racionalidade, o homem pode descobri-la . . 33
Maria Amlia Pie Abib Andery
Nilza Micheletto
Tereza Maria de Azevedo Pires Srio
Captulo 3-0 pensamento exige mtodo, o conhecimento depende dele . . . . 57
Maria Amlia Pie Abib Andery
Nilza Micheletto
Tereza Maria de Azevedo Pires Srio
Captulo 4-0 mundo exige uma nova racionalidade, rompe-se a
unidade do saber 97
Maria Amlia Pie Abib Andery
Nilza Micheletto
Tereza Maria de Azevedo Pires Srio
Referncias 127
Bibliografia 129
PARTE II
A F CO MO LIMITE DA RAZO : EURO PA MEDIEVAL 131
Captulo 5 - Relaes de servido: Europa Medieval O cidental 133
Denize Rosana Rubano
Melania Moroz
Captulo 6-0 conhecimento como ato da iluminao divina:
Santo Agostinho 145
Denize Rosana Rubano
Melania Moroz
Captulo 7 - Razo como apoio a verdades de f: Santo Toms de Aquino.. 151
Denize Rosana Rubano
Melania Moroz
Referncias 159
Bibliografia 160
PARTE III
A CINCIA MO DERNA INSTITUI-SE: A TRANSI O
PARA O CAPITALISMO 161
Captulo 8 - Do feudalismo ao capitalismo: uma longa transio 163
Maria Eliza Mazzilli Pereira
Slvia Catarina Gioia
Captulo 9 - A razo, a experincia e a construo de um
universo geomtrico: Galileu Galilei 179
Slvia Catarina Gioia
Captulo 10 - A induo para o conhecimento e o conhecimento
para a vida prtica: Francis Bacon 193
Maria Eliza Mazzilli Pereira
Captulo 11 -A dvida como recurso e a geometria como modelo:
Ren Descartes 201
Denize Rosana Rubano
Melania Moroz
Captulo 12-0 mecanicismo estende-se do mundo ao pensamento:
Thomas Hobbes 211
Maria Amlia Pie Abib Andery
Nilza Micheletto
Tereza Maria de Azevedo Pires Srio
Captulo 13 -A experincia como fonte das idias, as idias
como fonte do conhecimento: John Locke 221
Maria Amlia Pie Abib Andery
Nilza Micheletto
Tereza Maria de Azevedo Pires Srio
Captulo 14 -O universo infinito e seu movimento mecnico
e universal: lsaac Newton 237
Mnica Helena Tieppo Alves Gianfaldoni
Referncias 251
Bibliografia 252
PARTE IV
A HISTRIA E A CRTICA REDIMENSIO NAM O CO NHECIMENTO :
O CAPITALISMO NO S SCULO S XVIII E XIX 255
Captulo 15 - Sculos XVIII e XIX: revoluo na economia e na poltica 257
Maria Eliza Mazzilli Pereira
Slvia Catarina Gioia
Capitulo 16-A certeza das sensaes e a negao da matria:
George Berkeley 295
Denize Rosana Rubano
Melania Moroz
Captulo 17-A experinciae o hbito como determinantes
da noo de causalidade: David Hume 311
Maria Amlia Pie Abib Andery
Tereza Maria de Azevedo Pires Srio
Captulo 18 - Alteraes na sociedade, efervescncia nas idias:
a Frana do sculo XVIII 327
Denize Rosana Rubano
Melania Moroz
Captulo 19 - As possibilidades da razo: lmmanuel Kant 341
Mnica Helena Tieppo Alves Gianfaldoni
Nilza Micheletto
Captulo 20 - 0 real edificado pela razo: Georg Wilhelm Friedrich
Hegel 363
Mareia Regina Savioli
Maria de Lourdes Bara Zanotto
Captulo 21 - H uma ordem imutvel na natureza e o conhecimento a
reflete: Auguste Comte 373
Maria Amlia Pie Abib Andery
Tereza Maria de Azevedo Pires Srio
Captulo 22 - A prtica, a Histria e a construo do conhecimento:
Karl Marx 395
Maria Amlia Pie Abib Andery
Tereza Maria de Azevedo Pires Srio
Referncias 421
Bibliografia 424
PO SFCIO 427
INTRO DU O
O LHAR PARA A HISTO RIA: CAMINHO
PARA A CO MPREENSO DA CINCIA HO JE
O homem um ser natural, isto , ele um ser que faz parte integrante
da natureza; no se poderia conceber o conjunto da natureza sem nela inserir
a espcie humana. Ao mesmo tempo em que se constitui em ser natural, o
homem diferencia-se da natureza, que , como diz Marx (1984), "o corpo
inorgnico do homem" (p. 111); para sobreviver ele precisa com ela se re-
lacionar j que dela provm as condies que lhe permitem perpetuar-se en-
quanto espcie. No se pode, portanto, conceber o homem sem a natureza e
nem a natureza sem o homem.
Na busca das condies para sua sobrevivncia, o ser humano - assim
como outros animais - atua sobre a natureza e, por meio dessa interao,
satisfaz suas necessidades; no entanto, a relao homem-natureza diferencia-
se da interao animal-natureza.
A atividade dos animais, em relao natureza, biologicamente de-
terminada. A sobrevivncia da espcie se d com base em sua adaptao ao
meio. O animal limita-se imediaticidade das situaes, atuando de forma
a permitir a sobrevivncia de si prprio e a de sua prole; isso se repete, com
mnimas alteraes, em cada nova gerao.
Por mais sofisticadas que possam ser as atividades animais - por exem-
plo, a casa feita pelo joo-de-barro ou a organizao de um formigueiro -,
elas ocorrem com pequenas modificaes na espcie, j que a transmisso
da "experincia" feita quase exclusivamente pelo cdigo gentico; o mesmo
pode-se dizer em relao s modificaes que provocam na natureza, por
mais elaboradas que possam parecer. Assim, se a atuao do animal sobre a
natureza permite a sobrevivncia da espcie, isso se d em funo de carac-
tersticas biolgicas, o que estabelece os limites da possibilidade de modifi-
caes que a atuao do animal provoca seja na natureza, seja em si prprio.
O homem tambm atua sobre a natureza em funo de suas necessi-
dades e o faz para sobreviver enquanto espcie. No entanto, diferentemente
de outros animais, o homem no se limita imediaticidade das situaes
com que se depara; ultrapassa limites, j que produz universalmente (para
alm de sua sobrevivncia pessoal e de sua prole), no se restringindo as
necessidades que se revelam no aqui e agora.
A ao humana no apenas biologicamente determinada, mas se d
principalmente pela incorporao das experincias e conhecimentos produzi-
dos e transmitidos de gerao a gerao; a transmisso dessas experincias
e conhecimentos - por meio da educao e da cultura - permite que a nova
gerao no volte ao ponto de partida da que a precedeu.
A atuao do homem diferencia-se da do animal porque, ao alterar
a natureza, por meio de sua ao, torna-a humanizada; em outras pala-
vras, a natureza adquire a marca da atividade humana. Ao mesmo tempo, o
homem altera a si prprio por intermdio dessa interao; ele vai se cons-
truindo, vai se diferenciando cada vez mais das outras espcies animais. A
interao homem-natureza um processo permanente de mtua transforma-
o: esse o processo de produo da existncia humana.
o processo de produo da existncia humana porque o ser humano
vai se modificando, alterando aquilo que necessrio sua sobrevivncia.
Velhas necessidades adquirem caractersticas diferentes; at mesmo as neces-
sidades consideradas bsicas - por exemplo, a alimentao - refletem as
mudanas ocorridas no homem; os hbitos e necessidades alimentares so
hoje muito diferentes do que foram em outros momentos. A alterao, no
entanto, no se limita transformao de velhas necessidades: o homem cria
novas necessidades que passam a ser to fundamentais quanto as chamadas
necessidades bsicas sua sobrevivncia.
o processo de produo da existncia humana porque o homem no
s cria artefatos, instrumentos, como tambm desenvolve idias (conheci-
mentos, valores, crenas) e mecanismos para sua elaborao (desenvolvimen-
to do raciocnio, planejamento...). A criao de instrumentos, a formulao
de idias e formas especficas de elabor-los - caractersticas identificadas
como eminentemente humanas - so fruto da interao homem-natureza. Por
mais sofisticadas que possam parecer, as idias so produtos de e exprimem
as relaes que o homem estabelece com a natureza na qual se insere.
o processo da produo da existncia humana porque cada nova in-
terao reflete uma natureza modificada, pois nela se incorporam criaes
antes inexistentes, e reflete, tambm, um homem j modificado, pois suas
10
necessidades, condies e caminhos para satisfaz-las so outros que foram
sendo construdos pelo prprio homem. nesse processo que o homem ad-
quire conscincia de que est transformando a natureza para adapt-la a suas
necessidades, caracterstica que vai diferenci-lo: a ao humana, ao contrrio
da de outros animais, intencional e planejada; em outras palavras, o homem
sabe que sabe.
O processo de produo da existncia humana um processo social;
o ser humano no vive isoladamente, ao contrrio, depende de outros para
sobreviver. H interdependncia dos seres humanos em todas as formas da
atividade humana; quaisquer que sejam suas necessidades - da produo de
bens elaborao de conhecimentos, costumes, valores... -, elas so criadas,
atendidas e transformadas a partir da organizao e do estabelecimento de
relaes entre os homens.
Na base de todas as relaes humanas, determinando e condicionando
a vida, est o trabalho - uma atividade humana intencional que envolve for-
mas de organizao, objetivando a produo dos bens necessrios vida
humana. Essa organizao implica uma dada maneira de dividir o trabalho
necessrio sociedade e determinada pelo nvel tcnico e pelos meios
existentes para o trabalho, ao mesmo tempo em que os condiciona; a forma
de organizar o trabalho determina tambm a relao entre os homens, inclu-
sive quanto propriedade dos instrumentos e materiais utilizados e apro-
priao do produto do trabalho.
As relaes de trabalho - a forma de dividi-lo, organiz-lo -, ao lado
do nvel tcnico dos instrumentos de trabalho, dos meios disponveis para a
produo de bens materiais, compem a base econmica de uma dada socie-
dade.
E essa base econmica que determina as formas polticas, jurdicas e
o conjunto das idias que existem em cada sociedade. a transformao
dessa base econmica, a partir das contradies que ela mesma engendra,
que leva transformao de toda a sociedade, implicando um novo modo
de produo e uma nova forma de organizao poltica e social. Por exemplo,
nas sociedades tribais (comunais) o grupo social organizava-se por sexo
e idade para produzir os bens necessrios sua sobrevivncia. s mulhe-
res e crianas cabiam determinadas tarefas e aos homens, outras. Essa pri-
meira diviso do trabalho, alm de garantir a sobrevivncia do grupo, gerou
um conjunto de instrumentos, tcnicas, valores, costumes, crenas, conheci-
mentos, organizao familiar, etc. A propriedade dos instrumentos de traba-
lho, bem como a propriedade do produto do trabalho (a caa, o peixe, etc),
era de toda a comunidade. A transmisso das tcnicas, valores, conhecimen-
tos, etc. era feita, basicamente, por meio da comunicao oral e do contato
11
pessoal, diferentemente do que ocorre atualmente. J, na Grcia Antiga, por
volta de 800 a. C, o comrcio, fundado na exportao e importao agrcolas
e artesanais, a base da atividade econmica, e h um nvel tcnico de
produo desenvolvido ao lado de uma organizao poltica na forma de
cidades-Estado. Nessa sociedade, alm da diviso do trabalho cidade-campo,
ocorre uma diviso entre os produtores de bens e os donos da produo; os
produtores no detm a propriedade da terra, nem os instrumentos de trabalho,
nem o prprio produto de seu trabalho; so, em sua maioria, eles mesmos,
propriedade de outros homens. Nessa sociedade, as relaes estabelecidas
entre os homens so desiguais: alguns vivem do produto do trabalho de ou-
tros, e a produo de conhecimento desenvolvida por aqueles que no exe-
cutam o trabalho manual.
As idias, como um dos produtos da existncia humana, sofrem as
mesmas determinaes histricas. As idias so a expresso das relaes e
atividades reais do homem, estabelecidas no processo de produo de sua
existncia. Elas so a representao daquilo que o homem faz, da sua maneira
de viver, da forma como se relaciona com outros homens, do mundo que o
circunda e das suas prprias necessidades. Marx e Engels (1980) afirmam:
A produo de idias, de representaes e da conscincia est em primeiro
lugar direta e intimamente ligada atividade material e ao comrcio material
dos homens; a linguagem da vida real (...). No a conscincia que determina
a vida, mas sim a vida que determina a conscincia, (pp. 25-26)
Isso no significa que o homem crie suas representaes mecanicamente:
aquilo que o homem faz, acredita, conhece e pensa sofre interferncia tambm
das idias (representaes) anteriormente elaboradas; ao mesmo tempo, as
novas representaes geram transformaes na produo de sua existncia.
O desenvolvimento do homem e de sua histria no depende de um
nico fator. Seu desenvolvimento ocorre a partir das necessidades materiais;
estas, bem como a forma de satisfaz-las, a forma de se relacionar para tal,
as prprias idias, o prprio homem e a natureza que o circunda, so inter-
dependentes, formando uma rede de interferncias recprocas. Da decorre
ser esse um processo de transformao infinito, em que o prprio homem se
produz. Nesse processo do desenvolvimento humano multideterminado, que
envolve inter-relaes e interferncias recprocas entre idias e condies ma-
teriais, a base econmica ser o determinante fundamental. Tais condies
econmicas em sociedades baseadas na propriedade privada resultam em gru-
pos com interesses conflitantes, com possibilidades diferentes no interior da
sociedade, ou seja, resultam num conflito entre classes. Em qualquer socie-
dade onde existam relaes que envolvam interesses antagnicos, as idias
refletem essas diferenas. E, embora acabem por predominar aquelas que
12
representam os interesses do grupo dominante, a possibilidade mesma de se
produzir idias que representam a realidade do ponto de vista de outro grupo
reflete a possibilidade de transformao que est presente na prpria socie-
dade. Portanto, de se esperar que, num dado momento, existam repre-
sentaes diferentes e antagnicas do mundo. Por exemplo, hoje, tanto as
idias polticas que pretendem conservar as condies existentes quanto as que
pretendem transform-las correspondem a interesses especficos as vrias
classes sociais.
Dentre as idias que o homem produz, parte delas constitui o conhe-
cimento referente ao mundo. O conhecimento humano, em suas diferentes
formas (senso comum, cientfico, teolgico, filosfico, esttico, etc), exprime
condies materiais de um dado momento histrico.
Como uma das formas de conhecimento produzido pelo homem no
decorrer de sua histria, a cincia determinada pelas necessidades materiais
do homem em cada momento histrico, ao mesmo tempo em que nelas in-
terfere. A produo de conhecimento cientfico no , pois, prerrogativa do
homem contemporneo. Quer nas primeiras formas de organizao social,
quer nas sociedades atuais, possvel identificar a constante tentativa do
homem para compreender o mundo e a si mesmo; possvel identificar,
tambm, como marca comum aos diferentes momentos do processo de
construo do conhecimento cientfico, a inter-relao entre as necessida-
des humanas e o conhecimento produzido: ao mesmo tempo em que atuam
como geradoras de idias e explicaes, as necessidades humanas vo se
transformando a partir, entre outros fatores, do conhecimento produzido.
A cincia caracteriza-se por ser a tentativa do homem entender e ex-
plicar racionalmente a natureza, buscando formular leis que, em ltima ins-
tncia, permitam a atuao humana.
Tanto o processo de construo de conhecimento cientfico quanto seu
produto refletem o desenvolvimento e a ruptura ocorridos nos diferentes mo-
mentos da histria. Em outras palavras, os antagonismos presentes em cada
modo de produo e as transformaes de um modo de produo a outro
sero transpostos para as idias cientficas elaboradas pelo homem.
Sero transpostos para a forma como o homem explica racionalmente
o mundo, buscando superar a iluso, o desconhecido, o imediato; buscando
compreender de forma fundamentada as leis gerais que regem os fenmenos.
Essas tentativas de propor explicaes racionais tornam o prprio co-
nhecer o mundo numa questo sobre a qual o homem reflete. Novamente,
aqui, o carter histrico da cincia se revela: muda o que considerado
cincia e muda o que considerado explicao racional em decorrncia de
alteraes nas condies materiais da vida humana.
13
Enquanto tentativa de explicar a realidade, a cincia caracteriza-se por
ser uma atividade metdica. uma atividade que, ao se propor conhecer a
realidade, busca atingir essa meta por meio de aes passveis de serem re-
produzidas. O mtodo cientfico um conjunto de concepes sobre o ho-
mem, a natureza e o prprio conhecimento, que sustentam um conjunto de
regras de ao, de procedimentos, prescritos para se construir conhecimento
cientfico.
O mtodo no nico nem permanece exatamente o mesmo, porque
reflete as condies histricas concretas (as necessidades, a organizao social
para satisfaz-las, o nvel de desenvolvimento tcnico, as idias, os conheci-
mentos j produzidos) do momento histrico em que o conhecimento foi
elaborado.
A observao e a experimentao, por exemplo, procedimentos meto-
dolgicos que passam a ser considerados, a partir de Galileu (sculo XVI),
como teste para conhecimento cientfico, no eram procedimentos utilizados
para esse fim na Grcia e na Idade Mdia. Neste ltimo perodo, a observao
e a experimentao no eram critrios de aceitao das proposies, j que
a autoridade de certos pensadores e a concordncia com as afirmaes reli-
giosas eram o critrio maior. A divergncia com relao a que procedimentos
levam produo de conhecimento est sustentada pelas concepes que os
geram; ao se alterar a concepo que o homem tem sobre si, sobre o mundo,
sobre o conhecimento (o papel que se atribui cincia, o objeto a ser inves-
tigado, etc), todo o empreendimento cientfico se altera. O pensamento me-
dieval que concebeu o mundo como hierarquicamente ordenado, segundo
qualidades determinadas por naturezas dadas e estticas, e concebeu o homem
como sujeito aos desgnios de Deus - base de sua vida e de suas possibili-
dades - gerou uma concepo de conhecimento que, em relao indissolvel
e recproca com as primeiras (homem e mundo), atribuiu cincia um papel
contemplativo dirigido para fundamentar e afirmar as verdades da f. Dessas
concepes decorreu a desvalorizao da observao dos fenmenos como
via para a produo de conhecimento cientfico; sob as condies feudais
tornou-se impossvel e desnecessria a construo de explicaes que viessem
a pr em dvida as proposies da Igreja, cujas idias eram apresentadas
como inquestionveis, j que reveladas por Deus.
Assim, a possibilidade de propor determinadas teorias, os critrios de
aceitao, bem como a proposio ou no de determinados procedimentos
na produo cientfica, refletem aspectos mais gerais e fundamentais do pr-
prio mtodo. A mudana das concepes implica necessariamente uma nova
forma de ver a realidade, um novo modo de atuao para obteno do co-
nhecimento, uma transformao no prprio conhecimento. Tais mudanas no
processo de construo da cincia e no seu produto geram novas possibili-
14
dades de ao humana, alterando o modo como se d a interferncia do
homem sobre a realidade.
O mtodo cientfico historicamente determinado e s pode ser com-
preendido dessa forma. O mtodo o reflexo das nossas necessidades e pos-
sibilidades materiais, ao mesmo tempo em que nelas interfere. O s mtodos
cientficos transformam-se no decorrer da Histria. No entanto, num dado
momento histrico, podem existir diferentes interesses e necessidades; em tais
momentos, coexistem tambm diferentes concepes de homem, de natu-
reza e de conhecimento, portanto, diferentes mtodos. Assim, as diferenas
metodolgicas ocorrem no apenas temporalmente, mas tambm num mesmo
momento e numa mesma sociedade.
As anlises que sero apresentadas neste livro se fundamentam na com-
preenso da cincia como parte das idias produzidas pelo homem para sa-
tisfazer suas necessidades materiais, portanto, por elas determinadas e nelas
interferindo. S se pode entender a produo do conhecimento cientfico -
que teve e tem interferncia na histria construda pelo ser humano - se
forem analisadas as condies concretas que condicionaram e condicionam
sua produo. Assumir essa forma de anlise no significa negar a existncia
de uma dinmica interna prpria cincia. Descobertas e explicaes cien-
tficas tambm atuam como fatores determinantes da produo de novos co-
nhecimentos. Desconsiderar essa relativa autonomia da atividade cientfica
fazer uma avaliao simplista e mecnica da relao que cincia e sociedade
guardam entre si.
Na tentativa de recuperar as determinaes histricas, o mtodo adquire
papel fundamental e privilegiado, pois, sendo o mtodo sujeito s mesmas
interferncias, determinaes e transformaes a que a cincia como um todo
est sujeita, ele tambm depende tanto do estudo de sua relao com o prprio
momento em que surge quanto das alteraes e interferncias que sofre e
provoca em diferentes momentos histricos. Assim, neste livro sero abor-
dadas as concepes metodolgicas que vigoraram em diferentes modos de
produo - escravista, feudal, capitalista - assumindo o olhar para a histria
como caminho para compreenso da cincia hoje.
As Autoras
15
PARTE I
A DESCO BERTA DA RACIO NALIDADE
NO MUNDO E NO HO MEM:
A GRCIA ANTIGA
Nas sociedades primitivas a produo de vida material era organizada
de forma a garantir apenas o consumo necessrio sobrevivncia do grupo,
sem a produo de excedentes os produtos materiais possuam apenas
valor de uso, no tendo valor de troca, j que esta praticamente inexistia. O
trabalho era organizado coletivamente e envolvia todos os membros do grupo
na produo, ocorrendo uma diviso "natural" (por sexo e idade) do trabalho.
O produto desse trabalho tambm era coletivo, sendo dividido por todo o
grupo. A propriedade da terra era igualmente coletiva.
Socialmente, os grupos organizavam-se por relaes de parentesco (em
cls) e em torno de um totem (usualmente, um animal, planta ou instrumento
de trabalho importante para a economia do grupo). O s membros do grupo,
a partir da iniciao pelo totem, passavam a identificar-se com este e com o
grupo e a participar da produo da vida material.
As sociedades primitivas estruturavam-se, portanto, em torno da pro-
duo e do rito mgico, que organizavam, num certo sentido, a prpria vida
econmica. Segundo a anlise que Thomson (1974a) faz da relao entre
magia e trabalho, estes foram gradativamente distinguindo-se um do outro.
Tal distino implicava o reconhecimento da objetividade dos processos tc-
nicos e trouxe duas conseqncias principais:
No seio do processo de produo, o acompanhamento vocal deixa de ser parte
integrante e toma-se um sortilgio tradicional que comunica aos trabalhadores
as diretrizes apropriadas, e forma-se assim, pouco a pouco, por acumulao,
um conjunto de tradies relativas ao trabalho. No rito mgico, a parte vocal
serve de comentrio representao que, uma vez separada do trabalho, precisa
ser explicada; forma-se, assim, um conjunto de mitos. Na realidade, evidente-
mente, as diferenas no so to profundas. Trabalho e magia ainda se inter-
penetram, as tradies relativas ao trabalho esto cheias de crenas mticas e
os mitos deixam entrever a sua ligao reconhecvel embora longnqua, com
os processos de produo, (p. 61)
Existe, assim, uma certa conscincia da objetividade do mundo exterior, uma
objetividade inteiramente prtica e com pouco poder de abstrao.
O desenvolvimento das tcnicas e utenslios e sua melhor utilizao
levaram a uma produo de excedente, uma produo que ultrapassava as
necessidades imediatas do grupo. Isso foi acompanhado por uma nova diviso
do trabalho, por novas relaes entre os homens para produzir. Diviso entre
os produtores e os que organizavam a produo, entre trabalho manual e
intelectual. Com a especializao, a produo tornou-se cada vez menos co-
letiva, assim como o consumo. A apropriao dos produtos tornou-se cada
vez mais individual, baseada na propriedade privada, levando a trocas e, pou-
co a pouco, produo mercantil.
O desenvolvimento da produo mercantil associado ao desenvolvimen-
to do escravismo so aspectos fundamentais para a compreenso da civiliza-
o grega. O entendimento dessas caractersticas da vida material da Grcia
Antiga nos permitir compreender o pensamento grego.
Foi na Grcia Antiga, num perodo que se estendeu do sculo VII ao
sculo II a.C, que, pela primeira vez, o pensamento cientfico-filosfico tor-
nou-se abstrato e surgiram tentativas de explicar racionalmente o mundo, em
contraposio as explicaes mticas produzidas at ento.
A tentativa de elaborar o pensamento racional tem marcas prprias em
cada perodo. Mas, de uma forma geral, possvel distinguir o pensamento
mtico do racional.
O mito uma narrativa que pretende explicar, por meio de foras ou
seres considerados superiores aos humanos, a origem, seja de uma realidade
completa como o cosmos, seja de partes dessa realidade; pretende tambm
explicar efeitos provocados pela interferncia desses seres ou foras. Tal nar-
rativa no questionada, no objeto de crtica, ela objeto de crena, de
f. Alm disso, o mito apresenta uma espcie de comunicao de um senti-
mento coletivo; transmitido por meio de geraes como forma de explicar
o mundo, explicao que no objeto de discusso, ao contrrio, ela une e
canaliza as emoes coletivas, tranqilizando o homem num mundo que o
ameaa. E indispensvel na vida social, na medida em que fixa modelos da
realidade e das atividades humanas.
O mito ope-se ao pensamento racional. Razo, logos em seu sentido
original significa, por um lado, reunir e ligar e, por outro, calcular, medir;
ambos relacionados ao pensar, uma atividade fundamental para o homem.
Segundo Granger (1955), razo, para os gregos, ope-se ao imperfeito, ao
ilusrio, ope-se "() ao conhecimento imediato dado pelo sentido, opi-
nio, rotina, porque ela visa o universal e se acompanha de justificao"
(p. 10). O conhecimento racional funo de pensamento objetivo, conhe-
cimento "(...) que nos faz ultrapassar as aparncias e alcanar a realidade"
(p. 10). Racional no s funo de conhecimento, aplica-se tambm pr-
tica, reporta-se ao.
20
O conhecimento racional ope-se ao mtico, pois um conheci-
mento sobre o qual se problematiza e no simplesmente se cr; um co-
nhecimento no qual a explicao demonstrada por meio da discusso, da
exposio clara de argumentos e no apenas relatada, revelada oralmente,
no mero fruto de um sentimento coletivo; um conhecimento em que se
busca explicar e no encontrar modelos exemplares da realidade; um conhe-
cimento que possibilita um movimento crtico, que possibilita sua superao
e a dos mitos, e no se prope como acabado, fechado, capaz apenas de ser
sucedido por um conhecimento igual (como o mito que sucedido por outros
mitos); um conhecimento em que as explicaes deixam de ser frutos da
ao de seres sobrenaturais e divinos, que agem a despeito do prprio homem,
para se tornarem explicaes baseadas em mecanismos imanentes natureza
ou ao prprio homem em sua ao sobre a natureza, ou ainda s relaes
que se estabelecem entre os homens, explicaes que possibilitam ao homem
participar ativamente no governo de seu destino.
Nesta parte, sero delineadas as primeiras tentativas humanas de propor
explicaes racionais, abordando as principais caractersticas do pensamento
e do mtodo na Grcia Antiga e suas relaes com as condies de vida que
marcaram esse perodo da Histria. Para tanto, sero destacados os se-
guintes perodos da histria da Grcia: homrico (sculos XII-VIII a.C),
arcaico (sculos VII-VI a.C.), clssico (sculos V-IV a.C.) e helenstico
(sculos IV-II a.C.) e cada um deles ser abordado em um captulo distinto.
21
CAPITULO 1
O MITO EXPLICA O MUNDO
No perodo que se estendeu do sculo XII ao sculo VIII a.C, deno-
minado homrico, desenvolveram-se as bases da civilizao grega.
As origens do perodo homrico remontam ao ano 2000 a.C, quando
as primeiras tribos gregas-aqueus
1
passaram a ocupar, gradativamente, a Gr-
cia continental, o Peloponeso e as ilhas do mar Egeu. Como resultado desse
movimento de ocupao desenvolveu-se no perodo entre 1700 e 110 a.C. a
Civilizao Micnica.
A Civilizao Micnica, baseada na agricultura e artesanato desenvol-
vidos e na utilizao do bronze, era dirigida por uma nobreza de nascimento,
militarmente organizada, enriquecida pelo saque e pela posse de terra. Era
em torno do palcio que girava a organizao poltica, social, econmica,
militar e religiosa, centralizada pelo rei. Nessa estrutura palaciana a escrita
desempenhava papel fundamental, era utilizada para fiscalizao, regulamen-
tao e controle da vida econmica e social. A vida rural, fundamental nesse
perodo, baseava-se nos gn
2
e mantinha certa independncia em relao ao
1 Diakov e Kovalev (1976) afirmam que os aqueus e jnios j se encontravam na Grcia
a partir do ano 2000 a. C, havendo documentos que atestam a presena dos jnios no
sculo XII a.C. A poca do aparecimento dos elios na regio no est determinada, mas,
segundo esses autores, a partir do sculo XI a.C. os gregos j so formados de aqueus,
jnios, elios e drios. Glotz (1980) afirma que os primeiros gregos eram conhecidos como
aqueus, e que uma parte deles que veio a ser chamada de jnios e de elios.
2 Glotz (1980), no livro em que discute a cidade grega, ao descrever os momentos que
originaram a civilizao grega, caracteriza os genos, as fratrias e as tribos, instncias de
organizao que ele considera bsicas. Afirma que: "Tinham por ptria o cl patriarcal a
que precisamente chamavam patri ou, mais amide, gnos, onde todos os membros descen-
diam do mesmo antepassado e adoravam o mesmo deus. Esses cls, reunidos em nmero
mais ou menos grande, formavam associaes mais extensas, confrarias no sentido mais amplo
ou phratriai (fratrias), corporaes de guerra, cujos componentes eram conhecidos pelos nomes
de phrtores ou phrteres, tai ou hetairoi. Quando as fratrias se lanavam a grandes expe-
dies, grupavam-se num pequeno nmero, sempre o mesmo, de tribos t>u phula: cada uma
dessas tribos tinha um deus e um grito de guerra prprios, recrutava o seu corpo de exrcito,
a phlopis, e obedecia ao rei, o phulobasileus: mas, em conjunto, todas reconheciam a au-
toridade de um ser supremo, o basiles - chefe" (pp. 4-5).
palcio. No entanto, o pagamento de tributos de vrias espcies era obriga-
trio. O chefe do gn tornava-se, aps a morte, o seu protetor; o culto dos
mortos e dos antepassados era uma prtica religiosa da famlia.
Por volta de 1200 a.C, um outro grupo grego - os drios - passou a
ocupar a Grcia, tomando, gradativamente, a Grcia continental, o Peloponeso
e as ilhas do mar Egeu. As transformaes produzidas com a invaso dos
drios delimitam o incio do perodo homrico.
Uma das conseqncias dessa invaso foi o primeiro movimento de
colonizao grega. Fugindo dos drios, os elios estabeleceram-se na Elia
e os jnios na Jnia, fundando as colnias gregas na sia Menor (voltar-se-
a falar dessas colnias no perodo arcaico).
Um outro conjunto de conseqncias afeta de forma significativa a
organizao poltico-social e o desenvolvimento tcnico. O s drios organi-
zavam-se poltica e economicamente num regime de gnos, enquanto a
sociedade micnica estava organizada num regime de servido coletiva, em
torno de um rei com poderes econmicos, polticos, militares e religiosos.
Foi a organizao na forma.de gn e tribos que passou a predominar a partir
de ento; isso significou a destruio de toda a estrutura palaciana e, com
ela, o desaparecimento da escrita. Essa reorganizao gentlica foi possvel,
pois tambm os aqueus haviam mantido, em certa medida, tal forma de or-
ganizao nos agrupamentos rurais em torno do palcio. O s drios trouxeram
ainda um importante conhecimento tcnico - o do uso do ferro. A difuso
do uso do novo metal implicou o aprimoramento das armas de guerra e uma
grande expanso das foras produtivas, a melhoria dos instrumentos de tra-
balho agrcola e o desenvolvimento do artesanato.
Esse conjunto de fatores levou, ento, formao de um novo perodo
na histria da Grcia - homrico -, que se caracterizou pela substituio da
realeza (presente na civilizao micnica) pela aristocracia. Em lugar de um
rei todo-poderoso, desenvolveu-se durante esse perodo uma aristocracia que
passou a tomar as decises polticas e econmicas. A organizao poltica,
que antes girava em torno do palcio, passou a girar em torno de agora
3
. As
decises relativas vida do grupo passaram a ser baseadas em discusses
3 Glotz (1980) apresenta uma caracterizao de agora, a partir da qual pode-se citar alguns
de seus aspectos mais gerais: agora era a praa onde as pessoas passeavam, discutiam e
formavam opinies; era utilizada, tambm, para o comrcio; nela se realizavam as assem-
blias plenrias das cidades gregas, quer para comunicar decises para os cidados, quer
para estes tomarem decises; o carter poltico era to marcante que a agora era tambm
parte dos acampamentos militares. O crescimento de algumas cidades gregas tornou ne-
cessria a construo de um outro local para as assemblias. Esses locais, entretanto, man-
tiveram seu carter pblico e eram suficientemente grandes para abrigar grande nmero
de cidados.
24
pblicas, ainda que delas participasse apenas uma parcela da populao - os
cidados.
Nesse perodo, as comunidades estavam baseadas numa economia rural,
com a produo de cereais, leo, vinha, horticultura e pastoreio. Tambm a
tecelagem, a fiao e o artesanato de metal e cermica eram atividades eco-
nmicas importantes. Eram trazidos de fora o metal necessrio produo
de instrumentos de trabalho e os escravos, conseguidos pela pilhagem e troca
na forma de presentes (que, freqentemente, eram revestidos da conotao
de compromissos de amizade ou cooperao).
Da unio dos gn, fratrias e tribos surgiram as cidades como centro
de organizao poltica. Nelas conviviam diferentes grupos sociais: a aristo-
cracia, os artesos, os trabalhadores liberais (arautos, mdicos, etc), que ge-
ralmente mantinham profisses paternas, os pequenos proprietrios e os tra-
balhadores sem-terra e sem qualquer profisso especializada. Encontravam-se
ainda escravos. Essa forma de escravido se caracterizou por ser, naquele
momento, patriarcal ou domstica, em que o trabalho escravo era feito lado
a lado com seu proprietrio.
4
A aristocracia considerava-se descendente dos
deuses e conservava cuidadosamente sua genealogia como forma de garantir
condio privilegiada. No entanto, j comeava a ser importante tambm a
riqueza, e as propriedades passaram a ser vistas como fonte de poder.
A cidade grega no era a reunio de indivduos isolados, mas sim do
conjunto de gn e fratrias que a compunham e que nela eram representados
nos conselhos e nas assemblias. A organizao militar tambm era baseada
nos gn, fratrias e tribos que compunham a cidade. Havia um rei escolhido
entre os chefes de tribos, gn ou fratrias, que era elevado a tal posio por
apresentar a melhor genealogia dentre todos. No entanto, esse rei era um
entre outros reis, j que todos os chefes tambm eram reis e tambm detinham
poder sobre aqueles que formavam seu gnos.
As decises polticas, militares e econmicas eram tomadas pelos con-
selhos, geralmente compostos dos chefes dos gn e fratrias, e as decises
mais importantes deviam ainda ser submetidas assemblia qual compa-
4 Segundo Thomson (1974b), podemos encontrar dois momentos na evoluo da socie-
dade escravista: um perodo inicial no qual o comrcio era pouco desenvolvido e a escra-
vatura era patriarcal visando suprir, principalmente, as necessidades imediatas. ainda
caracterstica desse momento a existncia de grande nmero de camponeses, pequenos
produtores e proprietrios de terra; e um perodo de desenvolvimento pleno da escravatura
no qual se desenvolveram o comrcio, a propriedade privada e as relaes monetrias.
Nesse momento, o escravo substitui o trabalhador livre e, diferentemente do momento
anterior - quando era utilizado principalmente para atender s necessidades imediatas -,
era, ento, utilizado para a produo de mercadorias. Caracteriza ainda esse momento a
polis como forma de organizao poltica.
25
reciam todos os cidados que pertenciam cidade. No entanto, essas assem-
blias ainda no contavam com a participao ativa do povo que a elas com-
parecia. Nas assemblias, de uma maneira geral, o povo mantinha-se calado,
e as decises - j tomadas pelo conselho e/ou pelo rei - eram levadas
agora, primordialmente, para serem ratificadas.
Assistiu-se, assim, ao surgimento da polis que, pela sua organizao
econmica, poltica e administrativa, caracterizou a civilizao grega. O pro-
cesso de surgimento dessa nova forma de organizao provocou no apenas
profundas transformaes na vida social, mas tambm alteraes fundamen-
tais nos hbitos e nas idias. Vernant (1981) aponta algumas dessas alteraes
dentre as quais duas podem ser destacadas. A primeira delas refere-se ao
reaparecimento da escrita, por volta do sculo IX a.C, com uma funo
completamente diferente da que tinha durante a civilizao micnica, quando
estava restrita aos escribas e vinculada ao aparelho administrativo. A escrita
reaparecia, agora, com a funo de divulgar aspectos da vida social e poltica,
tornando-se assim muito mais pblica. Era pblica no sentido de atender ao
interesse comum e no sentido de garantir processos abertos a toda a comu-
nidade, em oposio aos interesses exclusivos da estrutura palaciana qual
atendia no perodo anterior. A segunda dessas alteraes refere-se especia-
lizao de determinadas funes sociais. No cabia mais ao rei o comando
absoluto na tomada de todas as decises - fossem elas polticas, religiosas,
econmicas ou militares. As decises passaram a ser tomadas no mais de
maneira absolutamente individual, mas dependiam da discusso e do apoio
dos conselhos e at da assemblia. Dessa forma, as decises militares, pol-
ticas e econmicas passaram a ser vistas como fruto de decises humanas,
resultado de discusses e deliberaes dos homens e no de um nico rei
divino.
Essas caractersticas expressavam, j, dois aspectos da tomada de de-
ciso intimamente relacionados ao conceito de cidadania, que foi to funda-
mental no mundo grego: o carter humano e o carter pblico das decises.
Com isso, ampliou-se o controle dos destinos humanos pelos prprios homens
e o acesso de todos ao mundo espiritual e ao conhecimento, aos valores e
s formas de raciocnio, permitindo que tudo se tornasse sujeito crtica e
ao debate.
Essas caractersticas s se desenvolveriam plenamente, no entanto, bem
mais tarde. assim que se pode compreender o fato de que, ainda nesse
momento, as leis eram promulgadas e exercidas por aqueles que conheciam
a tradio e os mitos e que (por serem aparentados com os deuses) interpre-
tavam o presente e deliberavam de acordo com essa interpretao. A esse
respeito ilustrativa a afirmao de Glotz (1980):
26
Mediador dos homens junto aos deuses, o rei ainda representante dos deuses
entre os homens. Ao receber o cetro, recebeu tambm o conhecimento das
thmistes, essas inspiraes de origem sobrenatural que permitem remover to-
das as dificuldades e, especialmente, estabelecer a paz interior por meio de
palavras justas, (p. 35)
Assim, uma relao pessoal e intransfervel entre alguns homens e os deuses,
fosse no exerccio da justia, fosse no da religio (que regulava fortemente
as atividades humanas), controlava a vida de outros homens de maneira sub-
jetiva.
As obras de Homero {lixada e Odissia) e as de Hesodo (Os trabalhos
e os dias e Teogonia), alm de constiturem documentos importantes para o
entendimento histrico desse perodo, permitem descortinar caractersticas do
pensamento ento produzido.
Homero, que possivelmente viveu na Jnia no sculo IX a.C, retrata
em seus poemas Ilada e Odissia momentos diferentes. A Ilada mostra um
perodo de guerra (guerra de Tria 1280-1180 a.C), descrevendo o compor-
tamento de heris em luta. A Odissia retrata uma poca de paz (a vida
domstica, relaes familiares). Essa diferena de contedos e situaes ocor-
ridas com diferenas de um sculo explica-se, possivelmente, pelo fato de
os poemas homricos terem sido compilados ou redigidos aps existirem
como tradio oral.
5
A redao, aps vrios sculos dos acontecimentos que
os poemas retratam, possivelmente determina alteraes nos fatos histricos
apresentados e a dificuldade na delimitao precisa da poca a que se referem:
a Ilada apresenta caractersticas e fatos que se desenrolaram durante a civi-
lizao micnica; entretanto, difcil isol-los de fatos que seriam de pocas
posteriores; e a Odissia, possivelmente, retrata o perodo posterior: relata,
por exemplo, decises tomadas no mais por um rei, mas por assemblia de
nobres.
Hesodo nasceu em Ascra, na Becia, e viveu entre o final do sculo
VIII a.C. e incio do sculo VII a.C. No poema Os trabalhos e os dias
descreve a vida campestre, a vida vinculada ao trabalho, e na Teogonia prope
uma genealogia dos deuses e do mundo.
W. Jaeger (1986) faz uma anlise de tais obras a partir da qual se pode
depreender a importncia que elas tm. Homero e Hesodo escreveram a
partir de locais sociais diferentes; enquanto Homero tem sua obra marcada
pela descrio da vida e do mundo do ponto de vista da aristocracia e da
nobreza e dirigida a elas, Hesodo coloca-se sempre numa perspectiva que
5 Tal diferena tambm explicada pela possibilidade de Homero no ter existido, ou
de existir mais de um Homero.
27
prpria das camadas populares - especialmente os camponeses. Essa dife-
rena marca as distintas concepes desenvolvidas por eles.
Homero associava a noo de homem noo de virtude que, de al-
guma forma, definia o prprio homem. No entanto, as virtudes eram sempre,
para Homero, virtudes que s podiam ser encontradas entre os aristocratas,
seja porque eram em si tpicas dessa camada social, seja porque s podiam
ser desenvolvidas por aqueles que de nascimento as possuam. A fora, a
destreza e o herosmo eram virtudes a serem buscadas e desenvolvidas por
homens que j as possuam em germe, por nascimento. A elas se associava
a altivez, o direito que alguns possuam (os nobres, os virtuosos) honra e
a serem reconhecidos como tal. Essas qualidades permitiam ao homem atuar.
Este devia ainda desenvolver seu esprito e, assim, adquirir as capacidades
da reflexo. O reconhecimento, por parte da comunidade, das virtudes e hon-
radez de um homem, e, mais, o reconhecimento pblico disso, era funda-
mental como medida desse homem - um homem era to mais virtuoso quanto
mais pudesse demonstrar e encontrar reconhecimento disso entre seus pares.
J Hesodo associava concepo de homem a noo de que apenas
pelo trabalho se atingia a virtude. O trabalho - apesar de rduo e difcil -
no devia ser visto como uma carga, mas como a forma propriamente humana
e absolutamente necessria de se atingir a virtude. Assim, em vez de pensar
o homem como um guerreiro, pensava-o como um trabalhador. No associava
trabalho acumulao desenfreada de riquezas e no o associava com a
misria do trabalho mal pago, mas apenas com a dignidade da produo de
uma existncia virtuosa. O utra noo central sua concepo de homem era
a de justia. Enquanto entre os animais imperava o direito do mais forte,
assumia que entre os homens imperava o direito de justia. Para Hesodo,
essa era a distino fundamental que marcava os homens e que devia ser
buscada. O direito que assegurava a justia era de todos os homens e, asso-
ciado ao trabalho, os trazia de volta a uma ordem natural na qual era possvel
encontrar uma vida satisfatria e virtuosa.
Se a concepo de homem distingue de maneira radical Homero e He-
sodo, isso traduz a realidade de uma sociedade em que a vida dos indivduos
era marcada por profundas diferenas, dadas as condies sociais. No entanto,
Homero e Hesodo viviam um mesmo momento histrico em que todos os
gregos se emancipavam de velhas e arraigadas tradies e, a partir de uma
herana comum, preparavam um novo modo de viver.
O culto aos mortos, essencialmente ligado ao tmulo, interrompido
em funo das transformaes dos costumes causadas pela invaso dria e
pelas migraes; os ancestrais sobrevivem s nos mitos, e o culto no se
renova em torno de novos chefes devido ao novo hbito de incinerao dos
cadveres. Como afirma Brando (1986), "(...) a alma do morto, separada
28
para sempre do corpo, estava em definitivo excluda de seu domiclio e da
vida de seus descendentes, no havendo, portanto, nada mais a temer nem a
esperar da psique do falecido" (p. 120). O contato com grupos de origens e
costumes muito diferentes favorecia a ruptura com as velhas tradies; fazia
com que partissem do que eles tinham em comum com suas crenas religio-
sas. O s deuses perdiam sua sacralidade, ganhavam humanidade, podiam tor-
nar-se objeto de narrativa, afastando-se o mistrio. Assim, a religio dos
deuses tomava lugar da religio dos mortos.
a, talvez, que se encontre a explicao para a preocupao que era
comum a Homero e a Hesodo: aproximar os deuses dos homens, criar um
lao entre homens e deuses que tornasse a vida terrena mais racional e com-
preensvel.
A relao homem-deuses - estabelecida tanto por Homero como por
Hesodo - tem um duplo carter. De um lado, valorizava o homem, na medida
em que humanizava os deuses que tinham forma e sentimentos humanos e
na medida em que a ele cabiam as aes que possibilitavam o desenvolvi-
mento pleno de suas virtudes. De outro lado, estabelecia uma dependncia
dos homens em relao aos deuses, que eram vistos como imortais e com
poderes para interferir nas vidas humanas. Se isso submetia, de uma certa
forma, o homem s divindades, tambm dava significado vida humana que
passava a ser vista como tendo uma certa razo de ser.
O utro aspecto que marcou a relao homem-deuses, nos mitos de Ho-
mero e Hesodo, foi a busca da compreenso do Universo e de seus fen-
menos, por meio da ordenao dos deuses que passaram a ser vistos como
existindo dentro de uma certa ordem e segundo uma hierarquia que limitava,
inclusive, seus poderes sobre a vida humana.
Tais mitos, chamados cosmognicos ou teognicos, buscavam descre-
ver a ordem do Universo, do Cosmos, que era vista como surgindo a partir
do Caos, e de uma genealogia dos deuses. Essa preocupao com a origem
era abordada no mito de maneira que lhe prpria.
Em verdade, no princpio houve Caos, mas depois veio Gaia (Terra) de amplos
seios, base segura para sempre oferecida a todos os seres vivos, [para todos
os Imortais, donos dos cimos do Olimpo nevado, e o Trtaro (Abismo) bru-
moso, no fundo da Terra de grandes sulcos] e Eros, o mais belo entre os
deuses imortais, o persuasivo que, no corao de todos deuses e homens, trans-
torna o juzo e o prudente pensamento.
De Caos nasceram Erebo (trevo) e a negra Noite. E da Noite, por sua vez,
saram ter e Dia [que ela concebeu e deu luz unida por amor a seu irmo
Erebo.] Gaia logo deu luz um ser igual a ela prpria, capaz de cobri-la
inteiramente - Urano (Cu constelado) que devia oferecer aos deuses bem-
aventurados uma base segura para sempre. Ela ps tambm no mundo os altos
29
Montes, agradvel morada das Ninfas, habitantes de montanhas e vales. Ela
deu luz tambm a Ponto (Mar) de furiosas ondas, sem a ajuda do terno
amor.
(...)
Todos os que nasceram de Gaia e Urano, os filhos mais terrveis - o seu pai
lhes tinha dio desde o nascimento. Logo que nasciam, em lugar de os deixar
sair para a luz, Urano escondia todos no seio da Terra e, enquanto ele se
deleitava com esta m ao, a imensa Gaia gemia, sufocada nas suas entra-
nhas por seu fardo. Ela imagina ento uma artimanha cruel: produz uma
espcie de metal duro e brilhante. Dele faz uma foice grande, depois confia
seu plano a seus filhos. Para excitar sua coragem, lhes diz, com o corao
cheio de aflio: "Filhos sados de mim e de um pai cruel, escutai meus
conselhos e ns nos vingaremos de suas maldades, pois, mesmo sendo vosso
pai, ele foi o primeiro a maquinar atos infames". (Hesodo, Teogonia, 116-132,
153-210)*
Segundo Vernant (1973), no mito a noo de origem confunde-se com
nascimento e a noo de produzir com a de gerar, assim, "(...) a explicao
do devir assentava na imagem mtica da unio sexual. Compreender era achar
o pai e a me: desenhar a rvore genealgica" (p. 301). Por meio de nasci-
mentos sucessivos, frutos da unio de foras qualitativamente opostas ou do
confronto de tais foras, estabelecia-se a ordem no mundo e entre os deuses.
O mundo dos deuses refletia o mundo dos homens e, pela racionalizao dos
deuses e dos mitos, estabelecia-se uma racionalidade para a vida humana.
6
A hierarquia que Homero estabelecia entre os deuses e na qual atribua
um poder maior a Zeus parece apontar nessa direo. Citando Jaeger (1986):
Assim, vemos na llada um pensamento religioso e moral j bastante avanado
debater-se com o problema de pr em concordncia o carter originrio, par-
* N.E. - As citaes de textos dos prprios pensadores que esto sendo discutidos (ou
de algum em nome deles, como, por exemplo, no caso dos pr-socrticos) esto sempre
em itlico, a fim de distingui-las de outras citaes e lhes dar destaque.
6 Pode-se dizer que se encontra uma racionalidade no mbito do mito porque tanto o
mito como o pensamento racional buscam uma ordem no universo. Entretanto, essa racio-
nalidade est dentro dos limites do mito. A preocupao cosmologica dos primeiros jnicos,
considerados como iniciadores do pensamento racional, j est presente nos mitos teog-
nicos de Hesodo (como aponta Thomson [1974a] a partir dos trabalhos de Comford). Esses
mitos apresentam os elementos da natureza - como gua, terra, etc. - se confrontando ou
se segregando (e no mais se unindo sexualmente) para formar o cosmos, como faro
posteriormente os fsicos jnicos; entretanto tais elementos no mito mantm caractersticas
humanas que se perdero ao serem racionalizados. Assim, a transio do mito razo no
pode ser analisada como se uma mentalidade pr-racional fosse irredutvel racional.
30
ticular e local da maioria dos deuses com a exigncia de um comando unitrio
do mundo. (p. 56)
A causa que Hesodo encontrava para o trabalho como tendo sido, a
partir de um determinado momento, institudo pelos deuses (como fruto de
um ato que era considerado imoral - o roubo), assim como o estabelecimento
de uma genealogia clara para os deuses, em que se pode destacar o fato de
a deusa da Justia (Dike), representante de algo to importante, ser filha de
Zeus, o deus maior, tambm aponta para a busca de uma racionalidade entre
os deuses que, em ltima instncia, espelha a racionalidade do mundo, ao
mesmo tempo em que justifica e garante essa racionalidade. A esse respeito,
Jaeger (1986) afirma:
A identidade da vontade divina de Zeus com a idia do direito e a criao de
uma nova personagem divina, Dike, to intimamente ligada a Zeus, o deus
supremo, so a imediata conseqncia da fora religiosa e da seriedade moral
com que a nascente classe camponesa e os habitantes da cidade sentiram a
exigncia da proteo do direito, (p. 68)
Essa racionalidade mtica envolve uma ambigidade: "() operando
sobre dois planos, o pensamento apreende o mesmo fenmeno, por exemplo,
a separao da terra das guas, simultaneamente como fato natural no mundo
visvel e como gerao divina no tempo primordial" (Vernant, 1973, p. 300).
Caber ao perodo que se segue superar a ambigidade contida no mito e
dar um novo carter elaborao do pensamento.
31
CAPITULO 2
O MUNDO TEM UMA RACIO NALIDADE,
O HO MEM PO DE DESCO BRI-LA
O perodo arcaico estendeu-se do sculo VII ao sculo VI a.C. e ca-
racterizou-se, principalmente, pelo desenvolvimento &plis em torno da qual
passou a girar a civilizao grega.
As poleis, ou cidades-Estado, compreendiam a cidade em si e as terras
sua volta que garantiam a produo agrcola; elas se distinguiam por serem
unidades econmicas, polticas e culturais independentes entre si.
A economia mercantil, baseada no comrcio com outras cidades e po-
vos, foi uma caracterstica importante das cidades-Estado desse perodo. O s
gregos produziam e vendiam vinho, azeite e utenslios de cermica (desen-
volvida a princpio para transporte) e importavam cereais (que seu solo pobre
no produzia em quantidade suficiente) e metais. Essa economia se marcou,
pela primeira vez na Grcia, por ser uma economia monetria. Cunharam-se
moedas que eram usadas na troca de produtos e que representavam, tambm
(e segundo alguns autores, principalmente), a garantia e o smbolo de auto-
nomia econmica, poltica e cultural da polis.
Era nas grandes propriedades de terra que se produzia boa parte dos
produtos agrcolas comercializados. Essas grandes propriedades se concen-
travam nas mos da aristocracia, que aumentava seus domnios por meio da
obteno de novas terras de pequenos proprietrios individados.
Esses grandes proprietrios, medida que o comrcio se intensificou,
passaram tambm a possuir as oficinas responsveis pela produo dos ob-
jetos artesanais. Ao lado dessa aristocracia fundiria (que explorava, ainda,
minas e pedreiras existentes em suas terras), desenvolveu-se, nas cidades,
uma classe de comerciantes que, tendo enriquecido rapidamente, podia in-
clusive comprar terras. Por sua vez os pequenos proprietrios de terra pas-
saram por um processo de empobrecimento. Na cidade, os pequenos artesos,
os trabalhadores braais e os marinheiros formavam a plebe.
Nessa economia monetria, os laos polticos tornaram-se, cada vez
mais, laos entre aqueles que detinham a riqueza monetria (opondo-se aos
no detentores de riqueza), levando alguns autores, como, por exemplo, Glotz
(1980), a caracterizar esse perodo como uma plutocracia.
Ao lado dessas diferentes camadas sociais, cresceu bastante o nmero
de escravos que eram usados tanto na produo agrcola como na produo
de artigos artesanais. Por um lado, o aumento e a generalizao do trabalho
escravo - em substituio ao trabalhador livre e ao pequeno proprietrio -
levaram ao aviltamento dos ganhos e das condies de vida desses setores
e ao recrudescimento das lutas entre os ricos e as camadas intermedirias e
desprovidas. Por outro lado, foi essa larga utilizao do trabalho escravo que
permitiu aos cidados (pelo menos aos ricos) se liberarem do trabalho pro-
dutivo que passou a ser executado, fundamentalmente, pelos escravos.
As diferenas de interesses econmicos e polticos levaram necessi-
dade de que tambm as camadas intermedirias, os pequenos proprietrios,
os artesos e os trabalhadores livres se organizassem em partidos e passassem
a reivindicar reformas que atendessem a seus interesses.
As crises polticas assim geradas, ao lado de um aumento de populao,
deram origem tentativa de resolver economicamente o problema. Surgiu,
assim, o segundo movimento de colonizao na Grcia. Nesse perodo se
estabeleceram dois tipos de colnias: as que se caracterizavam como unidades
de produo agrcola e as que se caracterizavam como unidades comerciais
de contato com outros povos e de entreposto para a compra e venda de
mercadorias. Apesar de originrias de um processo de colonizao, essas
colnias se constituram em cidades-Estado.
As crises deram origem, tambm, a tentativas de cunho propriamente
poltico, como foi o caso das reformas propostas por Solon (eleito para o
cargode arconte, em 594 a.C). Destacam-se, entre as reformulaes ento
realizadas: libertao das pessoas escravizadas por dvidas, liberao das ter-
ras perdidas por dvidas, abolio da escravido por dvidas, abolio do
direito de progenitura, regulamentao dos direitos polticos e dos encargos,
segundo a riqueza e no mais segundo a origem nobre, e extenso do direito
do voto, na Assemblia, a todos os cidados.
dentro desse quadro que se deve compreender a reivindicao pri-
meira do partido no oligrquico por leis escritas, como forma de garantir
que fossem conhecidas por todos e como forma de fugir do arbtrio dos
oligarcas, que at ento as interpretavam subjetivamente e de acordo com
seus interesses. Segundo Glotz (1980),
O s chefes dos grandes gn perdiam para sempre o privilgio de determinar e
interpretar segundo seu arbtrio as formas que deviam pautar a vida social e poltica.
(...) De uma s vez, alua o regime gentlico, corrodo na base. Estabelecia-se uma
34
relao direta entre o Estado e os indivduos. A solidariedade da famlia, tanto
na forma ava como na passiva, j no tinha razo de ser. (p. 88)
A identidade poltica e econmica da polis levou ao desenvolvimento
da noo de cidadania e democracia, sendo o cidado responsvel pela par-
ticipao ativa nas decises e organizaes da sociedade. A noo de cida-
dania, entretanto, aprofundou tambm a diferenciao entre cidados, de um
lado, e, escravos, mulheres e estrangeiros, de outro, estes sem poder decisrio
e sem direito participao.
Imerso nesse complexo conjunto de relaes e diferenciaes entre ati-
vidades, entre grupos, entre indivduos, e nas diversas formas e nveis de
organizao implicados na vida da polis, o homem grego tornava-se capaz
de transpor para o pensamento as vrias instncias presentes em sua vida:
tornava-se capaz de reconhecer como distintos o prprio homem, a sociedade,
a natureza, o divino; tornava-se capaz de refletir no conhecimento que pro-
duzia as abstraes que, cada vez mais, marcavam as vrias instncias de
sua vida (como, por exemplo, a abstrao envolvida no uso da moeda), to
distantes do mundo que se limitava a contatos prticos, sensveis, que se
limitava aos laos tangveis de parentesco reproduzidos no mito; e tornava-se
capaz de associar o conhecimento com discusso, com debate, com a possi-
bilidade do diferente, da divergncia, impossveis dentro do mundo que havia
dado origem ao conhecimento mtico, marcado pelo dogmatismo, pela pre-
tenso ao absoluto. Assim, por exemplo, a prpria vida social das cidades-
Estado passou a ser objeto de reflexo; o debate pblico nelas desenvolvido
levava, segundo Vernant (1981), discusso da ordem humana, procurando
defini-la em si mesma e traduzi-la em frmulas acessveis inteligncia. As
explicaes sobre a natureza buscavam, tambm, a descoberta de uma ordem
que lhe fosse prpria; a partir de ento, o universo deveria ser explicado sem
mistrios, e o entendimento que dele se tinha devia ser suscetvel de ser
debatido publicamente, como todas as questes da vida corrente. E, mais que
isso, um entendimento que pudesse ser submetido a uma crtica no nvel do
prprio conhecimento: a apreenso do mundo, com toda a complexidade que
ento manifestava, deveria ser expressa em um discurso coerente internamente.
O desenvolvimento da polis constitua, assim, fator fundamental para
o nascimento do pensamento racional: criava as condies objetivas para que,
partindo do mito e superando-o, o saber fosse racionalmente elaborado e para
que alguns homens pudessem se dedicar elaborao desse saber.
Na tentativa de caracterizar as principais concepes filosficas que se
desenvolveram nesse perodo, sero destacados os pensamentos de Tales,
Anaximandro, Anaxmenes (que compem a escola de Mileto); Pitgoras,
Parmnides, Herclito e Demcrito.
35
TALES (625-548 a.C. aproximadamente)
ANAXEVIANDRO (610-547 a.C. aproximadamente)
ANAXMENES (585-528 a.C. aproximadamente)
Como nossa alma, que ar, soberanamente nos mantm uni-
dos, assim tambm todo o cosmo sopro e ar o mantm.
Anaxmenes
Foi na Jnia, situada na sia Menor, onde primeiramente tais concep-
es se desenvolveram e se pode compreender tal fato ao se considerar que,
com a invaso dos drios, essa regio foi colonizada pelos jnios em con-
dies que eram especiais.
De um lado, a sia Menor era, j antes disso, uma regio densamente
povoada e de solo pobre. O s gregos que l chegaram e que originariamente
se organizaram em regime gentlico absorveram em suas fratrias e gn gru-
pos de outras nacionalidades, ampliando assim a noo de comunidade, ga-
rantindo a paz e criando condies para que se libertassem, antes de outras
regies, de determinadas tradies. Por outro lado, as condies da regio,
de solo muito pobre, exigiam a criao de cidades voltadas para a indstria,
o comrcio e o intercmbio com outros pases, o que tambm contribuiu para
que a se operassem, mais cedo que em outros lugares, determinadas trans-
formaes. Assim, nessas cidades, a riqueza mobiliria desempenhou, desde
cedo, papel preponderante sobre a aristocracia baseada na propriedade fundiria,
estando o poder nas mos de uma aristocracia mercantil e industrial, para a qual
era extremamente importante o desenvolvimento de novas tcnicas a serem apli-
cadas na produo de mercadorias, na navegao e no comrcio. Caracterizando
essa situao vivida na Jnia, nesse perodo, Bonnard (1968) afirma:
Proprietrios de vinhas ou de terras cerealferas; artesos que trabalham o ferro,
fiam a l, tecem os tapetes, tingem os estofos, fabricam as armas de luxo,
mercadores, armadores e marinheiros - estas trs classes que lutam umas contra
as outras pela posse dos direitos polticos so arrastadas pelo movimento as-
cendente que leva o seu conflito a produzir invenes constantemente renova-
das. Mas so os comerciantes, apoiados pelos marinheiros, que cedo tomam o
comando da corrida. So eles que, alargando as suas relaes do mar do Norte
ao Egito e, para O cidente, at a Itlia meridional, apanham no Velho Mundo
os conhecimentos acumulados ao acaso pelos sculos e vo fazer com eles
uma construo ordenada, (p. 78)
A essas caractersticas, Farrington (1961) adiciona o fato de que o escravismo
no estava a to desenvolvido a ponto de se menosprezar a realizao de
atividades prticas.
36
Circunstncias peculiares para romper com a antiga forma de viver e
transformaes sociais to grandes permitem compreender surgimento e o
desenvolvimento em Mileto, uma das principais cidades da Jnia, das con-
cepes de Tales, Anaximandro e Anaxmenes, os principais pensadores da
escola de Mileto. Pouco se sabe sobre a vida desses filsofos, e o conheci-
mento que produziram chega at ns por meio de relatos de outros filsofos
gregos e de alguns fragmentos do livro de Anaximandro e do de Anaxmenes.
Atribui-se a Tales (o fundador da Escola de Mileto) e a Anaximandro parti-
cipao poltica ativa em Mileto e o desenvolvimento de conhecimentos em
astronomia, matemtica, geometria; atribui-se, inclusive, a Tales a introduo
da matemtica na Grcia (possivelmente, a divulgao e o desenvolvimento
de conhecimentos que adquiriu com os egpcios) e a Anaximandro a elabo-
rao de um mapa do mundo.
A marca que esses filsofos deixaram na histria da filosofia grega
devida, principalmente, s explicaes que elaboraram sobre a origem e com-
posio do universo, e cada um deles buscou essa origem em elementos
diferentes^
//Tales/acreditava ser a gua o elemento primeiro:
A maior parte dos primeiros filsofos considerou como princpios de todas as
coisas unicamente os que so da natureza da matria. (...) Quanto ao nmero
e natureza desses princpios, nem todos pensam da mesma maneira. Tales,
o fundador de tal filosofia, diz ser a gua (e por isso que ele declarou
tambm que a terra assenta sobre a gua), levado sem dvida a essa concepo
por observar que o alimento de todas as coisas mido e que o prprio quente
dele procede e dele vive (ora, aquilo donde as coisas vm , para todas, o
seu princpio). Foi desta observao, portanto, que ele derivou tal concepo,
como ainda do fato de todas as sementes terem uma natureza mida e ser a
gua, para todas as coisas midas, o princpio da natureza. (Aristteles, Me-
a/w/cO j_Ij3)
Anaximandro)no identificava a origem em nenhum elemento obser-
vveT^fnasjnueleHento indeterminado, do qual se formariam todos os demais
elementos e ao qual voltariam, o que possibilitava a suposio da criao
infinita de mundos sucessivos:
.
I k Dentre os que afirmam que h um s princpio, mvel e ilimitado, Anaximan-
K
J^ dro, filho de Praxiades, de Mileto, sucessor e discpulo de Tales, disse que o
J . P peiron (ilimitado) era o princpio e o elemento das coisas existentes. Foi o
\ \ rW primeiro a introduzir o termo princpio. Diz que este no a gua nem algum
\}\ dos chamados elementos, mas alguma natureza diferente, ilimitada, e dela
nascem os cus e os mundos neles contidos. (...) E manifesto que, observando
a transformao reciproca dos quatro elementos, no achou apropriado fixar
37
um destes como substrato, mas algo diferente, fora estes. No atribui ento a
gerao ao elemento em mudana, mas separao dos contrrios por causa
do eterno movimento. (...) Contrrios so quente efrio, seco e mido e outros.
(...) Segundo uns, da unidade que os contm, procedem, por diviso, os con-
trrios,
/
g6m~tHz Anaximandro. (Simplcio, Fsica, 24, 13)
Anaxmenes, possivelmente sintetizando as concepes de Tales e Ana-
xirnftttdro, prnpwrfia como origem de todas as coisas um elemento ilimitado
mas sensvel - o ar - e especificava os processos pelos quais desse elemento
- do uno - se originavam todos os fenmenos, a multiplicidade:
Anaxmenes de Mileto, filho de Euristrates, companheiro de Anaximandro, afir-
*// ma tambm que uma s a natureza subjacente, e diz, como aquele, que
O f ilimitada, no porm indefinida, como aquele (diz), mas definida, dizendo que
ela o ar. Diferencia-se nas substncias, por rarefao e condensao. Ra-
refazendo-se, torna-se fogo; condensando-se, vento, depois, nuvem, e ainda
mais, gua, depois terra, depois pedras, e as demais coisas (provm) destas.
Tambm ele faz eterno o movimento pelo qual se d a transformao. (Sim-
plcio, Fsica, 24, 26)
Esses pensadores, apesar das diferenas nas explicaes por eles ela-
boradas, caracterizaram-se por iniciar uma nova forma de ver o mundo -
suas explicaes se constituram no primeiro momento de ruptura com o
mito. Ruptura porque, mesmo mantendo, em suas explicaes, elementos de
estrutura mtica (como, por exemplo, a busca da origem do universo em uma
unidade), introduziram aspectos que possibilitaram a elaborao do pensa-
mento racional: os fenmenos da natureza foram reconhecidos como tais e
a prpria natureza
1
, sua estrutura, foi assumida como o tema central a ser
investigado. Veraant (1973) assim caracteriza a inovao introduzida pela
escola de Mileto:
As foras que produziram e que animam o cosmo acham-se, portanto, sobre
o mesmo plano e do mesmo modo que aquelas que vemos operar cada dia
quando a chuva umedece a terra ou quando um fogo seca uma roupa molhada.
O original, o primordial, despojam-se do seu mistrio: a banalidade tranqili-
zadora do quotidiano. O mundo dos jnios, esse mundo "cheio de deuses",
tambm plenamente natural. (...) Tudo o que real Natureza. E esta natureza,
1 Conforme afirma Bornheim (1967), a utilizao da palavra natureza para expressar a
palavra grega physis pode ocasionar equvocos que dificultariam a compreenso do verda-
deiro significado do pensamento pr-socrtico; para evit-los preciso considerar que phy-
sis significava todo o existente, incluindo desde os fenmenos hoje considerados como da
natureza, estendendo-se ao homem, suas obras e atividades, at os deuses; e incluindo,
tambm, o processo de gnese e do devir de todo o existente.
38
separada do seu pano de fundo mtico, torna-se ela prpria problema, objeto
de uma discusso racional. A natureza, physis, fora de vida e de movimento.
(...) Compreender [nos mitos] era achar o pai e me: desenhar a rvore genea-
lgica. Mas, entre os jnios, os elementos naturais, tornados abstratos, j no
se podem unir por casamento, maneira dos homens. Assim, a cosmologia
no modifica somente a sua linguagem, mas muda de contedo. Em vez de
descrever os nascimentos sucessivos, definiu os princpios primeiros, constitu-
tivos do ser. De narrativa histrica, transforma-se em um sistema que expe a
estrutura profunda do real. (pp. 300-301)
Dessa forma, e ainda segundo Vernant ("19811. foram substitudas as
explicaes baseadas em agentes sobrenaturais que, por meio dos mitos, ex-
plicavam e justificavam a origem do mundo, sua composio e sua ordem
(como nas epopias homricas), por explicaes baseadas na prpria natureza
que, segundo essa nova forma de pensar, operava na sua origem da mesma
maneira que fazia todos os dias. O cotidiano que fornecia "os modelos
para compreender como o mundo se formou e se ordenou" (p. 74).
Eleger a natureza em seu prprio mbito como o tema a ser investigado
e como a fonte das respostas o aspecto que marca a ruptura com o mito:
"Tudo o que real Natureza". Como entender a presena de deuses -
"esse mundo cheio de deuses, tambm plenamente natural" - num mundo
assim concebido? Segundo Thomson (1974a), os jnios no estabeleciam
diferena entre o material e o no-material, entre o natural e o sobrenatural
e, "sem negarem a existncia dos deuses, assimilavam o divino com o mo-
vimento, propriedade que pensavam ser inerente matria" (p. 197). Isso,
possivelmente, que deve ter permitido o manter-se no mbito da natureza
para explicar sua origem, procurando essa explicao na sua composio, na
sua estrutura, e no em um incio de unies divinizadas ou antropomorfizadas,
bem como o buscar na prpria natureza explicaes para todos os processos
que nela ocorriam (por exemplo, tempestades, inundaes), vendo tais pro-
cessos como manifestaes de regularidades, libertos de quaisquer interven-
es alheias natureza.
Na produo desse conhecimento, os filsofos da Escola de Mileto
utilizaram, fundamentalmente, a observao de fenmenos naturais e foram,
ao mesmo tempo, capazes de ultrapassar o plano do sensvel: capazes de,
por meio de elaborao intelectual, analisar os fenmenos que estudavam
(isso , separar os elementos constitutivos desses fenmenos, identificar seus
atributos determinantes, suas caractersticas gerais), chegando a conceitos que
podiam ser generalizados. Em outras palavras, foram capazes de, partindo da
observao dos fenmenos da natureza, elaborar conceitos ou idias abstratas,
construindo, assim, as marcas do primeiro momento de ruptura com o pen-
samento mtico.
39
Uma sntese das caractersticas do pensamento dos primeiros filsofos
jnicos apresentada por Farrington (1961), a partir de uma caracterizao
de Plato:
A opinio que atribui ele (Plato) aos naturalistas jnicos a seguinte: os
quatro elementos, terra, ar, fogo e gua, existem todos natural e casualmente,
e nenhum por desgnio ou providncias. O s corpos que os sucederam, o sol,
a terra, as estrelas, originam-se daqueles elementos que so totalmente inani-
mados e se movem por uma fora imanente, segundo certas afinidades mtuas.
Dessa maneira foi criado todo o cu e tudo que nele h. Tambm as plantas
e os animais. As estaes tambm resultam de tais elementos e no da ao
de alguma mente, Deus ou providncia, mas natural e casualmente. A inteno
veio depois, independentemente delas, mortal e tem origem mortal. As diversas
artes, materializao da inteno, surgiram para cooperar com a natureza, dan-
do-nos artes como a medicina, agricultura e, ainda, a legislao, (pp. 33-34)
Em 494 a.C, com a invaso de Mileto pelos persas, o centro da cultura
transferiu-se para Itlia e Siclia, onde j existiam cidades-Estado gregas fun-
dadas, principalmente, a partir do sculo VIII a.C.
PITGORAS (580-497 a.C. aproximadamente)
E, de fato, tudo o que se conhece tem nmero. Pois impos-
svel pensar ou conhecer algumas coisas sem aquele.
Filolau
Nasceu numa ilha prxima a Mileto - Samos. Pouco se sabe sobre a
vida de Pitgoras, havendo, inclusive, muitas lendas associadas a ela. Sabe-se,
entretanto, que foi para Crotona (na Itlia), onde deu origem a um movimento
no s intelectual, mas tambm poltico e religioso que teve influncia no
pensamento grego posterior.
Pitgoras no deixou obras escritas e difcil distinguir as idias que
lhe so prprias, ou mesmo prprias do incio do movimento por ele origi-
nado, daquelas que foram j frutos do desenvolvimento de seus ensinamentos,
apresentadas por Filolau de Crotona (sculo V a.C.) e Arquitas de Tarento
(sculo IV a.C.) - filsofos pitagricos de cuja obra se encontram fragmentos.
H, entretanto, algumas noes que marcaram a proposio e o desenvolvi-
mento do pensamento pitagorico: a noo de nmero, a noo de harmonia
e a noo de alma.
Na busca da compreenso dos fenmenos do mundo, Pitgoras, como
os primeiros pensadores jnios, procurou explicar como se compunham o
mundo e as coisas nele existentes e, tal como eles, chegou a um elemento
como base de todos os fenmenos, s que, nesse caso, esse elemento era o
40
nmero. Para os pitagricos, o universo e todos os seus fenmenos eram
formados por nmeros:
(...) os chamados pitagricos consagraram-se pela primeira vez s matemti-
cas, fazendo-as progredir, e penetrados por estas disciplinas, julgaram que os
princpios delas fossem os princpios de todos os seres. Como, porm, entre
estes, os nmeros so, por natureza os primeiros, e como nos nmeros julga-
ram (os pitagricos) aperceber muitssimas semelhanas com o que existe e o
que gera, de preferncia ao fogo, terra e gua (...) alm disso, como
vissem nos nmeros as modificaes e as propores da harmonia e, enfim,
como todas as outras coisas lhes parecessem, na natureza inteira, formadas
semelhana dos nmeros, e os nmeros as realidades primordiais do Uni-
verso, pensaram eles que os elementos dos nmeros fossem tambm os ele-
mentos de todos os seres, e que o cu inteiro fosse harmonia e nmero.
(Aristteles, Metafsica, I, 5)
O nmero no era, assim, visto como um smbolo, mas sim como o
elemento que compunha a estrutura dos fenmenos da natureza; descobrir
como se constituam esses fenmenos era descobrir a relao numrica que
expressavam: "(...) Pois a natureza do nmero d conhecimento, guia e
mestre para cada um, em tudo o que lhe duvidoso e desconhecido. Se no
fosse o nmero e a sua essncia, nada das coisas seria manifesto a ningum,
nem em si mesmas, nem em suas relaes com outras " (Filolau, Fragmento
11). Como afirma Farrington (1961), essa concepo de nmero envolvia
mais que matemtica, ela constitua, tambm, fsica; o nmero era o elemento
que compunha o universo e era associado a elementos geomtricos:
Chamavam Um ao ponto, Dois linha, Trs superfcie e Quatro ao slido,
de acordo com o nmero mnimo de pontos necessrios para definir cada qual
dessas dimenses. O s pontos, para eles, tinham tamanho; as linhas, altura, e
as superfcies, profundidade. (...) A partir de Um, Dois, Trs e Quatro podiam
construir um mundo. No estranho, pois, que dez, a soma destes nmeros,
tenha um poder sagrado e onipotente, (p. 37)
Na base desse mundo estava, assim, o um, a unidade: "O um (unidade)
o princpio de tudo" (Filolau, Fragmento 8). Entretanto, diferentemente
dos primeiros jnios que acreditavam que da unidade surgia a multiplicidade
dos fenmenos, para os pitagricos essa unidade inicial era, ela prpria, for-
mada por dois princpios opostos: na unio de um par fundamental de opostos
- o limitado e o ilimitado - estava a origem do universo. O limitado e o
ilimitado davam origem a uma unidade, ao Uno - que estava na base de
todas as coisas - , e, ao mesmo tempo, representavam outros pares de opostos
(mpar-par, por exemplo), que compunham os fenmenos do universo. Dessa
forma, os nmeros pares so associados ao ilimitado, os nmeros mpares
41
ao limitado, mas a unidade, que tem o poder de transformar os pares em
mpares e os mpares em pares, composta de duas naturezas: do par e do
mpar. assim que Thomson (1974b) se refere concepo proposta por
Pitgoras, que - vendo na unidade a base de todas as coisas - v a prpria
unidade como uma dualidade:
O que inovador e revolucionrio o postulado de que o nmero a substncia
primordial. O par original, o limitado e o ilimitado, representa o nmero sob
os seus dois aspectos: par e mpar. Como substncia material, o nmero possui
extenso. A forma como este agregado de quantidades foi constitudo
no perfeitamente esclarecida, mas parece que se assimilava o ilimitado ao
vazio e que a primeira unidade absorvia uma poro do ilimitado, limitando-o
assim e simultaneamente dividindo-se em dois. Renovando-se o mesmo pro-
cesso, dois engendram trs e assim em seguida, (p. 115)
A compreenso desse universo - composto e formado por nmeros -
implicava, ento, o reconhecimento dos opostos presentes na prpria unidade,
mas opostos que se fundiam na unidade, que se harmonizavam; intimamente
relacionada noo de nmero como constitutivo dos fenmenos, desenvol-
veu-se a noo de harmonia. Pitgoras teria chegado noo de harmonia
por meio da msica, teria descoberto a relao entre o comprimento das
cordas e o som que elas, ao vibrar, produziam, o que tornava possvel en-
tender o som por meio de uma relao matemtica. Estendida ao universo
todo, a noo de harmonia significava a unio de elementos opostos, a pos-
sibilidade de "concordar" o que era "discordante", de juno de desiguais
em um nico todo harmnico. Nos fragmentos da obra de Filolau, encontra-se
assim caracterizada a harmonia:
As relaes entre a natureza e a harmonia so as seguintes: a essncia das
coisas, que eterna, e a prpria natureza, admitem, no o conhecimento hu-
mano e sim o divino. E o nosso conhecimento das coisas seria totalmente
impossvel, se no existissem suas essncias, das quais formou-se o cosmos,
seja das limitadas, seja das ilimitadas. Como, contudo, estes (dois) princpios
no so iguais nem aparentados, teria sido impossvel formar com eles um
cosmos, sem a concorrncia da harmonia, donde quer que tenha esta surgido.
O igual e aparentado no exige a harmonia, mas o que no igual nem
aparentado, e desigualmente ordenado, necessita ser unido por tal harmonia
que possa ser contido num cosmos. {Fragmento 6)
Harmonia a unidade do misturado e a concordncia das discordncias.
(Fragmento 10)
O nmero e a harmonia presidiam todo o universo pitagrico e torna-
vam esse universo cognoscvel. Pode-se dizer que eram, ao mesmo tempo,
42
a condio de existncia do universo, a condio de possibilidade de conhe-
cimento e a expresso de conhecimento verdadeiro:
(...) Se no fosse o nmero e a sua essncia, nada das coisas seria manifesto
a ningum, nem em si mesmas, nem em suas relaes com outras. (...) Nem
a natureza do nmero nem a harmonia abrigam em si a falsidade. Pois ela
no lhes prpria. (Filolau, Fragmento 11)
Inevitvel, ento, que as noes de nmero e harmonia fundamentassem
o conhecimento produzido pelos pitagricos, nas mais diferentes reas: na
msica (estudaram os intervalos harmnicos e as escalas musicais); na as-
tronomia (procuraram determinar o nmero e o movimento orbital dos pla-
netas e chegaram - possivelmente Filolau - a afirmar que a Terra era um
planeta mvel); e, especialmente, na matemtica. O s pitagricos desenvolve-
ram conhecimento matemtico j produzido pelos egpcios e babilnios e
elaboraram uma completa teoria dos nmeros. Ronam (1987) destaca alguns
traos e descobertas dessa teoria: a utilizao de nmeros figurados (repre-
sentao dos nmeros por meio de figuras geomtricas); o estabelecimento
de nmeros "perfeitos" ("iguais aos seus divisores separados, quando soma-
dos", por exemplo: 6 = 1+2+3); o estabelecimento de nmeros "amigveis"
("dois nmeros em que cada um igual soma dos fatores do outro", por
exemplo o par 220 e 284, possivelmente descoberto por Pitgoras e o nico
conhecido na Antigidade); o estudo das mdias aritmtica, geomtrica e
harmnica (pp. 75-76). Ronam (1987) destaca, tambm, o envolvimento dos
pitagricos no estudo das figuras geomtricas e aponta como a sua mais
importante contribuio, no campo da matemtica, o desenvolvimento do co-
nhecimento decorrente do teorema atribudo a Pitgoras, que conduziu aos
nmeros irracionais, bastante problemticos para a prpria concepo pita-
grica que via na unidade o elemento constitutivo de todo o cosmo:
De todo o conhecimento matemtico atribudo aos pitagricos, o mais impor-
tante foi decorrente do teorema de Pitgoras: o fato de que nem toda quantidade
pode ser expressa por nmeros inteiros. Porque, embora o lado maior ou hi-
potenusa de um tringulo retngulo possa ter seu comprimento expresso em
nmeros inteiros, na maioria das vezes isso no acontece; se pode ou no,
depende dos comprimentos dos outros lados. (...) Esse fato assustou os pita-
gricos e tambm os matemticos posteriores, uma vez que ameaava a idia
de ser a geometria o fundamento da matemtica, mas conduziu a um trabalho
mais cuidadoso e, desse modo, agiu como .estimulante, (p. 77)
Intimamente relacionada a essa concepo matemtica e fsica, a teoria
dos nmeros iniciada por Pitgoras continha um aspecto mstico; ao nmero
era associado um poder extraordinrio, pode-se dizer divino. E alguns n-
meros, em particular, manifestavam esse poder, como o caso do nmero
43
dez e sua representao geomtrica, que por vrias razes, entre elas a de
ser a soma dos quatro primeiros nmeros, tinha um significado especial:
Devem-se julgar as obras e a essncia do nmero pela potncia do nmero
dez (que est na dcada). Pois ela grande, completa tudo e causa tudo,
principio e guia da vida divina e celeste, como tambm da humana. (Filolau,
Fragmento 11)
Esse carter mstico no se desenvolveu independentemente do que se pode
considerar como a concepo fsico-matemtica do universo, ao contrrio,
associado a ela, deixou marcas no conhecimento produzido pelos pitagricos,
como pode ser ilustrado por este trecho, no qual Aristteles se refere a esses
pensadores:
Se nalguma parte algo faltasse, supriam logo com as adies necessrias, para
que toda a sua teoria se tornasse coerente. Assim, como a dcada parece um
nmero perfeito e parece abarcar toda a natureza dos nmeros, eles afirmam
que os corpos em movimento no universo so dez. E como os (corpos celestes)
visveis so nove, por isso conceberam um dcimo, a Anti-Terra. (Metafsica,
1,5)
O conhecimento e a religio estavam tambm intimamente relaciona-
dos: o conhecimento, revestido do carter de doutrina a ser revelada somente
aos membros do grupo religioso e, ento, de objeto de reflexo, de meditao,
era o caminho para a salvao. Esse era um dos aspectos que caracterizavam
o movimento religioso iniciado por Pitgoras e que ao mesmo tempo o dis-
tinguia do orfismo
2
, com o qual tinha muitas bases em comum. Tal como
os rficos, os pitagricos concebiam corpo e alma como distintos e a alma
como imortal; entretanto, para eles, a purificao da alma imortal seria atin-
gida por meio do conhecimento das coisas e do universo. A purificao plena,
porm, exigia um longo percurso e, assim como os rficos, os pitagricos
supunham que a alma transmigrava e que a sua purificao plena implicava
a sua libertao final do corpo; dessa forma, com a purificao plena, a alma
liberta do corpo - sua priso temporria - voltaria vida divina que origi-
nalmente partilhara.
O conhecimento parecia ter tambm, para os seguidores de Pitgoras,
papel no estabelecimento de uma vida social harmnica. As concepes po-
2 Movimento religioso, desenvolvido por volta dos sculos VII e VI a.C. Segundo Thom-
son (1974b), o orfismo teve sua origem na Trcia; nascido entre os camponeses, desen-
volveu uma teogonia muito semelhante de Hesodo e expandiu-se, com facilidade, nas
colnias gregas da Itlia e Siclia. O s rficos acreditavam na imortalidade da alma, na
transmigraao da alma at que atingisse a salvao, na iniciao religiosa e nos cultos
sagrados dedicados a Dionsio como meios de purificao.
44
lticas de Pitgoras e de seus primeiros seguidores tm sido assunto de
controvrsia: Pitgoras tem sido apresentado ora como defensor da aristocra-
cia fundiria, ora como defensor de uma democracia comercial, posio que
pode ser ratificada pelo fato de ele ser um estrangeiro em Crotona; apesar
dessa controvrsia sabe-se que, por algum tempo, os pitagricos detiveram
o poder poltico em Crotona e em algumas outras cidades. E, se o pensamento
de um pitagrico posterior pode indicar traos do pitagorismo inicial, pode-se
supor que o conhecimento era visto como um instrumento importante na
resoluo dos problemas sociais:
(...) Quando se conseguiu encontrar a razo, esta aumenta a concrdia fazendo
cessar a rebelio. J no h lugar para a competio, pois reina a igualdade.
Por seu intermdio podemos reconciliar-nos com nossas obrigaes. Devido
a ela, recebem os pobres dos poderosos e os ricos do aos necessitados, pois
ambos confiam em possuir mais tarde com igualdade. Regra e obstculo dos
injustos, faz desistir os que sabem raciocinar, antes de cometerem injustia,
convencendo-os de que no podem permanecer ocultos quando voltarem ao
mesmo lugar; aos que no compreendem, revela-lhes a sua injustia, impe-
dindo-os de comet-la. (Arquitas, Fragmento 3)
Com o movimento originado por Pitgoras, a elaborao do pensamento
racional alcana um maior poder de abstrao. Liberta dos aspectos msticos,
a noo de nmero fornecia o instrumental necessrio para que se pudesse
ir alm dos elementos sensveis, permitia abstraes com as quais se poderia
compreender o que fundamental na natureza, sem que isso implicasse que
o conhecimento obtido no se referisse prpria natureza - o nmero, em
ltima instncia material, era a estrutura das coisas. Aristteles, em uma das
vezes que se referiu aos pitagricos, ressaltou esta caracterstica:
Os que so chamados pitagricos recorrem a princpios e a elementos ainda
mais afastados que os dos fisilogos. A razo que eles buscam os princpios
fora dos sensveis. (...) No entanto, de nada mais discutem e de nada mais
tratam seno da natureza. Do gerao ao cu, observam o que se passa nas
suas diferentes partes e respectivas modificaes e revolues, e em tais fe-
nmenos eles esgotam os princpios e as causas, como se partilhassem a opi-
nio dos outros fisilogos, para quem o ser tudo o que sensvel, e contido
no que chamamos cu. (Metafsica, I, 8)
A noo de nmero, ligada existncia dos fenmenos, no afastava neces-
sariamente do contato direto com os objetos de estudo (como parecem indicar
os estudos sobre a msica, por exemplo) e, em funo de suas caractersticas
prprias - elemento no sensvel -, implicava a valorizao da razo na
produo de conhecimento.
45
Alguns autores (Hirschberger, 1969; Brun, s/d(a)) apontam, entre os
seguidores de Pitgoras, dois grupos: os que se ativeram aos aspectos
religiosos e msticos de sua concepo e os que se ativeram aos aspectos
cientficos e filosficos. Independentemente disso, a concepo de Pitgoras,
com suas diferentes facetas, exerceu influncia significativa sobre o pensa-
mento grego que se desenvolveu posteriormente.
HERCLITO (540-470 a.C.)
A rota para cima e para baixo uma e a mesma.
Herclito
Nasceu em feso, colnia grega da sia Menor; membro de uma fa-
mlia importante da aristocracia de sua cidade, Herclito criticou a democracia
e recusou-se a participar da vida poltica. De seu livro - Sobre a natureza
- chegaram at ns pouco mais que 120 fragmentos.
A concepo de Herclito apresenta alguns pontos em comum com as
da Escola de Mileto, principalmente a busca de um elemento nico que ex-
plicasse os fenmenos da natureza. Para alguns autores essa relao bastante
estreita; Mondolfo (1964), por exemplo, agrupa, sob o ttulo de escola jnica,
Herclito e os pensadores da escola de Mileto, j que, para ele, Herclito
desenvolveu os aspectos de maior importncia contidos nas concepes de
Tales, Anaximandro e Anaxmenes. Entretanto, tanto na forma de caracte-
rizar o elemento primordial quanto na maneira de caracterizar a forma de ser
do universo, Herclito introduziu tantas transformaes que se poderia afir-
mar que deu origem a um novo modo de pensar a natureza.
Herclito concebia o universo e todos os seus fenmenos como uma
unidade: "Conjuno o todo e o no-todo, o convergente e o divergente, o
consoante e o dissoante, e de todas as coisas um e de um todas as coisas"
{Fragmento 10). Entretanto, a afirmao de que "tudo um" {Fragmento
50) assume em sua concepo um carter completamente novo: a unidade
s existe enquanto processo, a unidade, no vista como algo que permanece
na imutabilidade, s permanece enquanto movimento de transformaes con-
tnuas: "O deus dia, noite, inverno, vero, guerra, paz, sociedade, fome;
mas se alterna como o fogo, quando se mistura a incensos, e se denomina
segundo o gosto de cada" {Fragmento 67). Havia no mundo uma lei, uma
3 Dentre os aspectos que Mondolfo (1964) aponta, destacam-se: de Tales, "o fluxo uni-
versal e a mobilidade da substncia eterna"; de Anaximandro, "o ciclo da gerao e da
destruio e o devir como desenvolvimento dos contrrios" e a concepo de unidade; de
Anaxmenes, "a distino de dois caminhos opostos" (p. 38).
46
racionalidade -Logos - que dirigia seu movimento constituindo a sua unidade
- "De todas (as coisas) o raio fulgurante dirige o curso" {Fragmento 64).
Era o fogo que permitia esse fluir, esse movimento: "Por fogo se tro-
cam todas (as coisas) e fogo por todas, tal como por ouro mercadorias e
por mercadorias ouro" (Herclito, Fragmento 90). O fogo assumia, assim,
o papel de elemento primordial: o elemento que possibilitava a transformao,
que expressava a lei que regia o universo. Como ressalta Thomson (1974b),
o fogo, aqui, representa "muito mais do que o fenmeno material conhecido
sob esta designao: ele o vivo, inteligente, o divino" (p. 138), e s pode
ser considerado como elemento primordial porque expressa essa lei, que
simbolizada com exatido pelo elemento cujo movimento contnuo mani-
festo e cujo contato transforma tudo. Mas no mais que um smbolo. A
realidade que ele envolve uma abstrao. Assim, em Herclito, a substncia
primordial da cosmologia milesiana perde todo o valor concreto para se tornar
numa idia abstrata, (pp. 136-137)
Na medida em que o fogo tudo transformava e tudo se transformava
em fogo, no havia oposio entre a unidade e a multiplicidade; todo fen-
meno era ao mesmo tempo uno e mltiplo: "Nos mesmos rios entramos e
no entramos, somos e no somos" (Herclito, Fragmento 49a). O s fenme-
nos podiam ser assim concebidos porque continham em si opostos que se
encontravam em perptua tenso, em perptua busca de equilbrio, em que,
a cada momento, predominava um dos plos dos contrrios em tenso; era
essa tenso dos opostos constituintes de um mesmo fenmeno que o mantinha
ao mesmo tempo diverso e uno, que o mantinha em constante movimento,
em constante transformao: "As (coisas) frias esquentam, quente esfria, mi-
do seca, seco umedece" (Herclito, Fragmento 126). Essa mudana, porque
era busca de equilbrio, era ordenada e expressava a harmonia presente em
todos os fenmenos da natureza. Mas no se tratava, aqui, da viso de har-
monia apresentada pelos pitagricos, que envolvia a dissoluo da oposio
na, por assim dizer, constituio da unidade. Mas, sim, tratava-se exatamente
de uma harmonia na qual a oposio persistia: "No compreendem como o
divergente consigo mesmo concorda; harmonia de tenses contrrias, como
de arco e lira" (Herclito, Fragmento 51). Tratava-se ento de reconhecer
a tenso de opostos que coexistiam em cada fenmeno e que constituam sua
unidade; era de foras opostas, em constante luta, que se operava, a um s
tempo, a diversidade e a unidade - que o dia se fazia noite e a noite se
tornava dia, que tornava a gua do mar potvel e impotvel, que atribua o
valor da sade somente em face da doena, o do repouso somente em face
da fadiga.
47
O universo dessa forma concebido era eterno: sem comeo - no havia
um momento no qual tivesse se originado - e sem fim - era fruto de perptua
transformao: "Este mundo, o mesmo de todos os (seres), nenhum deus,
nenhum homem o fez, mas era, e ser um fogo sempre vivo, acendendo-se
em medidas e apagando-se em medidas" (Fragmento 30). Se a noo de
eternidade, ao significar ausncia de incio, distinguia Herclito dos milesia-
nos, distinguia-o de Parmnides, ao significar tambm movimento, pois, ape-
sar de ambos suporem um universo eterno, para Herclito isso no implicava
um universo imvel, ao contrrio, a eternidade era decorrente de um movi-
mento contnuo. O movimento, sim, era a nica caracterstica imutvel do
universo: "O mesmo em (ns?) vivo e morto, desperto e dormindo, novo
e velho, pois estes, tombados alm, so aqueles e aqueles de novo, tombados
alm, so estes" (Fragmento 88).
Para Herclito, estas caractersticas do universo no se apresentavam
de pronto aos homens: "Natureza ama esconder-se" (Fragmento 123), o que
tornava o conhecimento um empreendimento que exigia atividade, que exigia
esforo: "Pois preciso que de muitas coisas sejam inquiridores os homens
amantes da sabedoria" (Fragmento 35). O desvendamento do movimento
do universo, da multiplicidade na unidade, do Logos, exigia que o homem
ultrapassasse o elemento sensvel imediato, que fosse alm do particular, ao
mesmo tempo em que afirmava a necessidade de se considerar as informaes
fornecidas pelos sentidos, pela observao do mundo exterior. Herclito afir-
mava que a verdade no transparecia nas coisas, no era apreendida na mera
aparncia, sem a razo a observao seria fonte de engano: "As (coisas) de
que (h) viso, audio, aprendizagem, s estas prefiro (Herclito, Fragmen-
to 55). Ms testemunhas, para os homens so os olhos e ouvidos, se almas
brbaras eles tm" (Herclito, Fragmento 107).
O Logos, presente em todo o universo, estava tambm presente no
homem: "Limites de alma no os encontrarias, todo caminho percorrendo;
to profundo logos ela-tem " (Herclito, Fragmento 45). O Logos como razo
humana era partilhado por todos os homens e a todos os homens permitia
conhecer, tanto o universo como a si mesmos: "Comum a todos o pensar"
(Herclito, Fragmento 113). Entretanto, nem todos os homens chegavam a
compreender a verdadeira racionalidade do universo, mesmo que a compreen-
so dessa racionalidade lhes fosse apresentada, ou seja, mesmo diante do
discurso (logos) que enuncia essa compreenso nem todos so capazes de
entend-lo e de, portanto, apreender a lei que rege o universo:
Desse logos sendo sempre os homens se tornam descompassados, quer antes
de ouvir quer to logo tenham ouvido; pois, tornando-se todas (as coisas)
segundo esse logos, a inexperientes se assemelham embora experimentando-se
48
em palavras e aes tais quais eu discorro segundo (a) natureza distinguindo
cada (coisa) e explicando como se comporta. Aos outros homens escapa quanto
fazem despertos, tal como esquecem quanto fazem dormindo. (Herclito, Frag-
mento 1)
Essa concepo pessimista com relao aos homens pode estar associada
posio aristocrtica de Herclito, que o levava, inclusive, a desconsiderar,
a menosprezar o homem comum e que, possivelmente, est tambm ligada
a sua descrena na democracia: "Um para mim vale mil, se for o melhor"
{Fragmento 49).
Elaborando com um maior grau de abstrao e complexidade o monis-
mo dos pensadores da escola de Mileto e rejeitando o dualismo de Pitgoras,
Herclito deu origem a uma nova maneira de conceber o universo e abordou
problemas relativos ao processo de produo de conhecimento, tema que foi
central no desenvolvimento do pensamento de Parmnides.
PARMNIDES (530-460 a.C. aproximadamente)
Indcios existem, bem muitos, de que ingnito sendo tambm
imperecvel, pois todo inteiro, inabalvel e sem fim.
Parmnides
Nasceu em Elia, foi discpulo de Pitgoras e legislador de sua terra
natal. Escreveu um poema - "Sobre a natureza" - do qual restam hoje in-
meros fragmentos. As concepes apresentadas por Parmnides e seus segui-
dores constituem o que chamado de escola eletica e refletem, possivel-
mente, a influncia do pensamento de Xenfanes de Colofo (sculo VI a.C),
considerado por vrios autores como o precursor de tal escola.
Para Parmnides, o Ser era algo pleno, contnuo, fixo, sem comeo e
sem fim - eterno, intemporal, indivisvel e imvel: "(...) indcios existem,
bem muitos, de que ingnito sendo tambm imperecvel, pois todo inteiro,
inabalvel e sem fim; nem jamais era nem ser, pois agora todo junto,
uno, contnuo" {Fragmento 8, 3-6). Ao afirmar que o que , e no pode
no-ser, Parmnides afirmava um ser j completo, nada mais a ele se poderia
acrescentar e nem retirar; no sujeito a nenhuma mudana, o Ser imutvel
era o limite do real e do possvel de ser pensado, no havia a possibilidade
de pensar qualquer coisa como no existindo, no havia a possibilidade de
pensar o "no-ser" e de, portanto, o "no-ser, ser":
Ento, pois, limite extremo, bem terminado , de todo lado, semelhante a
volume de esfera bem redonda, do centro equilibrado em tudo; pois ele nem
algo maior nem algo menor necessrio ser aqui ou ali; pois nem no-ente
, que o impea de chegar ao igual, nem ente que fosse a partir do ente
49
aqui mais e ali menos, pois todo inviolado; pois a si de todo lado igual,
igualmente em limites se encontra. (Fragmento 8, 42-49)
Ao apresentar essa concepo do Ser e ao afirmar que: "(...) pois o
mesmo o pensar e portanto o ser" (Fragmento 3)
4
, Parmnides introduzia
um aspecto que marcou uma alterao qualitativa na elaborao do pensa-
mento abstrato. Essa alterao qualitativa abarcava a transformao no objeto
do conhecimento e nos critrios de avaliao do conhecimento, produzido.
Transforma-se o objeto sobre o qual o pensamento racional deveria
refletir; esse no era mais a natureza enquanto tal, mas dever-se-ia buscar,
pode-se dizer, a sua essncia: buscar o Ser e seus atributos, o que exigia do
pensamento um maior grau de abstrao, uma feio nova de racionalidade.
Ao caracterizar o movimento de elaborao do pensamento racional e o pen-
samento de Parmnides dentro desse movimento, Vernant (1973) afirma:
Entre os jnios, a nova exigncia da positividade era erigida ao primeiro golpe
em absoluto no conceito de physis; em Parmnides, a nova exigncia de inte-
ligibilidade erigida em absoluto no conceito do Ser, imutvel e idntico. (...)
O nascimento da filosofia aparece, por conseguinte, solidrio de duas grandes
transformaes mentais: um pensamento positivo, excluindo toda forma de so-
brenatural e rejeitando a assimilao implcita, estabelecida pelo mito entre
fenmenos fsicos e agentes divinos, um pensamento abstrato despojando a
realidade desta fora de mudana que lhe conferia o mito, e recusando a antiga
imagem da unio dos opostos em beneficio de uma formulao categrica do
princpio de identidade, (p. 303)
Impunha-se, dessa forma, a necessidade de rigor no conhecimento, um
rigor que objetivava eliminar a contradio do pensamento - a possibilidade
de se pensar que o ser e no - e que, ao faz-lo, afirmava a identidade
do ser - "o ser ". Introduzia-se, assim, o princpio da no-contradio como
critrio para se avaliar o conhecimento produzido e, mais que isso,
como princpio mesmo que permitia a obteno do conhecimento verdadeiro
(s ele permitia que se apreendesse o ser em toda sua integridade) e, ao
mesmo tempo que introduzia esse princpio lgico, afirmava o princpio on-
tolgico da identidade do ser. Como afirma Bernhardt (1981):
4 Segundo Mondolfo (1964), a relao que Parmnides estabelece, neste e em outros
fragmentos, entre o ser e o pensar foi interpretada de duas diferentes maneiras: a primeira
afirma que para Parmnides a possibilidade de pensar e de, portanto, expressar algo era o
"critrio e prova da realidade" daquilo que foi pensado e expresso, j que "somente o
real pode ser concebido (e expresso) e o irreal no se pode conceber (nem expressar-se)";
a segunda afirma que para Parmnides era verdadeira "a tese de identidade do ser e do
pensar." A crtica contempornea reconheceu a primeira como representativa do pensa-
mento de Parmnides (1964, p. 81).
50
Se se segue estritamente essa regra (o princpio da no-contradio) e se seu
alcance estendido realidade, o caminho da lgica antologia ento per-
feitamente definido e seu resultado, sob a reserva de novos desdobramentos
(...) no sofre nenhuma contestao. Atentemos, todavia, para o fato de que ,
em sentido inverso, a lgica formal que surgiu da antologia: a necessidade de
um pensamento firme e consistente s se desenvolveu em correlao subordi-
nada com a necessidade religiosa de uma realidade objetivamente imutvel, (p. 41)
O pensamento racional assim concebido s poderia ser elaborado por
meio da razo, e, como afirma Thomson (1974b), por meio da razo pura,
j que o objeto de sua reflexo a pura abstrao. assim que se pode
entender a distino que Parmnides estabelecia sobre as duas vias para o
conhecimento: a via da Verdade e a via da O pinio.
5
A via da O pinio ou
da Aparncia, baseada nas informaes fornecidas pelos sentidos, podia for-
necer conhecimento sobre o mundo sensvel, mas, exatamente por capt-lo
como mltiplo, instvel e transitrio, era insuficiente e enganadora para
apreender a essncia desse mundo, o seu verdadeiro Ser. Este s seria apreen-
dido pela via da Verdade que, desprezando e recusando as informaes for-
necidas pelos sentidos, fundava-se no uso da razo:
Pois bem, eu te direi, e tu recebes a palavra que ouviste, os nicos caminhos
de inqurito que so a pensar: o primeiro, que e portanto que no no
ser, de Persuaso caminho (pois a verdade acompanha); o outro, que no
e portanto que preciso no ser, este ento, eu te digo, atalho de todo
incrvel; pois nem conhecerias o que no (pois no exeqvel), nem o
dirias... (Parmnides, Fragmento 2)
O pensamento de Parmnides - que se diferenciava e se opunha s
concepes milesianas, pitagricas e heraclitianas - exerceu grande influncia
no pensamento grego posteriormente desenvolvido. O problema que colocava
sobre a contradio unidade-multiplicidade na concepo do Ser e suas de-
corrncias para a produo de conhecimento passaram a constituir objeto de
reflexo indispensvel para os pensadores que o sucederam.
Essa contradio e as decorrncias que ela trazia para a produo de
conhecimento foram problemas centrais para seus discpulos, entre eles Zeno
de Elia (sculo V a.C). Zeno, respondendo s crticas feitas ao eleatismo
e combatendo as posies diferentes das desta escola, procurava demonstrar
5 Essa distino das duas vias tem gerado interpretaes controvertidas. Pode-se inter-
pret-la como negao do mundo sensvel, ou pode-se interpret-la como o reconhecimento
de um determinado tipo de conhecimento, no nvel do mundo sensvel, que, se no revela
a verdade do ser, pode, como afirma Thomson (1974b), preparar o caminho para sua
revelao.
51
a contradio inerente s noes de multiplicidade e de movimento, utilizan-
do-se para isso da anlise lgica: da aplicao do princpio da no-contradi-
o. Foi devido ao mtodo utilizado por Zeno para apresentar seu pensa-
mento - partindo da aceitao da afirmao que acabaria por negar, aps
apresentar as contradies presentes nela - que Aristteles o considerou o
iniciador da dialtica
6
. Segundo Bernhardt (1981),
A reflexo comea, assim, a se tornar filosofia e a dialtica de Zeno de Elia,
espcie de dilogo a uma s voz influenciado j pelo progresso da democracia,
anuncia a abertura de espirito e os confrontos de idias que marcaro, no sen-
tido restrito, o nascimento da filosofia, da disciplina que quer submeter um
trabalho de livre e clara demonstrao crtica de outrem. (p. 45)
A contradio unidade e multiplicidade na concepo de Ser e suas
implicaes para a produo de conhecimento foram tambm problemas cen-
trais para os que, buscando uma soluo diferente da do eleatismo, j no
poderiam faz-lo sem considerar as exigncias de rigor por ele estabelecidas.
Podem ser destacados como exemplos Anaxgoras de Clazmeas (sculo V
a.C.) e Empdocles de Agrigento (sculo V a.C), pensadores com concepes
que tambm diferiam entre si, mas que se aproximavam pela igual peculia-
ridade e importncia que suas doutrinas tiveram. Bernhardt, ao analisar esse
perodo da histria da produo de conhecimento, indica a importncia desses
dois pensadores: reconhece em Anaxgoras um possvel elo entre o desen-
volvimento do pensamento iniciado sob o impulso da escola de Mileto e as
diferentes concepes que marcaram o perodo seguinte (o perodo clssico);
reconhece em Empdocles a tentativa de incorporao de diferentes concep-
es elaboradas at esse momento, bem como a influncia que ele exerceu
com sua proposio dos quatro elementos constituintes do universo, influn-
cia que ultrapassou o perodo grego.
Procurando no incorrer no erro de desconsiderar exatamente as pecu-
liaridades das concepes de Anaxgoras e Empdocles e, ao mesmo tempo,
sem examin-las em detalhe, pode-se dizer que se aproximam tambm pela
tentativa de reafirmar a possibilidade de se reconhecer a pluralidade, sem
com isso abrir mo do rigor lgico que deveria caracterizar o conhecimento.
Anaxgoras reconhecia essa pluralidade nos prprios elementos constituintes
do universo: esses elementos eram infinitos e cada um deles continha, em
quantidades variadas, todos os opostos presentes no universo; um deles, mais
puro que os demais e sempre idntico - o Nous, o esprito - por meio de
sua ao, impulsionava o movimento dos demais elementos, levando-os a se
6 O termo dialtica deve ser entendido aqui tal como apresentado nas pginas 75-76.
52
combinarem das mais diferentes formas, originando assim os fenmenos do
mundo e suas transformaes. Dessa forma, todas as coisas continham todas
as coisas; "tudo contm uma parte de tudo", e todas eram igualmente divi-
sveis ao infinito. Empdocles, ao propor quatro elementos constituintes do
universo - a terra, o ar, a gua e o fogo -, tambm afirmava a pluralidade.
Esses elementos eram eternos, no continham incio e nem fim, idnticos a
si mesmos e, combinando-se, juntando-se ou separando-se, formavam a di-
versidade dos fenmenos do universo. A fonte propulsora dessa combinao
estava em duas foras opostas: o Amor, que impulsionava a juno, e o dio,
que impulsionava a separao. Dessa forma, Empdocles justificava a mul-
tiplicidade, presente j no processo de constituio do universo, ao mesmo
tempo em que caracterizava as "razes" do universo de forma semelhante ao
Ser de Parmnides.
Pode-se ainda destacar um outro trao comum entre esses dois pensa-
dores, trao, que, segundo Thomson (1974b), foi caracterstico da tentativa
de justificar a multiplicidade do mundo:
Para reafirmar a realidade do mundo material, era necessrio encontrar uma
causa para o movimento. At a supunha-se que o movimento era uma pro-
priedade da matria. Mas da em diante h uma tendncia cada vez mais forte
para sustentar a hiptese inversa, segundo a qual a matria em si mesma
inerte e s se move sob a influncia de qualquer fora exterior (...). (p. 174)
E essa preocupao com o movimento marcar tambm a concepo atomista,
que ir explic-lo no mais como produzido pelo dio ou amor, ou pelo
esprito, mas como possibilitado pela existncia do no-ser, do vazio, no qual
o ser, o tomo, estaria em contnuo movimento.
DEMCRITO (460-370 a.C. aproximadamente)
Por conveno h a cor, por conveno h o doce, por
conveno h o amargo, mas na realidade os tomos e o vazio.
Demcrito
Nasceu em Abdera, colnia grega na costa da Trcia. Demcrito estu-
dou os mais diversificados assuntos (entre eles: biologia, astronomia, mate-
mtica, fsica, moral) e parece ter escrito vrios livros, de alguns deles restam
hoje um conjunto de fragmentos. Demcrito foi discpulo de Leucipo de
Mileto (sculo V a.C.) e deu continuidade teoria dos tomos por ele pro-
posta, desenvolvendo uma concepo de mundo que, pode-se dizer, reassume
o monismo milesiano e, dentro desse mbito, reafirma os atributos do Ser,
tais como Parmnides os via. Como afirma Bernhardt (1981) "o atomismo,
53
como doutrina monista e to pouco mstica quanto possvel, exprime uma
vontade de renovao do naturalismo jnico e encontra o meio dessa reno-
vao na adoo, cuidadosamente transposta, do rigor parmenidiano" (p. 53).
Para Demcrito o universo era composto por um nmero infinito de
partculas finitas de tomos. O s tomos - pontos materiais, corpsculos in-
divisveis - existiram sempre e eram indestrutveis e imutveis; idnticos uns
aos outros quanto sua natureza (substncia), os tomos poderiam diferir
quanto ao tamanho, posio, ordem e forma. O vazio, que era infinito, existia
somente fora dos tomos, j que estes eram plenos, e era condio para seu
movimento:
Leucipo (...) e o seu amigo Demcrito reconhecem como elementos o pleno e
o vazio, a que eles chamam o ser e o no-ser; e ainda, desses princpios, o
pleno e o slido so o ser, o vazio e o raro o no-ser (por isso-afirmam que
o ser no existe mais do que o no-ser, porque nem o vazio [existe mais] que
o corpo), e estas so as causas dos seres enquanto matria. E como aqueles
que afirmam ser una a substncia como sujeito formam todos os outros seres
das modificaes dela, pondo o raro e o denso como princpios das modifi-
caes, da mesma maneira tambm estes filsofos pretendem que as diferenas
so as causas das outras coisas. So, segundo eles, estas trs: a figura, a
ordem e a posio. (...) Assim A difere de N pela figura, AN de NA pela
ordem e Z f e N pela posio. (Aristteles, Metafsica, I, 4)
O s tomos, movimentando-se no vazio, em toda e qualquer direo, entre-
chocavam-se, juntavam-se e separavam-se ao acaso, dando origem a diferen-
tes agrupamentos, constituindo os diferentes fenmenos do universo. O acaso
significava, aqui, ausncia de finalidade, recusa de qualquer concepo te-
leolgica, e no a negao da existncia de causas: "Demcrito dizia que
preferia descobrir uma etiologia a possuir o reino dos persas" {Fragmento 118).
Demcrito explicava, assim, por meio das noes de tomo e vazio, a
formao do mundo, supondo inclusive, e pelas mesmas razes, a possibili-
dade de existncia de um nmero infinito de outros mundos. A formao da
Terra explicava-se pelo encontro de tomos que, por serem maiores que ou-
tros, tendiam para o centro e que, num movimento turbilhonante, juntavam-se
e expulsavam para outras regies os tomos menores. Explicando dessa forma
a composio do mundo, eliminava-se a existncia de um momento da cria-
o, ou de qualquer interferncia no material em sua formao. Da mesma
forma explicava-se a formao de todos os fenmenos do universo, inclusive
o homem. A vida e a alma eram formadas por um tipo especial de tomo
esfrico, capaz de movimentar-se muito rapidamente - os tomos do fogo.
Esses tomos, em permanente movimento, estavam espalhados por todo o
corpo, saam dele ou entravam nele por meio da respirao, mantendo-o vivo
e em movimento at que se dispersassem; o que implicava uma viso de
54
homem absolutamente material e natural e a negao de uma vida aps a
morte.
Baseado tambm na noo de tomo, Demcrito desenvolveu uma con-
cepo sobre o processo de conhecimento. Para ele as sensaes, apesar de
dependerem de objetos externos, no eram representativas desses objetos:
Por conveno existe o doce e por conveno o amargo, por conveno o
quente, por conveno o frio, por conveno a cor; na realidade, porm, to-
mos e vazio (...). Ns, porm, realmente nada de preciso apreendemos, mas
em mudana, segundo a disposio do corpo e das coisas que nele penetram
e chocam. {Fragmento 9)
Essa afirmao s pode ser completamente entendida no mbito da teoria
dos tomos; o sensvel, o contato com os objetos e as informaes prove-
nientes desse contato eram, como todos os demais fenmenos, explicados
como movimento de tomos do objeto percebido que se chocavam com to-
mos do rgo perceptor ou que passavam por ele, indo chocar-se com os
tomos da alma. O que significava que a sensao dependia tambm do su-
jeito, produzia modificaes nele, e as informaes que fornecia dos objetos
no traduziam os objetos tais quais eram, o que a tornava uma via pouco
confivel para apreender os fenmenos. Isso aproximaria Demcrito de uma
posio ctica da possibilidade de conhecer, se com a sensao se esgotassem
as possibilidades de conhecimento. Entretanto, segundo ele, existiam dois
tipos de conhecimento: o "obscuro", que era produto da sensao e a partir
do qual o homem percebia as qualidades dos objetos, tais como a cor e o
sabor; e o "genuno", que era alcanado pela mente, pela razo e que pos-
sibilitava a descoberta dos tomos e do vazio - a verdadeira realidade dos
fenmenos.
H duas espcies de confiecimento, um genuno, outro obscuro. Ao conhecimento
obscuro pertencem, no seu conjunto, vista, audio, olfato, paladar e tato. O co-
nhecimento genuno, porm, est separado daquele. Quando o obscuro no pode
ver com a maior mincia, nem ouvir, nem sentir cheiro e sabor, nem perceber
pelo tato, mas -preciso procurar mais finamente, ento apresenta-se o genuno
que possui um rgo de conhecimento mais fino. {Fragmento 11)
O conhecimento verdadeiro era, portanto, possvel, mas exigia outra
via que conseguisse superar os limites impostos pela sensao; porm, mesmo
essa outra via (qualquer que seja a denominao que lhe do diferentes au-
tores: esprito, pensamento, razo, inteligncia) dependia tambm da existn-
cia de objetos externos afetando o sujeito que conhece.
Pois se nem capaz de comear sem a evidncia, como poderia ser digno de
f fundamentando-se naquela que lhe fornece os princpios? Ciente disso, tam-
55
bm Demcrito, quando ataca as aparncias dizendo: Por conveno h cor,
por conveno h o doce, por conveno h o amargo, mas na realidade os
tomos e o vazio, imagina os sentidos respondendo inteligncia: Pobre in-
teligncia, em ns encontras as provas e nos derrubas! Para ti derrubar-nos
cair. (Fragmento 125)
Segundo Bonnard (1968), ao explicar sua teoria do conhecimento, Demcrito
opta por "um sensualismo materialista", mas no sem encontrar dificuldades
e mesmo incorrer em contradies, algumas delas reconhecidas pelo prprio
Demcrito, como indicaria o ltimo fragmento citado. Bernhardt (1981) tem
a esse respeito uma opinio diferente: no fala em contradies, mas sim em
uma tentativa de unir, sem confundi-los e estabelecendo entre eles uma hie-
rarquia, "um empirismo sensualista e um dogmatismo do pensamento supra
(ou infra) sensvel" (p. 56).
Com as concepes de Demcrito, a tentativa de os pensadores da es-
cola de Mileto de reconhecer a natureza como nica fonte de problemas e
de respostas - tentativa que caracterizou o primeiro momento de ruptura com
o pensamento mtico - parece atingir sua mais completa expresso. Com
Demcrito anuncia-se j, segundo Thomson (1974b), a noo de lei natural:
toda e qualquer determinao passa a ser compreendida dentro do mbito da
natureza. E, nesse caso, a lei natural expressa uma dada concepo de cau-
salidade: com a necessidade de uma fora exterior ao ser para explicar o
movimento, a determinao que a lei descreve toma j as feies de deter-
minao mecnica.
No mbito do processo de elaborao de conhecimento, a soluo ato-
mista coloca problemas que, pode-se dizer, apontam os limites da prpria
soluo proposta. Segundo Bernhardt (1981),
A vontade de no contundir o uno e o mltiplo obrigava de fato os atomistas
a renunciar noo de sntese (ou de unidade de uma pluralidade) e, por
conseqncia, a dissolver teoricamente a especificidade dos fenmenos num
convencionalismo desprovido de fundamento; eles no podiam reconhecer que
o fenmeno enquanto tal possui uma certa espcie de realidade que preciso
situar e explicar, (p. 57)
56
CAPITULO 3
O PENSAMENTO EXIGE MTO DO ,
O CO NHECIMENTO DEPENDE DELE
Durante o perodo clssico (sculos V e IV a.C), como nos anteriores,
o desenvolvimento das vrias regies da Grcia foi desigual, tanto na orga-
nizao econmica como poltica. Algumas cidades-Estado da Grcia, no en-
tanto, atingiram, nesse perodo, seu mais alto grau de desenvolvimento: dentre
essas cidades destaca-se Atenas.
Nessas poleis - em especial em Atenas - atingiram-se, nesse perodo,
o aprofundamento e a consolidao da democracia grega, que permanecia
fundada no trabalho escravo e acabava por implicar o desprezo dos cidados
pelo trabalho manual. A riqueza dos cidados estava baseada na propriedade
da terra, embora houvesse cidados no-proprietrios que se ocupavam de
vrias funes na cidade. O s pequenos proprietrios de terras, que constituam
a maior parte dos cidados, trabalhavam com suas famlias na terra, em geral
auxiliados por um ou dois escravos.
O s escravos que se constituam na maioria da populao eram funda-
mentais para a economia. Eram responsveis pela extrao de prata (nica
atividade proibida aos cidados por ser considerada degradante), trabalhavam
nas oficinas artesanais, nas atividades domsticas, em vrias tarefas de fun-
cionrios de Estado e nas propriedades rurais. Eram, ainda, alugados aos
pequenos proprietrios nas pocas de colheita e plantio.
Alm dos escravos e cidados, a cidade-Estado contava tambm com
grande nmero de estrangeiros (gregos de outras cidades e brbaros). Estes,
sem direito propriedade da terra, eram na maioria artesos e mercadores,
importantes economia tanto pela atividade produtiva como pelos impostos
obrigatrios que pagavam, dos quais os cidados eram isentos. O grande
nmero de estrangeiros e a situao econmica vivida nesse perodo deram
origem a uma restrio do conceito de cidado, que passou a ser apenas o
indivduo nascido de pai e me gregos.'
A economia era baseada numa poltica de importao de alimentos,
matrias-primas e escravos e numa poltica de exportao de vinho, azeite e
cermica. Em Atenas, tambm eram fundamentais economia a produo de
prata e as contribuies compulsrias pagas, por outras cidades gregas, pela
sua proteo. Segundo Florenzano (1982), o excedente da economia (advindo
das exportaes) era investido basicamente na construo de monumentos,
na manuteno dos escravos do Estado, do exrcito e da frota martima e no
abastecimento de cereais, e nunca reinvestido na produo. O utros autores
salientam que a construo de monumentos e obras pblicas, como os portos,
tinha o objetivo de criar empregos para uma parcela de cidados, como os
artesos, que no era possuidora de propriedades, e que gastos com a manu-
teno do exrcito e da frota martima atendiam aos interesses de hegemonia
militar e econmica de Atenas sobre outras cidades gregas.
Embora persistissem diferenas de poder poltico, associadas a diferen-
as de riqueza, a todos os cidados atenienses era garantido o direito de
participao nas decises polticas. Nesse perodo, a democracia expandiu-se
de forma que a participao poltica inclua no apenas a aprovao de de-
cises, mas tambm a discusso e a tomada de deciso sobre os rumos e as
leis da cidade e, at mesmo, de decises relativas ao poder judicirio, como
o julgamento de pessoas e de atos executados por aqueles que estavam en-
volvidos em atividades pblicas. O prprio preenchimento de alguns cargos
pblicos, como o de juiz, passou a ser feito por mandatos de tempo prefixado
e por sorteio; e a participao nas assemblias assim como o desempenho
das funes de Estado passaram a ser remunerados como forma de permitir
a participao de todos os cidados e no apenas dos mais ricos e, portanto,
com tempo disponvel.
O s sculos V e IV a.C. foram os sculos em que Atenas viveu seu
apogeu econmico e poltico, mas foram tambm sculos de grande contur-
bao e crises constantes. As cidades-Estado gregas, nesse perodo, estavam
em constante guerra umas com as outras, na tentativa de garantir sua hege-
monia. Atenas comandou vrias lutas contra cidades lideradas por Esparta e
por certo tempo manteve sua hegemonia, perdendo-a quando perdeu a guerra
do Peloponeso . Alm da luta pela hegemonia entre as cidades-Estado, os
persas mantiveram guerras com vrias cidades gregas, inclusive Atenas,
ameaando, assim, a independncia da civilizao grega. Ao lado dessas cri-
ses, as cidades-Estado, e dentre elas Atenas, foram marcadas por sucessivas
conturbaes internas. Dois partidos polticos, atendendo a diferentes inte-
1 Guerra iniciada em 431 a.C. e encerrada em 405 a.C, entremeada de perodos de paz.
Duas ligas de cidades-Estado dela participaram, sendo a liga do Peloponeso liderada por
Esparta e a liga de Delos liderada por Atenas; cidades que lutavam por uma hegemonia
inclusive comercial. A batalha de Egos Potamos, vencida por Esparta, marcou o fim da
hegemonia ateniense.
58
resses, alternaram seu domnio: de um lado o Partido Agrrio ou Aristocr-
tico, de outro o Partido Martimo ou Democrtico.
Todo o desenvolvimento de Atenas e a crise vivida pela cidade trans-
formaram-na na cidade grega mais importante do perodo. Sua importncia
militar, econmica e poltica refletiu-se em sua vida cultural e intelectual, e
Atenas transformou-se em importante centro de debates e de efervescncia
poltica e cultural. cidade acorriam os homens interessados nas artes e na
filosofia e a permaneciam os atenienses que se preocupavam com tais ques-
tes. Como resultado, a cidade conheceu, nesse perodo, um surpreendente
desenvolvimento das artes, da cincia e filosofia.
Finalmente, em 338 a.C, os macednicos, que alm dos persas vinham
ampliando seu imprio, submeteram toda a Grcia, e Atenas tambm, a seu
domnio. A partir da todas as cidades gregas perderam sua independncia
poltica e econmica.
Do ponto de vista da produo de conhecimento, trs pensadores mar-
caram esse perodo - Scrates, Plato e Aristteles. Todos eles viveram em
Atenas, pelo menos durante o perodo central de sua produo, e todos eles
tm uma obra que influenciou no apenas o momento histrico que viveram,
mas tambm o prprio desenvolvimento da filosofia e da cincia.
Scrates, Plato e Aristteles contrapunham-se aos pensadores jnicos
porque traziam para o centro de suas preocupaes o homem, em lugar da
natureza fsica dos jnicos, e porque viam esse homem como capaz de pro-
duzir conhecimento por possuir uma alma, absolutamente diferenciada do
corpo e essencial. Esses pensadores caracterizaram-se por suas reflexes sobre
as bases para a produo de conhecimento rigoroso. Todos eles estavam en-
volvidos na busca de formas de ao que levariam o homem a produzir
conhecimento, e todos propuseram mtodos para isso.
A proposio de mtodos para a produo de conhecimento do e
para o homem est associada crena de que pela via do conhecimento
das verdades, pela via do conhecimento objetivo, seria possvel formar os
cidados e, portanto, seria possvel transformar a cidade para que essa
fosse melhor e mais justa. Acreditavam que o conhecimento - a filosofia
- tinha uma funo social, e a formao de suas escolas demonstrao
disso. Pela primeira vez, fundavam-se instituies particulares com a preo-
cupao de transmitir e produzir conhecimento (e no importa que cada
uma delas fosse marcada por concepes metodolgicas e prioridades di-
ferentes). Pela primeira vez, tambm, a formao dos cidados foi enca-
rada como sendo tarefa fundamental para que se pudesse transformar (ou
manter) a sociedade.
59
O S SO FISTAS
Nesse contexto de crescente participao poltica na vida da polis, a
filosofia torna-se um instrumento de educao nas mos de um grupo de
"sbios": os sofistas (sbio o sentido original da palavra sofista). Do que
escreveram, muito pouco restou e, de uma maneira geral, o que deles se sabe
por meio de Plato e Aristteles, que deles discordavam.
Esse grupo de homens - dentre os quais podem ser citados Protgoras
de Abdera (480 a.C. aproximadamente), Grgias de Lencio (483-375 a.C),
Crtias de Atenas (455-403 a.C), Hpias de Ellis (morto em 343 a.C.) e
Antifonte (do qual muito pouco se sabe) - no constituiu uma escola, uma
vez que defendia muitas vezes posies distintas e tinha concepes diversas
sobre a natureza, os deuses, etc. Entretanto, como afirma Romeyer-Dherbey
(1986), tem em comum "(...) um determinado conjunto de temas, como o
interesse prestado a problemas sobre a linguagem, problemtica das relaes
entre a natureza e a lei, por exemplo" (p. 10).
Talvez mais importante, os sofistas, em perfeita consonncia com seu
tempo, mantinham uma prtica que os distinguia e os caracterizava: eram
homens que iam de cidade em cidade com o fim de transmitir aos filhos dos
cidados, por um preo estipulado, uma educao que lhes garantisse a par-
ticipao e o sucesso na vida pblica e na poltica. Alm de transmitirem
conhecimentos vrios, ento considerados relevantes para a formao do ci-
dado, valorizavam e ensinavam a retrica e a arte de argumentar, que con-
sideravam indispensveis a tal formao. Acreditavam que o sucesso de um
homem era devido sua capacidade de convencer o outro de seus argumentos.
Como afirma Romeyer-Dherbey, "os sofistas foram profissionaris do saber".
A palavra uma grande dominadora, que com pequenssimo e sumamente
invisvel corpo, realiza obras divinssimas, pois pode fazer cessar o medo e
tirar as dores, infundir a alegria e inspirar a piedade... O discurso, persua-
dindo a alma, obriga-a, convencida a ter f nas palavras e a consentir nos
fatos... A persuaso, unida palavra, impressiona a alma como quer... O
poder do discurso com respeito disposio da alma idntico ao dos rem-
dios em relao natureza do corpo. Com efeito, assim como os diferentes
remdios expelem do corpo de cada um diferentes humores, e alguns fazem
cessar o mal, outros a vida, assim tambm, entre os discursos alguns afligem
e outros deleitam, outros espantam, outros excitam at o ardor os seus ouvin-
tes, outros envenenam e fascinam a alma com persuases malvadas. (Grgias,
Elogio de Helena, 8, 12-14, em Mondolfo, 1967)
O s sofistas acreditavam, tambm, que essa capacidade de argumentao
podia ser ensinada, que a natureza humana podia ser moldada ao se transmitir
60
maneiras de comportamento e formas de atuao adequadas, e por isso foram
considerados os primeiros pedagogos.
Declaro ser eu um sofista e instruir os homens... Oh, jovenzinho! se vieres a
mim poders comprovar, no mesmo dia, que, ao voltar tua casa, j estars
melhor, e o mesmo acontecer no dia seguinte e cada dia fars progressos
para o melhor... (Plato, Protagoras, 317-319, em Mondolfo, 1967)
A possibilidade de preparar homens para a poltica por meio do ensino
da argumentao e do raciocnio argutos e rigorosos combinava-se, para os
sofistas, com a defesa que faziam de que as leis eram um conjunto de con-
venes humanas que poderiam ser transformadas dependendo dos interesses
humanos e at mesmo dos interesses individuais. Para tanto, bastava a habi-
lidade para convencer outros.
Houve um tempo em que a vida dos homens era desordenada, cruel e escrava
da fora, quando nenhum prmio havia para os bons, nem nenhum castigo
para os maus. E parece-me que, mais tarde, os homens tenham estabelecido
as leis punitivas, para que a justia reinasse soberana sobre todos igualmente,
e tivesse como sua servidora a fora: e castigava a quem pecasse. E como
depois as leis impediam que cometessem abertamente atos violentos, eles os
faziam ocultamente; parece-me, ento, que um homem prudente e de esprito
sbio inventou, para os homens, o temor aos deuses, para que os malvados
temessem at no fazer, dizer ou pensar ocultamente... E [com isto] acabou
com as violaes s leis. (Crtias, Fragmento 25, em Mondolfo, 1967)
As leis, assim como as instituies da polis, eram tidas, portanto, como
construes humanas, como relativas a uma cultura e, assim, como passveis
de serem mudadas a depender dos interesses humanos e da cultura. Desse
modo, pelo menos para alguns deles, a justia, as virtudes ou as diferenas
entre os homens no eram atribudas a divindades. a Protagoras que se
atribui a afirmao:
Quanto aos deuses no posso saber se existem, nem se no existem, nem qual
possa ser sua forma; pois muitos so os impedimentos para sab-lo, a obscu-
ridade do problema e a brevidade da vida do homem. (Fragmento em Digenes
Larcio, IX, 51, em Mondolfo, 1967)
A esse agnosticismo soma-se, entre os sofistas, uma defesa da igualdade
natural entre os homens, o que coerente com sua posio de defesa da
democracia e com sua crena na construo humana das instituies sociais.
Respeitamos e veneramos quem de nobre origem, porm no respeitamos
nem veneramos aquele que tem um obscuro nascimento. Assim agindo uns a
respeito dos outros mostramos o nosso esprito brbaro. Somos por natureza
absolutamente iguais, todos, brbaros e Helenos... Pois todos respiramos o ar
61
pela boca e pelo nariz... (Antifonte, Fragmento II, lacunos do papiro de O xir-
rinco, em Mondolfo, 1967)
Com os sofistas inaugura-se assim uma enorme nfase no indivduo
que molda e moldado pela cultura, pelas convenes humanas. Essa con-
cepo, com sua marca de relativismo, torna o indivduo o centro da preo-
cupao dos sofistas. Mais uma vez, uma frase atribuda a Protgoras es-
clarecedora: "(...) o homem a medida de todas as coisas, das que so
enquanto so, e das que no so enquanto no so" (Plato, Teetetos, 151-
152, em Mondolfo, 1967).
Essa afirmao tem sido alvo de distintas interpretaes filosficas,
como esclarecem Mondolfo (1967) e Romeyer-Dherbey (1986): h, de um
lado, os que a interpretam como uma proposio relativa ao gnero humano,
de outro, os que a interpretam como uma asserao sobre o indivduo particular
que ento seria visto como juiz supremo dos fatos. Essa segunda interpretao
supe um extremado subjetivismo por parte dos sofistas. Seja qual for a
interpretao que se adote, importante ressaltar aqui a centralidade do ho-
mem e o subjetivismo, quase decorrncia de seu relativismo, como marcas
que parecem ter caracterizado os sofistas.
SCRATES (469-399 a.C. aproximadamente)
Reputava a loucura contrria sabedoria. Mas no considerava
a ignorncia como loucura, dissesse embora vizinhar a demncia
o no conhecer-se a si mesmo e acreditar se saiba o que se ignore.
Xenofonte
Filho de um escultor ou pedreiro e de uma parteira, nasceu no sculo
em que Atenas atingiu o apogeu na filosofia, em que fundou suas primeiras
instituies filosficas e em que a matemtica e a astronomia desenvolve-
ram-se enormemente.
H controvrsias sobre o pensamento de Scrates. Alguns estudiosos
chegam a suspeitar que o pensamento a ele atribudo foi, na realidade, ela-
borado por outros pensadores. Isso se deve ao fato de que Scrates nada
escreveu e tudo o que dele se conhece advm de escritos como os de Plato,
Xenofonte, Aristteles e outros. O utros estudiosos, no entanto, apesar de re-
conhecerem a dificuldade histrica de descobrir o que, nos textos que a ele
se referem, , ou no, pensamento de Scrates, no tm qualquer dvida de
sua existncia e de sua importncia como filsofo. O prprio fato de Scrates
nada ter escrito interpretado por tais estudiosos (Jaeger, 1986; Mondolfo,
1967; Wolff, 1984) como parte de seu compromisso com o mtodo por ele
62
proposto, que exigia de cada um o autoconhecimento, que s poderia ser
descoberto por meio do dilogo constante e da troca de idias; o que no
poderia ser obtido mediante um texto esttico. Um dos primeiros fatos a se
destacar sobre Scrates sua oposio a um importante grupo de pensadores
da Grcia de sua poca - os sofistas. Apesar de ter mantido contato com
eles, Scrates deles divergia tanto na sua maneira de pensar como de ser.
Scrates opunha-se radicalmente ao relativismo dos sofistas. Acreditava
e defendia que havia valores e virtudes permanentes e que precisavam ser
conhecidos para serem seguidos em defesa do bem de todos e no de alguns.
Diferentemente dos sofistas, no se preocupava com certas convenes, como
a forma de se vestir, dado que acreditava que importante era o que ia dentro
dos homens, sua alma. Era profundamente respeitador das leis e das normas
da cidade, considerando-se e comportando-se como um bom cidado. Alm
disso, supunha que, em princpio, todos os homens eram iguais e que todos
poderiam descobrir em si mesmos a bondade e sabedoria que traziam em
suas almas, se corretamente orientados para isso. Propunha-se a ensinar a
todos quantos se dispusessem a aprender, tambm porque se acreditava como
um escolhido dos deuses para tal funo. Sua vida e forma de atuar eram,
para ele e seus seguidores, um exemplo daquilo que defendia.
Para Scrates, a sabedoria dependia de conhecer-se a si mesmo e do
conhecimento e controle de seus prprios limites; o reconhecimento de sua
prpria ignorncia, por parte de cada indivduo, consistia, assim, no primeiro
passo, absolutamente necessrio, para o verdadeiro saber. Scrates acreditava
que os homens precisavam reconhecer que tinham conhecimentos errneos,
inclusive de si mesmos. Acreditava que essa era uma empresa difcil, mas
fundamental. Mostrar-lhes tal ignorncia tambm era sua tarefa. A partir desse
passo, o conhecimento de si (e daquilo que importava, os universais) era
possvel e indispensvel porque os homens, possuidores de uma alma indis-
socivel de seu corpo, aspiravam ao Bem, e s no eram capazes de reco-
nhec-lo e pratic-lo por causa de sua ignorncia. O homem - suas virtudes,
seu comportamento e seu conhecimento - era o centro, portanto, das preo-
cupaes de Scrates.
O conhecimento das virtudes humanas, como a coragem, a justia, de-
pendia, para Scrates, do conhecimento da Virtude, do Bem; e isso era visto
como algo imutvel e universal. Era o conhecimento desses universais que
os homens deviam buscar e, uma vez descobertos, tais conhecimentos natu-
ralmente levariam os homens a pratic-los em seu benefcio e do prximo.
O conhecimento era, portanto, visto como mecanismo de aprimoramento do
homem e da sociedade, e, para Scrates, o conhecimento era autoconheci-
mento, porque os homens j os traziam em sua alma, necessitando apenas
descobri-lo pelo esforo da busca de si mesmos.
63
Na medida em que Scrates acreditava poder descobrir o Bem, e que
acreditava ser possvel levar os homens a descobri-lo, destaca-se dos pensa-
dores que o precederam por considerar e por incluir como fundamental a
reflexo moral, a reflexo sobre o homem, como tema da filosofia e do
conhecimento. Scrates no buscava o conhecimento da natureza, mas o co-
nhecimento dos homens e da sociedade. Pelo menos to importante como
esse aspecto, o fato de Scrates considerar que o conhecimento verdadeiro,
mesmo em se tratando do homem e dos seus valores, o conhecimento de
universais e no de instncias ou fenmenos particulares. A filosofia trataria
de coisas permanentes e essenciais, e no do mutvel. Segundo Mondolfo
(1967), Scrates, "() Com a induo, trata sempre de obter dos exemplos
particulares o conceito universal, em que se acham compreendidos todos os
casos particulares, e quer determin-los por meio da definio" (p. 252).
A Virtude e o Bem so entendidos como conceitos universais e imu-
tveis, que servem de critrio e de guia para toda ao particular e para toda
a vida da cidade: como conceitos universais adquirem objetividade e podem
ser descobertos e partilhados por todos que se submeterem a apreend-los.
Seu objeto de estudo , assim, a descoberta desses universais, e seu mtodo
de investigao, a maneira de a eles chegar, faz parte integrante de sua con-
cepo. Scrates pratica seu mtodo na forma como atua e relaciona-se com
os outros. Seu mtodo a ironia.
A investigao que leva ao conhecimento, a ironia, s poderia, para
Scrates, ser praticada pelo dilogo. por meio do dilogo que o aprendiz
chegaria a descobrir em sua alma o conhecimento. Nesse dilogo, Scrates
fazia o papel do animador e do filsofo, que coloca as perguntas e provoca
o aprendiz, levando-o a penetrar em si mesmo e descobrir as verdades. Para
Scrates, o conhecimento no podia ser transmitido como mero conjunto de
regras j estabelecidas. Tinha de ser descoberto pelo homem, pelo indivduo,
em si mesmo. S assim os homens reconheceriam como conhecimento o que
aprendiam e s aprendiam consigo mesmos. Por isso o dilogo, como forma
de ensinar, como maneira de formar o homem, era to fundamental. A ironia
socrtica (e o dilogo) compunha-se de dois momentos - a refutao e a
maiutica. O primeiro momento da investigao era, para Scrates, a refuta-
o. Sempre por meio do dilogo com outro, que no era fechado ou dog-
mtico, mas, pelo contrrio, aberto e sem um fim predeterminado, o aprendiz
descobria os erros do que pretendia conhecer, descobria a sua ignorncia e,
assim, preparava-se para o verdadeiro conhecimento.
Estrangeiro: Quanto ao outro mtodo, parece que alguns chegaram, aps ama-
durecida reflexo, a pensar da seguinte forma: toda ignorncia involuntria,
e aquele que se acredita sbio se recusar sempre a aprender qualquer coisa
64
de que se imagina esperto, e, apesar de toda a punio que existe na admoes-
tao, esta forma de punio tem pouca eficcia.
Teeteto: Eles tm razo.
Estrangeiro: E propondo livrar-se de tal iluso, se armam contra ela, de um
novo mtodo.
Teeteto: Qual?
Estrangeiro: Propem, ao seu interlocutor, questes s quais acreditando res-
ponder algo valioso ele no responde nada de valor; depois, verificando fa-
cilmente a validade de opinies to errantes, eles as aproximam em sua crtica,
confrontando umas com as outras, e por meio deste confronto demonstram
que a propsito do mesmo objeto, sob os mesmos pontos de vista, e nas mesmas
relaes, elas so mutuamente contraditrias. Ao perceb-lo, os interlocutores
experimentam um descontentamento para consigo mesmos, e disposies mais
conciliatrias para com outrem. Por esse tratamento, tudo que neles havia de
opinies orgulhosas e frgeis lhes arrebatado, ablao em que o ouvinte
encontra o maior encanto, e o paciente o proveito mais duradouro. H, na
realidade, um princpio, meu jovem amigo, que inspira aqueles que praticam
este mtodo purgativo; o mesmo que diz, ao mdico do corpo, que da alimen-
tao que se lhe d no poderia o corpo tirar qualquer proveito enquanto os
obstculos internos no fossem removidos. A propsito da alma formaram o
mesmo conceito: ela no alcanar, do que se lhe possa ingerir de cincia,
benefcio algum, at que se tenha submetido refutao, e que por esta re-
futao, causando-lhe vergonha de si mesma, se tenha desembaraado das
opinies que cerram as vias do ensino e que se tenha levado ao estado de
manifesta pureza e a acreditar saber justamente o que ela sabe, mas nada
alm. (Plato, Sofista, 230, c, d)
Descoberta sua ignorncia, o aprendiz estava preparado para o segundo
momento do mtodo socratico, a maiutica. Ainda por meio do dilogo, o
aprendiz descobria os conhecimentos que j parecia ter dentro de si, em sua
alma. Aqui o filsofo, o animador, como que conduzia o aprendiz para que
ele retirasse de dentro de si um conhecimento que de certa forma preexistia,
que transcendia casos particulares, portanto, o conhecimento de um universal,
e do homem sobre si mesmo, um conhecimento tico, moral.
- E no ouviste, pois, dizer que sou filho de uma porteira muito hbil e sria,
Fenareta?
- Sim, j ouvi dizer isso.
- E ouviste tambm que me ocupo igualmente da mesma arte?
- Isso no.
- Pois bem, deves saber que verdade... Reflete sobre a condio da porteira
e compreenders mais facilmente o que quero dizer. Tu sabes que nenhuma
delas assiste s parturientes, quando ela mesma se encontra grvida ou par-
turiente, mas unicamente quando no se acha em estado de dar luz... E no
natural e necessrio que as mulheres grvidas so melhor auscultadas pelas
65
parteiras do que por outras?
- Certamente.
- E as parteiras tm remdios e podem, por meio de cantilenas, excitar os
esforos do parto e faz-los, se quiserem, mais suaves, e aliviar as que tm
um parto muito laborioso, e fazer abortar quando sobrevem um aborto pre-
maturo.
- Assim o efetivamente.
- Ora bem, toda minha arte de obstetra semelhante a essa, mas difere en-
quanto se aplica aos homens e no s mulheres, e relacionando-se com as
suas almas parturientes e no com os corpos. Sobretudo, na nossa arte h a
seguinte particularidade: que se pode averiguar por todo o meio se o pensa-
mento do jovem vai dar luz a algo de fantstico e de falso, ou de genuno
e verdadeiro. Pois acontece tambm a mim como s parteiras: sou estril de
sabedoria; e o que muitos tm reprovado em mim, que interrogo os outros, e
depois no respondo nada a respeito de nada por falta de sabedoria, na ver-
dade pode me ser censurado. E esta a causa: que Deus obriga-me a agir
como obstetra, porm veda-me de dar luz. E eu, pois, no sou sbio, nem
posso mostrar nenhuma descoberta minha, gerada por minha alma; mas os
que me freqentam, a princpio (alguns tambm em tudo) ignorantes; mas
depois, adquirindo familiaridade, como assistidos pelo deus, obtm proveito
admirvel mente grande, como parece a eles prprios e aos outros. E no
obstante manifesto que nada aprenderam comigo, mas encontraram por si
mesmos, muitas e belas coisas, que j possuam (...). Confia ento em mim,
como filho de porteira, e porteiro que sou; e as perguntas que eu te fizer,
trata de responder da maneira que puderes. E se depois, examinando alguma
das coisas que disseres, eu julg-la imaginria e no verdadeira, e por isso
separ-la e a dissecar, no te ofendas, como fazem as primiparas com os
ftlhinhos. (Plato, Teetetos, 148-151, em Mondolfo, 1967)
A importncia do pensamento de Scrates revela-se no s pelo fato
de ter influenciado to grandemente pensadores que o sucederam. Sua noo
de conhecimento, por exemplo, parece indicar a noo de reminiscncia de
Plato, e o prprio Aristteles afirma que Scrates introduz a questo dos
conceitos universais e da induo. Scrates importante tambm pelo fato
de que, indubitavelmente, respondendo s necessidades de seu tempo, foi
capaz de somar preocupao com o conhecimento da natureza a preocupa-
o com o conhecimento do homem e da sociedade e de seus aspectos ticos
e polticos. Com Scrates a viso naturalista de homem substituda, ou pelo
menos complementada, por uma viso tica de homem. No entanto, essa tica
transformada, tambm com Scrates, em conhecimento rigoroso. Mesmo o
conhecimento sobre o homem visto como conhecimento daquilo que
permanente e universal; e, dessa forma, a tica, a poltica e o prprio homem
como ser social tornam-se objetos de conhecimento rigoroso e deixam de ser
meros objetos de especulao.
66
PLATO (426-348 a.C. aproximadamente)
O corpo de tal modo nos inunda de amores, paixes, temores,
imaginaes de toda sorte enfim, uma infinidade de bagatelas
que, por seu intermdio, no recebemos na verdade nenhum pen-
samento sensato, no, nem uma vez sequer!
Plato
Plato nasceu em Atenas, filho de famlia aristocrtica. Viajou pelo
menos duas vezes a Siracusa, onde parece ter atuado politicamente, aplicando
suas idias quela cidade, sem sucesso. Passou todo o restante de sua vida
em Atenas.
Diferentemente de Scrates, com quem manteve contato e que o in-
fluenciou em sua juventude, Plato tem uma vasta obra escrita, da qual boa
parte se conservou ( por seu intermdio, inclusive, que se tem acesso a
muito do que se sabe de Scrates). Sua obra foi escrita na forma de dilogo
e, alm do imenso valor literrio, tem enorme importncia para a filosofia e
a cincia. O dilogo, alm de permitir uma forma de expresso literria muito
rica, parece ter tido, para Plato, importncia do ponto de vista metodolgico.
Permitia-lhe demonstrar que o conhecimento, que para ele era fruto da re-
flexo do homem consigo mesmo, dependia, para ser atingido, da argumen-
tao e da discusso que eram forma de se validar cada passo da reflexo.
A preocupao de Plato com a construo do conhecimento e com
a formao dos homens explicitou-se em sua obra escrita e tambm
esteve presente na fundao da Academia. A Academia (fundada em 387
a.C.) pretendia ser uma escola onde se ensinaria aos futuros cidados fijo-
sofia, preparando assim os possveis futuros governantes. A Academia no
era aberta a todo e qualquer cidado. Plato acreditava que a obteno de
conhecimento e a sua transmisso no eram tarefas de e para todos os ho-
mens, mas apenas daqueles que, por natureza (por sua alma), tinham as con-
dies para tanto. Estes, por meio do conhecimento, transformavam-se em
homens melhores e preparavam-se para o governo da cidade.
Plato foi, no entanto, muito mais que um educador. Elaborou um sis-
tema filosfico e um mtodo de investigao que objetivavam o que consi-
derava o verdadeiro saber. Era esse saber que, para ele, permitiria aos homens
construrem uma cidade justa e mais perfeita. A poltica, a transformao da
sociedade e o governo constituam-se, assim, na pedra de toque de seu sis-
tema. Ao se propor a produzir conhecimento, tinha como objetivo criar as
condies que julgava necessrias para a construo de uma cidade justa.
Para isso considerava indispensvel descobrir as verdades sobre as coisas,
67
ensinar pessoas a proceder a essas descobertas e, ento, aplic-las consti-
tuio e ao governo da sociedade.
Plato, dessa maneira, alinha-se a seu mestre, Scrates. Buscava no
conhecimento daquilo que considerava a essncia das coisas o conhecimento
verdadeiro, o caminho para a soluo da vida humana. Acreditava, ainda,
que o conhecimento que era possvel, embora exigisse um rduo trabalho, era
o conhecimento do prprio homem. Com isto no queria dizer o conheci-
mento de seu corpo, mas o conhecimento contido na alma, aquilo que tornava
o homem humano. O conhecimento daquilo que a alma continha era, para
Plato, o conhecimento das verdades essenciais, imutveis e fonte de tudo
aquilo que existia no mundo sensvel. Como Scrates, Plato colocava a filo-
sofia a servio da condio humana e, como Scrates, acreditava que
esse conhecimento no era o conhecimento das tcnicas e do mundo emp-
rico, que certamente considerava importante para a reproduo da vida coti-
diana do homem, mas que no o conduzia felicidade e ao Bem. Dessa
maneira, o verdadeiro saber era contemplativo, um saber que no criava ob-
jetos, que apenas determinava parmetros e critrios a serem atingidos. No
entanto, exatamente por permitir tais critrios, exatamente por permitir a con-
templao da verdade, permitiria aos homens atuar melhor, julgar com justia
e governar com sabedoria.
Plato acreditava que os homens eram dotados no apenas de corpo
mortal, mas tambm de alma imortal, que era imaterial, da qual provinham
todos os conhecimentos:
i & (...) a alma se assemelha ao que divino, imortal, dotado de capacidade de
\y pensar, ao que tem uma forma nica, ao que indissolvel e possui sempre
jfP Jf do mesmo modo identidade: o corpo, pelo contrrio, equipara-se ao que
* r humano, mortal, multiforme, desprovido de inteligncia, ao que est sujeito a
\rr decompor-se, ao que jamais permanece idntico. (Fedon, 80a, b)
Essa alma, alm de eterna, depois da morte do corpo, reencarnava-se em
outro corpo; Plato abria exceo para a alma que
(...) se ocupa, no bom sentido, com a filosofia, e que, de fato, sem dificuldade
se prepara para morrer. [Esta alma] (...) se dirige para o que invisvel, para
o que divino, imortal e sbio (...) ela passa na companhia dos deuses o resto
do seu tempo. (Fedon, 80c, 81a)
fy
2 Neste captulo, as citaes de Plato, com exceo daquelas referentes s obras Timeo
e A repblica, foram retiradas do volume Plato, Coleo O s Pensadores (Pessanha, 1983).
68
V
O s conhecimentos que os homens detinham eram possveis, pois suas
almas teriam j esses conhecimentos, antes de serem aprisionadas no corpo.
Plato afirmava que:
(...) o [conhecimento] adquirimos antes do nascimento, uma vez que ao nascer
j dele dispnhamos, podemos dizer, em conseqncia, que conhecamos tanto
antes como logo depois de nascer, no apenas o Igual, como o Maior e o
Menor (...) mas tambm o Belo em si mesmo, o Bom em si, o Justo, o Piedoso,
e de modo geral, digamos assim, tudo o mais que a Realidade em si. (Fedon,
75c-d)
Ao afirmar que o conhecimento preexistia na alma humana, Plato no
estava afirmando que todos os homens possuam (ou poderiam vir a possuir)
os mesmos conhecimentos, assim como no estava afirmando que os homens
tinham de pronto conscincia desse conhecimento - que sabiam o que co-
nheciam. Por considerar que nem todas as almas tinham tido igual acesso ao
mundo das idias, Plato no as supunha com igual capacidade ou possibi-
lidade de conhecer. O conhecimento verdadeiro - ou reconhecimento - exigia
ummetdico esforo do homem para que sua alma se lembrasse, para que J
o saber fosse, finalmente, adquirido. ff
Esse saber real (e no a mera opinio) era o conhecimento daquilo que
y
&,
era uno e imutvel. Era o conhecimento da idia, da essncia que era universal .-r * $
e no particular, imutvel e no efmera, necessria e no contingente. por ^
isso que Plato buscava, por exemplo, a Justia e no as qualidades que .$
definem este ou aquele homem como justo, e buscava, acima de tudo, o Bem,
aquilo que a tudo une e a tudo d sentido.
Plato supunha a existncia de dois mundos: o mundo das idias, en-
tendidas como invisveis, eternas, incorpreas, mas reais, e o mundo das
coisas sensveis, o mundo dos objetos e dos corpos. E assim que pode ser
interpretada a resposta que Plato d questo da origem do cosmo, ou seja,
se o cosmo existiu sempre, no tendo, portanto, nenhum comeo, ou se se
pode encontrar um comeo para o cosmo:
Nasceu posto que visvel e tangvel, e porque tem corpo. Com efeito, todas
as coisas deste tipo so sensveis e tudo que sensvel e se apreende por
intermdio da opinio e da sensao est evidentemente sujeito ao devenir e
ao nascimento. Assim, segundo dissemos, necessrio que tudo que nasceu
tenha nascido pela ao de uma causa determinada. (Timeo, 28b-d)
Plato supunha, assim, a necessidade de um criador para o mundo sen-
svel e esclarece como este criador o produziu:
Assim, se o Cosmos belo e o demiurgo [seu criador] bom evidente que
pe seus olhares no modelo eterno. (...) E absolutamente evidente para todos
69
que levou em conta o modelo eterno. Pois o Cosmos o mais belo de tudo o
que foi produzido e o demiurgo a mais perfeita e a melhor das causas. E,
em conseqncia, o Cosmos feito nestas condies foi produzido de acordo com
o que objeto de inteleco e reflexo e idntico a si mesmo. {Timeo, 29a)
Esse arteso divino, ao produzir o mundo, produziu tanto os objetos
sensveis como suas imagens: "Eis, pois, as duas obras da produo divina:
de um lado, a coisa em si mesma; e de outro, a imagem que acompanha
cada coisa" {Sofista, 266c). Da mesma forma como o divino arteso, o ho-
mem tambm era capaz de produzir coisas e tambm o fazia em dois planos:
Mas que diremos da nossa arte humana? No afirmaremos que, pela arte do
arquiteto, se cria uma casa real, e, pela arte do pintor, uma outra casa, espcie
de sonho apresentado pela mo do homem a olhos despertos? {Sofista, 266c)
O poder de transformao do homem, no entanto, restringia-se a apenas
uma esfera da criao divina: o mundo das coisas sensveis, esse mundo que
no era imutvel, que se transformava, se decompunha. O homem no ope-
rava, portanto, sobre o mundo das idias, do qual o mundo emprico era uma
cpia imperfeita. A esse respeito, Plato afirmava:
Estamos, pois, de acordo, quando, ao ver algum objeto, dizemos: "Este objeto
que estou vendo tem tendncia para assemelhar-se a um outro ser, mas, por
ter defeitos, no consegue ser tal como o ser em questo, e lhe , pelo con-
trrio, inferior. " Assim, para podermos fazer estas reflexes, necessrio que
antes tenhamos tido ocasio de conhecer este ser de que se aproxima o dito
objeto, ainda que imperfeitamente. {Fedon, 74d, e)
Sobre o mundo das idias podia-se obter conhecimento, porm sem
jamais ser capaz de transform-lo. O conhecimento desse mundo s era pos-
svel porque
(...) poder-se-ia supor que perdemos, ao nascer, essa aquisio anterior ao
nosso nascimento, mas que mais tarde, fazendo uso dos sentidos a propsito
das coisas em questo, reaveramos o conhecimento que num tempo passado
tnhamos adquirido sobre elas. Logo, o que chamamos de "instruir-se" no
consistiria em reaver um conhecimento que nos pertencia? E no teramos
razo de dar a isso o nome de "recordar-se"? {Fedon, 75e)
A suposio da existncia de dois mundos, o das idias e o das coisas
sensveis, est relacionada distino que Plato faz entre dois tipos de co-
nhecimentos possveis, cada um deles relativo a um desses mundos: a opinio,
referente ao mundo sensvel (os objetos e suas imagens); e a filosofia, refe-
rpnt^nrnmmjlnjins idias, qiif eta_yista como o real objeto do conhecimento
70
Como j foi dito, o conhecimento do mundo sensvel, para Plato, es-
tava limitado a mera opinio. Embora necessrio, era reduzido a simples
tcnica (tchne) que permitia a sobrevivncia do homem. J o conhecimento
referente ao mundo das idias era o verdadeiro saber, o verdadeiro conheci-
mento (pisthme), um conhecimento apenas contemplativo, mas que levaria
o homem a ter possibilidade de transformar e melhor governar a cidade.
Na alegoria da caverna, Plato explora as dificuldades de se chegar ao
verdadeiro conhecimento - o .conhecimento do inteligvel - e a necessidade
de se passar da contemplao das coisas sensveis s prprias idias, impreg-
nadas na alma.
. ,j () representa da seguinte forma o estado de nossa natureza relativamente
i> *J instruo e ignorncia. Imagina homens em morada subterrnea, em forma
s Jr de caverna, que tenha em toda a largura uma entrada aberta para a luz; estes
^ homens ai se encontram desde a infncia, com as pernas e o pescoo acor-
\J rentados, de sorte que no podem mexer-se nem ver alhures exceto diante
, A deles, pois a corrente os impede de virar a cabea; a luz lhes vem de um fogo
\f aceso sobre uma eminncia, ao longe atrs deles; entre o fogo e os prisioneiros
passa um caminho elevado; imagina que ao longo deste caminho, ergue-se
um pequeno muro, semelhante aos tabiques que os exibidores de fantoches
erigem frente deles e por cima dos quais exibem suas maravilhas.
(...)
Figura, agora, ao longo deste pequeno muro homens a transportar objetos de
todo gnero, que ultrapassam o muro, bem como estatuetas de homens e ani-
mais de pedra, de madeira e de toda espcie de matria; naturalmente, entre
estes portadores, uns falam e outros se calam.
(...) um estranho quadro e estranhos prisioneiros!
(...)
(...) tais homens s atribuiro realidade s sombras dos objetos fabricados
()
(...)
Considera agora, o que lhes sobrevir naturalmente se forem libertos das
cadeias e curados da ignorncia. Que se separe um desses prisioneiros, que
o forcem a se levantar imediatamente, a volver o pescoo, a caminhar, a erguer
os olhos luz: ao efetuar todos esses movimentos sofrer, e o ofuscamento o
impedir de distinguir os objetos cuja sombra enxergava h pouco. O que
achas, pois, que ele responder se algum lhe vier dizer que tudo quanto vira
at ento eram apenas vos fantasmas, mas que presentemente, mais perto da
realidade e voltado para objetos mais reais, v de maneira mais justa? No
crs que ficar embaraado e que as sombras que via h pouco lhe parecero
mais verdadeiras do que os objetos que ora so mostrados?
(...)
E se o foram a fitar a prpria luz, no ficaro os seus olhos feridos? No
tirar dela a vista, para retotyar s coisas que pode olhar, e no crera que
71
estas so realmente mais distintas do que as outras que lhe so mostradas?
(...)
Necessitar, penso, de hbito para ver os objetos da regio superior. Primeiro
distinguira mais facilmente as sombras, depois as imagens dos homens e dos
outros objetos que se refletem nas guas, a seguir os prprios objetos. Aps
isso, poder, enfrentando a claridade dos astros e da lua, contemplar mais
facilmente durante a noite os corpos celestes e o cu mesmo, do que durante
o dia o sol e sua luz.
(...)
Por fim, imagino, h de ser o sol, no suas vs imagens refletidas nas guas
ou em qualquer outro local, mas o prprio sol em seu verdadeiro lugar, que
ele poder ver e contemplar tal como .
(...)
Depois disso, h de concluir, a respeito do sol, que este que faz as estaes
e os anos, que governa tudo no mundo visvel e que, de certa maneira, causa
de tudo quanto ele via, com os seus companheiros, na caverna.
(...)
Imagina ainda que este homem torne a descer caverna e v sentar-se em
seu antigo lugar, no ter ele os olhos cegados pelas trevas, ao vir subitamente
do pleno sol?
(...)
E se, para julgar estas sombras, tiver que entrar de novo em competio, com
os cativos que no abandonaram as correntes, no momento em que ainda est
com a vista confusa e antes que seus olhos se tenham reacostumado (...), no
provocar riso prpria custa e no diro eles que, tendo ido para cima,
voltou com a vista arruinada, de sorte que no vale mesmo a pena tentar
subir at l? (...)
(...)
(...) cumpre aplicar ponto por ponto esta imagem ao que dissemos mais acima,
comparar o mundo que a vista nos revela morada da priso e a luz do fogo
que a ilumina ao poder do sol. No que se refere subida regio superior
e contemplao de seus objetos, se a considerares como a asceno da alma
ao lugar inteligvel (...) tal minha opinio: no mundo inteligvel, a idia do
bem percebida por ltimo e a custo, mas no se pode perceb-la sem concluir
que a causa de tudo quanto h de direito e belo em todas as coisas; que
ela engendrou, no mundo visvel, a luz e o soberano da luz; que, no mundo
inteligvel, ela prpria soberana e dispensa a verdade e a inteligncia; e
que preciso v-la para conduzir-se com sabedoria na vida particular e na
vida pblica.
(...)
Devemos, pois, se tudo isto for verdade, concluir o seguinte: a educao no
de nenhum modo o que alguns proclamam que ela seja; pois pretendem
introduzi-la na alma, onde ela no est, como algum que desse a viso a
olhos cegos.
(...)
72
A educao , portanto, a arte que se prope este fim, a converso da alma,
e que procura os meios mais fceis e mais eficazes de oper-la, ela no consiste
em dar a vista ao rgo da alma, pois que este j o possui; mas como ele
est mal disposto e no olha para onde deveria, a educao se esfora por
lev-lo boa direo. {A repblica, VII, 514a-519a)
Ao falar desses dois mundos e do conhecimento deles, Plato estabe-
leceu, em A repblica, uma analogia entre o Sol, "(...) cuja luz permite que
os olhos vejam da maneira possvel e os objetos visveis sejam vistos e a
idia do Bem (...) que difunde a luz verdadeira sobre os objetos do conhe-
cimento e confere ao sujeito conhecedor o poder de conhecer" {A repblica,
508a, c, d, e). Essa analogia mostra que, para Plato, o verdadeiro conheci-
mento, ao mesmo tempo que iluminava o homem, permitindo-lhe melhor
conhecer, era, ele prprio, iluminador, o conhecimento esclarecia, dava trans-
parncia realidade. No entanto, esse conhecimento no era dado ao homem
e, para a ele chegar, era necessrio galgar vrios degraus. Esse percurso ini-
ciava-se no mundo sensvel e terminava quando se atingia o mundo das
idias. Continuando a analogia entre o conhecimento e a luz, Plato explicita
esse caminho:
, J^ - Concebe portanto, como dizemos, que sejam dois reis, um dos quais reina
Jf sobre o gnero e o domnio do inteligvel e outro, do visvel: no digo do cu,
iP" *? P
or me(
lo de que vs pensar que jogo com palavras. Mas consegues imaginar
X estes dois gneros, o visvel e inteligvel?
^ - Imagino, sim.
Kr "y - Toma, pois, uma linha cortada em dois segmentos desiguais, um repre-
vJy sentando o gnero visvel e outro o gnero inteligvel, e secciona de novo cada
S segmento segundo a mesma proporo; ters ento, classificando as divises
\F obtidas, conforme o seu grau relativo de clareza ou de obscuridade, no mundo
visvel, um primeiro segmento, o das imagens - denomino imagens primeiro
as sombras, depois os reflexos que avistamos nas guas, ou superfcie dos
corpos opacos, polidos e brilhantes, e todas as representaes similares; tu
me compreendes?
- Mas sim.
- Estabelece agora que o segundo segmento corresponde aos objetos repre-
sentados por tais imagens, quero dizer, os animais que nos circundam, as
plantas e todas as obras de arte.
- Fica estabelecido.
- Consentes tambm em dizer perguntei..- que, com respeito verdade e a
seu contrrio, a diviso foi feita de tal modo que a imagem est para o objeto
que ela reproduz como a opinio est para a cincia?
- Consinto na verdade.
- Examina, agora, como preciso dividir o mundo inteligvel.
- Como?
- De tal maneira que, para atingir uma de suas partes, a alma seja obrigada
73
a servir-se, como de outras tantas imagens, dos originais do mundo visvel,
procedendo, a partir de hipteses, no rumo a um princpio, mas a uma con-
cluso; enquanto, para alcanar a outra, que leva a um princpio an-hipottico,
ela dever, partindo de uma hiptese, e sem o auxlio das imagens utilizadas
no primeiro caso, desenvolver sua pesquisa por meio exclusivo das idias to-
madas em si prprias.
- No compreendo inteiramente o que dizes.
- Pois bem! Voltemos a isso; compreenders, sem dvida mais facilmente,
depois de ouvir o que vou dizer. Sabes, imagino, que os que se aplicam
geometria, aritmtica ou s cincias deste gnero, supem o par e o impar,
as figuras, trs espcies de ngulos e outras coisas da mesma famlia, para
cada pesquisa diferente; que, tendo admitido estas coisas como se as conhe-
cessem, no se dignam dar as razes delas a si prprios ou a outrem, julgando
que so claras a todos; que enfim, partindo dai deduzem o que se segue e
acabam atingindo, de maneira conseqente, o objeto que a sua indagao
visava.
- Sei perfeitamente disso.
- Sabes, portanto, que eles se servem de figuras visveis e raciocinam sobre
elas, pensando, no nestas figuras mesmas, porm nos originais que reprodu-
zem; seus raciocnios versam sobre o quadrado em si e a diagonal em si, no
sobre a diagonal que traam, e assim no restante; das coisas que modelam
ou desenham, e que tm suas sombras e reflexos nas guas, servem-se como
outras tantas imagens para procurar ver estas coisas em si, que no se vem
de outra forma exceto pelo pensamento.
- E verdade.
- Eu dizia, em conseqncia, que os objetos deste gnero so do domnio
inteligvel, mas que, para chegar a conhec-los, a alma forada a recorrer
a hipteses: que no procede ento rumo a um princpio, porquanto no pode
remontar alm de suas hipteses, mas emprega, como outras tantas imagens,
os originais do mundo visvel, cujas cpias se encontram na seo inferior, e
que, relativamente a estas cpias, so encarados e apreciados como claros e
distintos.
- Compreendo que o que dizes se aplica geometria e s artes da mesma
famlia.
- Compreende, agora, que entendo por segunda diviso do mundo inteligvel
a que a prpria razo atinge pelo poder da dialtica, formulando hipteses
que ela no considera princpios, mas realmente hipteses, isto , pontos de
partida e trampolins para elevar-se at o princpio universal que j no pres-
supe condio alguma; uma vez apreendido este princpio, ela se apega a
todas as conseqncias que dele dependem e desce assim at a concluso, sem
recorrer a nenhum dado sensvel, mas to-somente s idias, pelas quais pro-
cede e s quais chega.
- Compreendo-te um pouco, mas no suficientemente, pois me parece que
tratas de um tema muito rduo; queres distinguir, sem dvida, como mais
claro, o conhecimento do ser e do inteligvel, que se adquire pela cincia
dialtica, daquele que se adquire pelo que chamamos as artes, s quais as
74
hipteses servem de princpios, verdade que os que se aplicam s artes so
obrigados afazer uso do raciocnio e no dos sentidos: no entanto, como nas
suas investigaes no remontam a um principio, mas partem de hipteses,
no crs que tenham a inteligncia dos objetos estudados, ainda que a tivessem
partindo de um princpio; ora, denominas conhecimento discursivo, e no in-
teligncia, o das pessoas versadas na geometria e nas artes semelhantes, en-
tendendo com isso ser este conhecimento intermedirio entre a opinio e a
inteligncia.
- Tu me compreendes suficientemente - disse eu. - Aplica agora a estas quatro
divises as quatro operaes da alma: a inteligncia mais alta, o conheci-
mento discursivo segunda, terceira a f e ltima a imaginao; e as
ordena, atribuindo-lhe mais ou menos evidncia, conforme os seus objetos
participem mais ou menos da verdade.
- Compreendo - disse ele. - Estou de acordo contigo e adoto a ordem que
propes. (A repblica, VI, 509c, d at 511c, e)
Assim, pode-se supor que para Plato o processo de conhecimento en- $
volvia diferentes objetos e diferentes operaes da alma necessrias apreen- TH)
so de tais objetos: o conhecimento comeava com as imagens dos objetos ' v
sensveis, s quais correspondia s uma "representao confusa". Passava-se tT
a seguir aos prprios objetos do mundo sensvel, aos quais correspondia uma A
"representao ntida", que levava crena; tanto a representao confusa "
como a representao ntida referiam-se ao mundo sensvel, mundo esse pas-
svel apenas de um conhecimento no nvel da opinio. A partir do conheci-
mento desse mundo sensvel, para atingir as idias, passava-se por um estgio
intermedirio em que se lidava com objetos distintos dos objetos do mundo \ p
sensvel, mas que mantinham relao com ele (por exemplo, uma figura de ,
quadrado), mas ainda no eram idias puras (no se lidava ainda com idia *
de quadrado). J r
Esse terceiro estgio envolvia o conhecimento e o aso da matemtica.
Segundo Jaeger (1986), as matemticas permitiam "(...) uma idia de saber
de uma exatido e perfeio da prova e da construo lgica como o mundo J
no sonhara sequer" (p. 619). Da seu valor como instrumento para o co- Vy
nhecimento e como instrumento que, numa certa medida, preparava o homem %r
para utilizar a dialtica, ltimo estgio metodolgico para o conherimp.ntn W
Pela matemtica , a alma transferia-se do mundo sensvel para o conceituai.
3 Ao valorizar as matemticas como procedimento e como instrumento necessrio edu-
cao, Plato, numa certa medida, valorizava Pitgoras e os pitagricos. Ao associar, como
Pitgoras, as noes de nmero (da aritmtica) e de forma (da geometria), Plato deu um
imenso passo em direo ao conhecimento abstrato, e, nesse caso, sem grande dificuldade,
visto que a noo de nmero perfeitamente compatvel com a noo de perfeio asso-
ciada idia.
75
Partindo de fenmenos perceptveis pelos sentidos, estabeleciam-se hipteses
- que no podiam ser justificadas - e, por meio da demonstrao, elabora-
vam-se princpios que no mais se referiam ao sensvel. Nesse momento do
conhecimento, portanto, no apenas se produzia um conhecimento que no
mais se referia ao mundo sensvel, mas sim ao inteligvel, como tambm se
preparava o esprito para a utilizao da dialtica.
Ainda segundo Jaeger (1986), "() o dialtico o homem que com-
preende a essncia de cada coisa [a idia], e sabe dar conta dela" (p. 473).
A dialtica ensina a "perguntar e responder cientificamente" de forma que
se capaz de discernir a idia, separ-la das demais e delimit-la. Para isso,
o dilogo era empregado de maneira positiva - isso , com o objetivo de se
obter uma resposta - em que cada passo deveria ser justificado e validado.
Era, portanto, pelo dilogo que se penetrava a essncia, a idia. Na dialtica,
assim, alm de se partir de um princpio e de se chegar a uma afirmao
verdadeira, procedia-se por passos, numa discusso em que se submeteria
fiscalizao e se fiscalizava todo o percurso do conhecimento, de forma que
ele era, finalmente, trazido tona pelo sujeito do conhecimento.
A dialtica, segundo Allan (1970),
(...) integrar num nico sistema coerente a nossa experincia fragmentria,
no por mera reunio e conjuno dos fragmentos, mas sim atravs de uma
apreenso intuitiva de uma verdade nuclear necessria (a forma do bem) donde
poder ser deduzida toda a verdade parcial sem risco de errar. (p. 135)
Para Plato, filsofo era aquele que tivesse alcanado esse estgio do
conhecimento; que tivesse, portanto, se desligado do mundo sensvel e as-
cendido ao mundo inteligvel, por meio do conhecimento das idias. O fil-
sofo era aquele que conhecia contemplativamente o real.
A concepo que Plato tem de conhecimento est relacionada a sua
concepo de sociedade; mais do que isso, prepara e justifica para aquilo
que Plato defendia para a sociedade na qual vivia - a cidade grega. Plato
pretendia organizar a cidade de forma a mant-la estvel, ordenada; essa
organizao e estabilidade - ditadas pela razo - dependiam basicamente da
diviso do trabalho e do estabelecimento de leis. A diviso do trabalho (atri-
buindo a cada um atividade correlata sua natureza) era vista como estando
estreitamente vinculada ao surgimento da cidade:
O que d nascimento a uma cidade (...) , creio, a impotncia de cada indivduo
de bastar-se a si prprio e a sua necessidade de uma multido de coisas, ou
pensa existir outra coisa qualquer na origem de uma cidade? (A repblica II,
369a, c)
Tal organizao refletia, ainda, uma concepo de hierarquia social que
se baseava na natureza das coisas: "(...) a natureza no fez cada um de ns
76
semelhante ao outro, mas diferentes em aptides, e prprio para esta ou
aquela funo " {A repblica II, 369e, 370d). Plato estabelecia trs ativi-
dades fundamentais para a cidade: a produo, garantida pelos artesos;
a defesa, garantida pelos soldados; e a administrao interna pelos guardies. \ A
Todos os homens tinham, por natureza, trs caractersticas em suas >
almas, e em cada homem uma era dominante. O s homens eram, assim, di- $ J
vididos, de acordo com seu carter, em trs tipos: o carter de bronze, o- &
minado pelos desejos sensveis; o carter de prata, dominado pelo mpeto; e,v^
o carter de ouro, dominado pelo pensamento especulativo. Plato defendia
que era preciso descobrir, em cada indivduo, sua predisposio dominante
para que se lhe pudesse atribuir sua funo, seu papel na polis e, assim,
garantir sua felicidade, o bem-estar e a justia da polis. Por exemplo, para
exercer a funo de guardio eram necessrias algumas aptides naturais,
entre outras:
(...) sentidos aguados para descobrir o inimigo, rapidez para persegui-lo logo
que o descubra e fora para combat-lo, se necessrio quando for alcanado
(...) e tambm a coragem para combater bem. (...) Eis, pois, evidentemente as
qualidade que o guardio deve possuir no que respeita ao corpo. (...) E no
que respeita alma deve ser de humor irascvel. (...) cumpre que sejam bran-
dos com os seus e rudes com os inimigos. (...) Alm do humor irascvel, deve
ter uma ndole filosfica. (...) Portanto, filsofo, irascvel, gil e forte h de
ser aquele que destinamos a tornar-se belo e bom guardio da cidade. {A
repblica II, 374d-376e) A
1
A cidade, para Plato, deveria manter-se intata, sem traumas e sem
grandes mudanas: cada homem deveria trabalhar para o benefcio da cidade,
segundo suas aptides e, desse modo, a cidade se manteria ntegra e justa,
atendendo a todos. Jf
Para que a cidade se mantivesse una, Plato considerava indispensvel -v
que a educao dos cidados ficasse a cargo do Estado.
Isso garantia uma educao de acordo com as aptides naturais de cada
um, atendendo assim s necessidades da_git. A estabilidade da legislao o^
era mais uma condio para a unicidade da cidade, a legislao deveria ser
estvel, para que se evitasse o maior mal da cidade: "(...) aquele que a divide
e a torna mltipla em vez de Una", e que propiciasse o seu maior bem "(...)
aquele que a une a torna Una" (A repblica V, 462a-d).
O governo da cidade deveria estar a cargo de um rei filsofo, oujje
um conjunto de reis filsofos. Escolhidos dentre os guardies, alguns cidados
passariam por anos de educao filosfica, at que atingissem o verdadeiro
conhecimento - o saber contemplativo. Quando a polis necessitasse, passa-
riam a govern-la, no como um privilgio, mas como obrigao devida
77
cidade que os tinha educado (e isso seria um peso porque teriam de descer
de sua contemplao para o mundo da cidade e dos negcios humanos). Esses
sbios, sem ambies pessoais e conhecedores das verdades essenciais, seriam
capazes de governar a cidade com justia. A polis perfeita era aquela que
visava o Bem de todos e no de grupos, isso seria possvel somente se os
seus governantes conhecessem o Bem e se cada cidado realizasse a funo
para a qual era, por natureza, mais apto e para a qual tivesse sido educado.
Plato foi, como Scrates, um homem que abordou questes de seu
tempo. A complexa vida da cidade grega, as crises e as dificuldades exigiam
que se tentasse encontrar solues. A sociedade escravista que desvalorizava,
cada vez mais, todo contato com o trabalho, afastava os homens do conhe-
cimento prtico e do mundo emprico; a democracia que ressaltava a impor-
tncia do homem, como indivduo que era capaz de governar a si e aos
demais, como cidado capaz de construir a sociedade por meio do encami-
nhamento de propostas e de solues aos problemas enfrentados, sem dvida
alguma, marcaram profundamente o pensamento de Plato.
ARISTTELES (384-322 a.C.)
E pois manifesto que a cincia a adquirir a das causas
primeiras, pois dizemos que conhecemos cada coisa somente
quando julgamos conhecer a sua primeira causa.
Aristteles
Nasceu em Estagira, na Grcia setentrional, cidade grega sob domnio
macednico. Seu pai era mdico do rei da Macednia, Amyntas, pai de Filipe.
Aristteles chegou a Atenas em 367 a.C. e ingressou na Academia de Plato,
a permanecendo at 347 a.C, quando morreu Plato, e Aristteles deixou
Atenas. Durante os anos 347 a 342 a.C, viveu em Assos e Mitilene; por
volta de 342 a.C. passou a ser preceptor de Alexandre, filho de Filipe da
Macednia. possvel que tenha permanecido nessa funo at 336 a.C,
quando Alexandre subiu ac trono. Foi nessa poca que Aristteles voltou
para Atenas, mas no para a Academia de Plato. Fundou sua prpria escola
denominada Liceu. Permaneceu em Atenas at 323 a.C. quando, com a morte
de Alexandre, Aristteles e as pessoas suspeitas de terem colaborado com os
macednicos passaram a sofrer perseguies. Aristteles, acusado de impie-
dade, parte para Eubia (em Caleis), terra natal de sua me, sem esperar
julgamento. No ano seguinte, em 322 a.C, Aristteles morreu.
H uma controvrsia se, no incio de sua obra, Aristteles assumiu a
teoria das idias de Plato para posteriormente rejeit-la, o que implicaria a
existncia de dois momentos na elaborao de seu pensamento. certo, en-
78
tretanto, que, durante o tempo em que ocupou a direo do Liceu, produziu
um conjunto de idias que se afastava das idias platnicas, nas explicaes
e no mtodo que utilizou.
Aristteles abandonou a noo de um mundo das idias, separado e
modelo do mundo sensvel. Apesar de - como Plato - enfatizar que o co-
nhecimento cientfico se referia a conceitos universais, Aristteles diferia de
Plato no papel que atribua investigao do mundo sensvel na construo
de tais universais. Essa diferena entre ambos pode estar relacionada com os
modelos que cada um utilizou para a construo de conhecimento: Plato
enfatizou a matemtica, Aristteles a explicao dos seres vivos.
Plato e Aristteles diferiam tambm no que se refere poltica. Para
Plato, alm de objeto de conhecimento, a poltica era tambm objeto de
ao, j, para Aristteles, a poltica interessava apenas como objeto de estudo,
o que poderia estar relacionado ao fato de ser um estrangeiro e, portanto,
sem estatuto de cidado ateniense.
A obra escrita de Aristteles muito vasta. No entanto, boa parte dela
perdeu-se, restando, basicamente, trabalhos que aparentemente serviram de
base aos ensinamentos no Liceu. essa a razo porque, inclusive, se divergiu
tanto a respeito da aceitao ou no, por parte de Aristteles, do platonismo,
em seus primeiros escritos. Seu trabalho vasto tambm pela ampla gama
de temas que aborda. Alm de temas como astronomia, fsica, biologia, bo-
tnica, poltica, discute, em vrios momentos, temas relativos filosofia, me-
recendo destaque sua preocupao com o mtodo de investigao. Tambm
caracterstica de seus escritos sua preocupao em historiar o desenvolvi-
mento do pensamento grego. Parece haver a no apenas uma tentativa de
sistematizar, por meio da descrio, o desenvolvimento do pensamento que
o precedeu, mas, tambm, uma tentativa de demonstrar que seu pensamento
sintetizava e ampliava o que havia sido produzido e que podia, ento, ser
aceito sem reserva.
Desde o perodo arcaico, duas questes centrais vinham sendo debatidas
pelos pensadores gregos: a questo da unidade ou multiplicidade do universo
e a questo de seu movimento ou no. Essas questes foram fundamentais
tambm para Aristteles. Sua resposta a esses problemas no foi dada, no
entanto, sem antes avaliar e comparar as posies defendidas por seus pre-
decessores. Isso no quer dizer que Aristteles tenha usado como parte de
seu mtodo de investigao a investigao histrica, mas apenas que consi-
derava importante tornar claro que os problemas que abordava eram legtimos
e que as respostas que fornecia superavam as anteriores. Com relao que_s-
to do movimento ou no da natureza e de sua essncia, por exemplo, Aris-
tteles parte da caracterizao da posio imobilista de Parmnides, que pos-
79
tulava a inexistncia do no-ser e negava qualquer possibilidade dejmoyi-
mentodoser. Aristteles afirma que: "(...) convencido de que, alm do ser,
o no-ser no coisa alguma, ele pensa que, necessariamente, existe uma
nica coisa, o ser, e nada mais" {Metafsica, A, V, 11).
Sobre o mesmo tema, afirmava que os atomistas, como Demcrito e
Leucipo, supondo a existncia do no-ser, consideravam-no condio de exis-
tncia do movimento, e afirmava: ambos
(...) reconhecem como elementos o pleno e o vazio, a que eles chamam o ser
e o no-ser; e ainda, destes princpios, o pleno e o slido so o ser, o vazio
e o raro o no-ser, (por isso afirmam que o ser no existe mais do que o
no-ser, porque nem o vazio [existe mais] que o corpo), e estas so as causas
dos seres enquanto matria. {Metafsica, A, IV, 7)
Referindo-se teoria das idias de Plato, Aristteles no apenas anun-
ciava sua diferena como discutia a relao entre este e os pitagricos. Aqui,
tornava claro como essa concepo de idia marcava o sistema platnico em
ralao soluo do problema sobre a multiplicidade e o movimento. Sobre
Plato afirmava:
Tendo-se familiarizado, desde sua juventude, com Cr atilo e com as opinies
de Herclito, segundo as quais todos os sensveis esto em perptuo fluir, e
no pode deles haver cincia, tambm mais tarde no deixou de pensar assim.
Por outro lado, havendo Scrates tratado as coisas morais, e de nenhum modo
do conjunto da natureza, nelas procurando o universal e, pela primeira vez,
aplicando o pensamento s definies, Plato, na esteira de Scrates, foi tam-
bm levado a supor que [o universal] existisse noutras realidades e no nal-
guns sensveis. No seria, pois, possvel, julgava, uma definio comum de
algum dos sensveis, que sempre mudam. A tais realidades deu ento o nome
de "idias", existindo os sensveis fora delas, e todos denominados segundo
elas. E, com efeito, por participao que existe a pluralidade dos sinnimos,
em relao s idias. Quanto a esta "participao ", no mudou seno o nome:
os pitagricos, com efeito, dizem que os seres existem imitao dos nmeros,
Plato, por "participao", mudando o nome; mas o que esta participao
ou imitao das idias afinal ser, esqueceram todos de o dizer. Demais, alm
dos sensveis e das idias diz que existem, entre aqueles e estas, entidades
matemticas intermdias, as quais diferem dos sensveis por serem eternas e
imveis e das idias por serem mltiplas e semelhantes, enquanto cada idia
, por si, singular. {Metafsica, A, VI, I, 2, 3)
4 Neste captulo, as citaes de Aristteles, com exceo daquelas que fazem outra in-
dicao, foram retiradas do volume Aristteles, coleo O s Pensadores (Pessanha, 1979).
80
Para Aristteles, essas eram questes importantes porque se propunha
a construir um sistema explicativo e para isso propunha tambm um mtodo
para conhecer os fenmenos que o rodeavam. Aristteles no pensava que o
conhecimento dos fenmenos da natureza fsica exclusse ou fosse incompa-
tvel com o conhecimento do homem ou da sociedade. Mais que isso, no
supunha que a investigao de uma dessas classes de fenmenos fosse muito
diferente da outra. A partir dessas suposies, tornava-se importante discutir
e estabelecer bases seguras para a produo de conhecimento e, para ele, esta
iniciava-se na proposio dos princpios relativos caracterizao dos objetos
que poderiam ser conhecidos - todos os fenmenos da natureza.
A primeira questo a responder dizia respeito a sua concepo sobre
o mundo fsico e sua realidade. Aristteles, ao definir o que entendia por
Ser, no apenas afirmava que os fenmenos da natureza tm uma essncia
que prpria de cada um deles, mas tambm traduzia de uma nova forma
as questes relativas unidade e multiplicidade e ao movimento e imutabi-
lidade do ser. A palavra ser tinha, para Aristteles um significado prprio.
A palavra ser usa-se em muitos sentidos (...) pois, de uma parte, significa a
essncia e a existncia individual; da outra, a qualidade, a quantidade e cada
um dos outros atributos de espcie semelhante. Mas, ainda empregando a
palavra ser em tantos significados, evidente que a essncia o ser primeiro
entre todos estes, como a que manifesta a substncia. De fato, quando quere-
mos expressar uma qualidade de determinado ser, dizemos, por exemplo, que
bom ou mau, mas no de trs cavados ou homem; quando queremos exprimir
a essncia, no dizemos: branco ou quente ou de trs cavados, mas, por exem-
plo, homem ou Deus. As outras determinaes chamam-se seres, porque so
as quantidades, ou as qualidades ou as afeces ou algo semelhante, do ser
assim considerado. (...) Nenhuma delas existe naturalmente de per si nem pode
separar-se da substncia. (...) Mas parecem antes seres somente porque nelas
h sujeito determinado, e este a substncia ou o indivduo, que aparece em
tal categoria: e, sem ele no se pode dizer: bom, ou sentado (ou algo seme-
lhante). E claro, ento, que s por meio deste pode existir cada um deles. De
modo que a substncia ser o primeiro ser, e no qualquer ser, mas o ser
simplesmente. Logo, em muitos sentidos diz-se o primeiro; no obstante, a
substncia primeira entre todos pelo conceito, pelo conhecimento e pelo
tempo. Nenhum dos outros predicados pode existir separadamente, mas uni-
camente ela. E primeira pelo conceito, porque necessrio que o conceito
de substncia seja inerente ao de cada coisa. E quando sabemos o que uma
coisa, somente ento que acreditamos saber cada coisa (...) melhor do que
quando sabemos qual, e quanto e onde, pois tambm destas coisas conhecemos
cada uma quando sabemos que a quantidade ou a qualidade, etc. E por isto,
antes, agora e sempre, a investigao e o problema: "que o ser", eqivale
a isto: "que a substncia". (Metafsica, VII, 1, 1028, em Mondolfo, 1967)
81
Para Aristteles, o ser, e cada ser, continha uma substncia que o definia,
que era sua essncia.~Essa substncia, constitutiva e indispensvel existncia
do ser, caracterizaria aquilo que era definidor do fenmeno, seus atributos,
e lhe daria realidade. Compreender essa substncia era a tarefa do conheci-
mento.
A palavra substncia emprega-se pelo menos em quatro sentidos, se no em
mais: de fato, parece ser substncia de cada coisa, a essncia, o universal, o
gnero e, em quarto lugar, o seu sujeito. O sujeito aquele a respeito de quem
se enuncia alguma coisa; ao contrrio, ele no enuncia nada de outrem. (...)
Por isso, deve determinar-se primeiro, porque o sujeito parece ser a substncia
primeira por excelncia. (Metafsica, VII, 3, 1029, em Mondolfo, 1967)
Aristteles no atribua, como o fez Plato, a essncia da coisa a algo
externo a ela, mas considerava que cada coisa tinha uma essncia que estava
nela prpria.
A substncia, compreendida no sentido mais prprio, em primeiro lugar e por
excelncia, o que no se predica de nenhum sujeito nem se encontra em
nenhum sujeito; por exemplo: um homem determinado, um cavalo determinado
(...). Substncia por excelncia, porque so o sujeito de todas as outras rea-
lidades, e todas as outras realidades delas se enunciam ou nelas se encontram
(...) cada substncia parece designar um determinado ser real. (Categoria, c,
5, 2-3, em Mondolfo, 1967)
Essa essncia permanecia sempre a mesma, sem alterar-se, apesar de
um ser comportar diferentes modos de ser. Assim, para Aristteles, tudo o
que existe englobaria o que e o que poderia vir a ser. Todas as coisas, os
objetos, os fenmenos, eram seres em ato, mas continham em si, ao mesmo
tempo, determinadas possibilidades: potncias.
(...) cada ser transmuta-se do ser em potencial no ser em ao: por exemplo,
do branco em potncia ao branco em ao. (...) Assim, no somente possvel,
sob certo ponto de vista, o nascer do no ser, mas pode-se tambm dizer que
tudo nasce do ser: bem entendido, do ser em potncia, ou seja, do no ser
em ao (...) assim, se a matria nica, chega a ser ao aquilo de que a
matria era potncia. {Metafsica, XII, 2, 1069, em Mondolfo, 1967)
Com essa noo, o conhecimento da essncia tomado o conhecimento
de algo que est no objeto, e o objeto que se conhece , para Aristteles,
aquilo que e no algo que possa no estar nas coisas que os homens ex-
perienciam. As noes de ato e potncia tambm permitem a Aristteles
resolver a questo do movimento; afirmando que, embora os fenmenos mu-
dem e se transformem, permanecem os mesmos em sua essncia e que s
se transformam porque essa a maneira de se realizarem, isso , de perma-
82
necerem o que so, de permanecerem em sua essncia, imutveis. O movi-
mento torna-se, assim, parte do ser e era importante, ento, que se estabele-
cesse como ele ocorria. O movimento era, para Aristteles, a passagem da
potncia ao ato, era a possibilidade de que se revelasse num ser, que se
revelasse em ato, aquilo que ele trazia em potncia. Entretanto para que a
potncia se transformasse em ato, era necessrio que um ser j em ato, que
algo externo ao prprio fenmeno ou evento, provocasse o movimento. O
que provocava o movimento era uma causa, a chamada causa eficiente. Essa
causa, no entanto, exatamente por ser, de certa forma, exterior ao prprio ser
em movimento no poderia dar conta da concepo aristotlica de ser que
envolvia as noes de ato e potncia, de ser que continha em si todas as
suas possibilidades de transformao. Essa forma de compreenso do movi-
mento implicava a necessidade de se reconhecer outras causas. Aristteles
afinpt>u-a-eiitncia de outras trs: causa formal, causa material e causa final.
A(causa formal ^ra o que_Wnava um ser ele mesmo, o que o iderj
consigo mesmo; a gausamatna) era a matria de que era feito;
era o estado final, o fim para o qual o ser se dirige.
E evidente, ento, que necessitamos adquirir a cincia das causas primeiras
(pois dissemos que sabemos cada coisa, quando cremos conhecer a causa
primeira); mas a palavra causa usa-se em quatro sentidos, um dos quais
que consideramos como causa {"substncia e a essncia~Jformal_ (com efeito,
o porqu reduz-se por ltjmo ao conceito, e causa e princpio so o porqu
primeiro); o outro.) amatraj o suhslrato: um terceiro, aquele donde vem o
princpio dr^^oy\mpMntcm'si eficiente]) um quarto, a causa oposta a esta,
ou sejao fim e o bemjpois este e o fim de toda a gerao e de todo o
movimento). (Metafsica /, 3, 983, em Mondolfo, 1967)
Por exemplo, qual a causa do homem como matria? No talvez o mns-
truo? E qual como motor? No por acaso o esperma? E qual como forma?
A essncia. Qual como fim? A finalidade (do homem). Talvez estas duas l-
timas sejam a mesma coisa. {Metafsica, VIII, 4, 1044, em Mondolfo, 1967)
O conhecimento das causas era a tarefa primordial para a compreenso
do ser. Segundo Allan (1970):
Forma e matria tm de ser distinguidas e diferenciadas porque (...) so ambas
componentes de cada ente determinado. Em terceiro lugar, tem de descobrir-se
a origem da mudana (a "causa eficiente"). Em quarto lugar, deve indicar-se
a finalidade que o processo visa atingir (a "causa final"), (p. 44)
Alguns autores, ao discutir as quatro causas propostas por Aristteles,
reduzem-nas a duas; Bernhardt (1980), por exemplo, afirma:
83
(...) a causa material corresponde receptividade da matria, enquanto as outras
trs correspondem a diversos aspectos do papel da forma. De fato, a causa
formal identifica-se com a forma, na medida em que a forma descreve pro-
priedades que dela decorrem necessariamente; a causa final a forma, na me-
dida em que a forma, como objetivo e termo, descreve o processo que a conduz;
a causa eficiente ou motora ainda a forma, desta vez enquanto agente ou
causa no sentido moderno deste processo, pois uma forma sempre em ltima
anlise o agente especfico dos processos que condicionam o surgir de uma
forma idntica (a forma o agente de sua prpria repetio), (p. 105)
Mandolfo (1967) tambm afirma que as quatro causas poderiam, em
ltima instncia, ser reduzidas causa formal e causa material. A causa final
seria, numa certa medida, identificvel causa formal porque a finalidade
do ser , na verdade, dada por sua forma; do mesmo modo, a causa eficiente,
o agente, tambm uma forma em ao. A substncia do ser seria dada,
assim, pela unidade de sua forma e matria.
Essas noes - de forma e matria - esto subjacentes a toda a con-
cepo aristotlica de ser, de potncia e ato e de causa. So elas que permitem
a compreenso do ser como aquele que contm uma substncia, uma essncia
que o define e que o leva a transformar-se, embora essa mesma essncia no
seja passvel de alterao.
Produzir um objeto determinado extrair este objeto determinado de um subs-
trato inteiramente subsistente (...). [O artfice] d existncia a uma esfera de
bronze: produz nele a forma, e isto a esfera de bronze. (...) Logo, evidente
que o que surge no o que se chama espcie ou substncia, mas o encontro
que toma o nome da mesma, e que h uma matria implcita em toda coisa
em que se torna, e ora esta, ora aquela outra coisa. {Metafsica, VII, 8,
1033, em Mondolfo, 1967)
Comentando essa distino entre matria e forma, Brhier (1977) afirma:
Para essa essncia ou forma no h devenir; a forma da esfera de bronze, que
a forma esfrica, no nasce quando se fabrica a esfera de bronze. O nasci-
mento ou devenir consiste, pois, na unio de uma forma com um ser capaz de
receb-la; esse ser em potncia, que se torna ser em ato, depois de ter recebido
a forma, propriamente aquilo que Aristteles chama de matria (hyl). A
matria o conjunto de condies que devem ser realizadas para que a forma
possa surgir; a arca em potncia, ou, o que vem a dar no mesmo, a matria
da arca, a madeira, (p. 162)
As concepes aristotlicas de ser, de substncia, de causa, esto pre-
sentes na explicao que forneceu para a Terra e o universo. Aristteles pro-
ps uma fsica e uma astronomia que trazem a marca dessas suas concepes.
84
O Supunha que o universo era nico e finito. Esse universo era entendido como
A eterno (sem comeo ou fim). Nele se dispunham em esferas, os vrios pla-
\y netas e estrelas. Cada conjunto de corpos celestes estava disposto numa es-
fera. Essas esferas dispunham-se em forma concntrica em relao Terra,
tendo cada uma delas seu prprio movimento. Essas esferas, assim como os
corpos celestes que nelas estavam, eram compostas de uma substncia invi-
svel e indestrutvel - o ter. O nico movimento possvel nessas esferas era
o movimento circular, j que s esse movimento tornava vivel pensar que
^ j o universo fosse eterno (o movimento circular era considerado o nico mo-
^ A vimento que no tinha comeo, ou meio, ou fim) e que fosse ao mesmo
f ^QO tempo finito (o movimento circular sempre percorre o mesmo caminho). Tal
^ movimento e tais esferas to podiam ser mudados de nenhuma maneira ou
,>> por fora alguma, j que o ter de que se compunham era considerado in-
Qf destrutve.l. No interior e centro desse sistema estava a Terra e nessa primeira
u esfera encontrava-se toda a chamada regio sublunar. No limite extremo do
sistema estava a esfera que carregava as estrelas fixas. No mundo sublunar
todos os seres e a prpria Terra no eram compostos de ter, mas sim de
um ou de combinaes de quatro elementos bsicos - terra, ar, fogo e gua.
Embora a Terra fosse fixa e estivesse no centro do universo, os seres que
nela existiam s podiam executar movimentos retilneos, j que no eram
compostos de ter. A determinao dos movimentos possveis a cada ser ou
corpo dependia dos elementos que predominavam na sua composio. Havia
dois tipos de movimentos retilneos - para baixo (o que queria dizer, para o
centro da Terra); que era movimento natural aos seres compostos de terra ou
gua principalmente; e para cima (o que significa contrrio ao centro da
Terra), o movimento natural dos seres compostos principalmente de ar ou
fogo. Esses dependiam, para Aristteles, do peso (quanto mais pesado maior
velocidade) e os diferentes seres o(s) executavam espontaneamente para atin-
gir seus chamados lugares naturais (lugares para os quais tendiam, por sua
prpria natureza, atingindo o repouso quando atingiam tais lugares). Tal mo-
vimento (ou repouso) s podia ser mudado ou interrompido quando algo
externo ao prprio ser ou corpo (no caso outro ser ou corpo) aplicasse a ele
alguma fora, constituindo assim os chamados moAmentos no-naturais.
O s seres na Terra eramjldidos envtoimado (as plantas, os animais
e o prprio homem) ^inanimados] (os minerais). O que orientava o movi-
mento dos seres animados, ~(Jue lhes dava finalidade, era sua alma, sua
forma (psique). J os seres inanimados no eram vistos como regidos por
finalidades impressas neles mesmos, eram regidos pela natureza (physis).
A natureza parte dos seres inanimados para os animais, em graus to pequenos
que, na continuidade, no se percebe a qual dos dois campos pertencem os
85
de limite e os intermedirios, porque depois do gnero dos inanimados segue
primeiro o das plantas, e dentre estas, uma difere da outra porque parece que
participa mais da vida; e todo o gnero, em comparao com os outros corpos
(inanimados) parece quase animado; em confronto com os animais, inanimado.
A passagem destas para os animais contnua (...) pois algumas espcies
marinhas propem o problema para saber se so animais ou plantas, porque
se acham unidas ao solo, e muitas delas, arrancadas ao solo, morrem. (...)
Sempre por pequena diferena parece que uma antes da outra tenha mais vida
e movimento. (Hist. Anim., VIII, 1, 588, em Mondolfo, 1967)
Havia, para Aristteles, trs tipos de movimentos: os movimentos ce-
lestes, os vitais e os naturais, a cada um correspondendo um motor diferente.
O s movimentos vitais e naturais correspondiam aos seres e fenmenos do
mundo sublunar. No entanto, todos os trs motores compartilhavam uma mes-
ma caracterstica: eram imveis. O sistema aristotlico consistia, assim, numa
hierarquia em que corpos inferiores dependiam de corpos a eles imediata-
mente superiores, e assim sucessivamente, de forma que era do primeiro
motor que, em ltima instncia, se transmitia o movimento do cu at a
Terra.
Quanto ao movimento dos corpos na Terra, Aristteles no o pensava
como movimento de corpos apenas no espao. Para ele, esses corpos tambm
estavam sujeitos a mudanas de qualidade e alteraes de quantidade. A Ter-
ra, assim como o restante do universo aristotlico, era vista como eterna,
mas nela os seres e fenmenos estavam constantemente transformando-se
porque os elementos que os compunham se transformavam uns nos outros.
Essas transformaes ocorriam de maneira circular, de forma que o fogo, por
exemplo, transformava-se em ar, este em gua e a gua em terra, que por
sua vez voltava a ser fogo. Dessa forma, os fenmenos da natureza, na Terra,
acompanhavam, como um todo, o movimento das esferas celestes do universo.
De qualquer maneira, o movimento (seja a mudana qualitativa, quan-
titativa, seja o deslocamento no espao) era devido a uma finalidade e, por
isto, jamais poderia ultrapassar as potencialidades j dadas e imutveis em
cada ser. Isso valia para a fsica com suas noes de movimentos naturais e
valia tambm para a biologia aristotlica.
5
Aristteles supunha que os seres
vivos se organizavam em graus crescentes de complexidade e que as dife-
renas entre as espcies prximas eram mnimas, o que parecia significar um
5 Segundo Allan (1970), Aristteles distingue apenas trs cincias tericas: fsica, mate-
mtica e a filosofia primeira. No entanto, seus sistemas contm explicaes e dados sobre
uma infinidade de campos que modernamente se constituram em cincias especficas. Da
o costume de se falar em uma astronomia, uma fsica, uma biologia, uma zoologia, uma
botnica arstotlicas, etc.
86
contnuo. No entanto, as caractersticas de cada espcie e as diferenas entre
elas eram consideradas imutveis, no havendo qualquer possibilidade de
transformao ou evoluo no mundo dos seres vivos. No mais alto grau de
complexidade, encontrava-se o homem, cuja distino fundamental em rela-
o s outras espcies era a capacidade de deliberadamente escolher e racio-
cinar.
No homem, como em todo ser vivo, corpo e alma compunham uma
unidade. A alma garantia a vida, a realizao das funes vitais; a alma era
a forma, enquanto o corpo era a matria que precisava dessa forma para
tornar-se ato. Era a forma, a alma, que dava vida, que emprestava finalidade
aos corpos animados. E, assim como no se podia pensar em matria desti-
tuda de forma, tambm o contrrio era sem sentido. Dessa maneira, Arist-
teles afastava-se de Plato tambm no que se referia concepo de alma:
j que no considerava o corpo como priso da alma e negava a noo de
transmigrao da alma, a questo da imortalidade da alma tem, pelo menos,
de ser discutida diferentemente em Aristteles. Corpo e alma transformavam-
se em unidade aparentemente indissocivel, e a alma adquiria, de certa ma-
neira, um novo estatuto, mais natural, como indica a concepo aristotlica
de que o estudo da alma pertinente ao campo da fsica.
A alma aquilo no qual primeiro vivemos, sentimos e pensamos, pelo que ela
ser razo e forma, no matria ou sujeito... A matria potncia, a forma
a ao (entelqui^, e, como o ser animado resulta de ambos, o corpo no
ao da alma, mas esta ao de um certo corpo (...) Por isso, a alma
o ato primeiro de um corpo natural que tem a vida em potencial. Este o
corpo orgnico (...) de modo que a alma ser a ao primeira do corpo natural
orgnico e por isso no se deve pesquisar se a alma e o corpo so uma s >
coisa, como (no se deve investigar se so um) a cera e a figura, nem em
geral a matria de cada coisa e aquilo de que ela matria. (De analticos,. J?
II, 1, 2, 412, em Mondolfo, 1967) /f *?
Todo ser vivo era, assim, portador de uma alma. Nas plantas, a almatfK'
permitia-lhes a nutrio e a reproduo (funo nutritiva). O s animais infe- ^
riores tinham ainda, pelo menos, alguns sentidos e a capacidade de mover-se ^
para se nutrir e reproduzir (funes sensorial e motriz). A alma humana, alm
de todas essas capacidades, tinha a faculdade da razo (funo pensante).
Essa funo parecia envolver, para Aristteles, tanto a faculdade de intuir
verdades (a mais superior de todas as capacidades), como as faculdades cog-
nitivas, intelectivas, que lhe permitiam deliberar, deduzir, raciocinar.
Em alguns seres acham-se presentes todas as faculdades da alma; em outros
algumas, e em alguns, uma somente: e chamamos faculdade nutrio, ao
apetite, sensibilidade, locomoo, ao pensamento. (...) E necessrio inves-
ti
tigar a causa pela qual se acham assim em srie: pois a necessidade no se
d sem a faculdade nutritiva; mas, nas plantas, a nutritiva est separada da
sensitiva; de outra parte, sem tato no se exerce nenhum dos outros sentidos,
porm o tato existe sem os outros. (...) Entre os seres sensveis, alguns
possuem locomoo, e outros, no; enfim, pouqussimos possuem raciocnio
e pensamento: aqueles, de fato, entre os mortais, que possuem raciocnio, pos-
suem tambm todas as outras faculdades; mas os que possuem somente uma
no tm raciocnio. {De analticos, II, 3, 414, em Mondolfo, 1967)
Segundo Allan (1970), "A cada nvel, numa sucesso interminvel,
nascem indivduos que lutam para se desenvolverem at a maturidade e, uma
vez isto conseguido, lutam para exibir sua 'energia' caracterstica ou atividade
por um perodo de tempo prprio da respectiva espcie" (p. 64). Essa afir-
mao torna clara a concepo aristotlica finalista e a concepo_de_gue
tudo , num certo sentido, imutvel e eterno, j que as prprias mudanas
de cada ser se repetem na natureza com inexorvel preciso. So essas noes
que caracterizam o estudo dos seres animados como um estudo que exige
classificao e ordenao, a fim de que se descubram em cada ser sua forma,
seus atributos essenciais. A compreenso dos seres animados dava-se, para
Aristteles, a partir dos seres superiores, que continham, sempre, os graus
de organizao da matria e da forma dos seres inferiores, reproduzindo-se,
assim, na Terra, e no estudo dos seres terrenos, a concepo hierarquizada
j existente no mundo celeste. Aristteles classificava os seres pela comple-
xidade da sua alma. Essa classificao compatvel com uma concepo
teleolgica, em que cada um e todos os indivduos cumpriam um determinado
fim, e compatvel tambm com uma concepo vitalista em que se supe
uma mudana qualitativa dos seres inanimados aos seres animados, no ex-
plicvel em termos fsicos.
/ O mundo e o universo, da maneira como Aristteles os via, e que
acabou por imperar no mundo ocidental por quase vinte sculos, eram finitos,
hierarquizados, governados pela finalidade e neles imperavam as diferenas
qualitativas. Nesse universo hierarquizado, a Terra e suas criaturas eram, de
alguma forma, inferiores qualitativamente se comparadas com o mundo su-
pralunar: s movimentavam-se de maneira retilnea, compunham-se e cor-
)
rompiam-se. Sua finitude estabelecia fronteiras claras e precisas, que s fa-
ziam aumentar a pequenez e a distncia qualitativa que separavam homens
de astros, de forma que a ao humana s seria possvel dentro de limites
muito estreitos.
Aristteles dividiu o universo em fenmenos no equivalentes, mas
todos sujeitos a leis. Suas concepes de causa, de movimento, de potncia
e ato representam uma tentativa de explicao racional do universo, um es-
88
foro considervel de criar um sistema explicativo natural e no divinizado
referente ao homem e ao mundo.
O pensamento de Aristteles no se esgotou na sua concepo de mun-
do ou na elaborao de explicaes referentes aos mais diversos fenmenos.
Ao contrrio, parte fundamental de sua obra, que exerceu forte influncia
sobre pensadores posteriores, refere-se a como se chega ao conhecimento.
Aristteles ocupou-se no apenas com a explicao de que faculdades per-
mitiam ao homem chegar ao conhecimento rigoroso. Alm disso, estabeleceu
o que considerava o mtodo que os homens deveriam utilizar para chegar a
esse conhecimento.
O processo de conhecimento, para Aristteles, iniciava-se da sensao.
Por natureza, seguramente, os animais so dotados de sensao, mas, nuns,
da sensao no se gera a memria, e noutros, gera-se. Por isso, estes so
mais inteligentes, e mais aptos para aprender do que os que so incapazes de
recordar. Inteligentes, pois, mas sem possibilidade de aprender, so todos os
que no podem captar os aons, como as abelhas, e qualquer outra espcie
parecida de animais. Pelo contrrio, tm faculdade de aprender todos os seres
que, alm da memria so providos tambm desse sentido. Os outros [animais]
vivem portanto de imagens e recordaes, e de experincia pouco possuem.
Mas a espcie humana [vive] tambm de arte e de raciocnios. E da memria
que deriva aos homens a experincia: pois as recordaes repetidas da mesma
coisa produzem o efeito duma nica experincia, e a experincia quase se
parece com a cincia e a arte. Na realidade, porm, a cincia e a arte vm
aos homens por intermdio da experincia, porque a experincia, como afirma
Plos, e bem, criou a arte, e a inexperincia, o acaso. E a arte aparece quando,
de um complexo de noes experimentadas, se exprime um nico juzo univer-
sal dos [casos] semelhantes. Com efeito, ter a noo de que a Clias, atingido
de tal doena, tal remdio deu alvio, e a Scrates tambm, e, da mesma
maneira, a outros tomados singularmente, da experincia; mas julgar que
tenha aliviado a todos os semelhantes, determinados segundo uma nica es-
pcie, atingidos de tal doena, como os fleumticos, os biliosos ou os inco-
modados por febre ardente, isto da arte. Ora, no que respeita vida prtica,
a experincia em nada parece diferir da arte; vemos, at, os empricos acer-
tarem melhor do que os que possuem a noo, mas no a experincia. E isto
porque a experincia conhecimento dos singulares, e a arte dos universais;
e, por outro lado, porque as operaes e as geraes todas dizem respeito ao
singular. No o Homem, com efeito, a quem o mdico cura, seno por aci-
dente, mas Clias ou Scrates, ou a qualquer um outro assim designado, ao
qual acontece tambm ser homem. Portanto, quem possua a noo sem a
experincia, e conhea o universal ignorando o particular nele contido, enga-
nar-se- muitas vezes no tratamento, porque o objeto da cura , de preferncia,
o singular. No entanto, ns julgamos que h mais saber e conhecimento na
arte do que na experincia, e consideramos os homens de arte mais sbios
89
que os empricos, visto a sabedoria acompanhar em todos, de preferncia, o
saber. Isto porque uns conhecem a causa e os outros no. Com efeito os
empricos sabem "o que", mas no o "porqu"; ao passo que os outros sabem
o "porqu". Por isso ns pensamos que os mestres de obras, em todas as
coisas, so mais apreciveis e sabem mais que os operrios, pois conhecem
as causas do que se faz, enquanto estes, semelhana de certos seres inani-
mados, agem, mas sem saberem o que fazem, tal como o fogo [quando] queima.
Os seres inanimados executam, portanto, cada uma das suas funes em vir-
tude de uma certa natureza que lhes prpria, e os mestres pelo hbito. No
so, portanto, mais sbios os [mestres] por terem aptido prtica, mas pelo
fato de possurem a teoria e conhecerem as causas. Em geral a possibilidade
de ensinar indcio de saber; por isso ns consideramos mais cincia a arte
do que a experincia, porque [os homens de arte] podem ensinar e os outros
no. Alm disso, no julgamos que qualquer das sensaes constitua a cincia,
embora elas constituam, sem dvida, os conhecimentos mais seguros dos sin-
gulares. Mas no dizem o "porque" de coisa alguma, por exemplo, porque o
fogo quente, mas s que quente. {Metafsica, A, I, 2 a 9)
Assim, alm da sensao - o nvel mais elementar de conhecimento,
entendido como base para o conhecimento cientfico - , trs outros nveis
progressivos do conhecimento so possveis: a memria que se constituiria
na conservao das sensaes, e que tambm seria bsica para o conheci-
mento cientfico; a experincia que seria o conhecimento de relaes entre
fenmenos singulares e que, por isso, no poderia ainda ser chamado de
cincia; e, finalmente, o conhecimento dos universais que envolveria o co-
nhecimento das causas das coisas, no enquanto ocorrncias isoladas, mas
enquanto universais. Para Aristteles, s esse ltimo tipo de conhecimento
constitua-se em conhecimento cientfico propriamente dito.
O motivo que nos leva agora a discorrer este: que a chamada fosofla
por todos concebida como tendo por objeto as causas primeiras e os princ-
pios; de maneira que, como acima se notou, o emprico parece ser mais sbio
que o ente que unicamente possui uma sensao qualquer, o homem de arte
mais do que os empricos, o mestre de obras mais do que o operrio, e as
cincias teorticas mais do que as prticas. Que a filosofia seja a cincia de
certas causas e de certos princpios evidente. {Metafsica, A, I, 12)
Esse conhecimento do ser enquanto ser, esse conhecimento de univer-
sais, que implicava a formulao de conceitos, s era possvel, para Arist-
teles, por meio da razo, do uso sistemtico do raciocnio.
O conhecimento cientfico um juzo sobre coisas universais e necessrias, e
tanto as concluses da demonstrao como o conhecimento cientfico decorrem
de primeiros princpios (pois cincia subentende apreenso de uma base ra-
cional). Assim sendo, o primeiro princpio de que decorre o que cientifica-
90
mente conhecido no pode ser objeto de cincia, nem de arte, nem de sabedoria
prtica; pois o que pode ser cientificamente conhecido passvel de demons-
trao, enquanto a arte e a sabedoria prtica versam sobre coisas variveis.
Nem so esses primeiros princpios objetos de sabedoria filosfica, pois
caracterstico do filsofo buscar a demonstrao de certas coisas. Se, por con-
seguinte, as disposies da mente pelas quais possumos a verdade e jamais
nos enganamos a respeito de coisas invariveis ou mesmo variveis se tais
disposies, digo, so o conhecimento cientfico, a sabedoria prtica, a sabe-
doria filosfica e a razo intuitiva, e no pode tratar-se de nenhuma das trs
(isto , da sabedoria prtica, do conhecimento cientfico ou da sabedoria fi-
losfica), s resta uma alternativa: que seja a razo intuitiva que apreende os
primeiros princpios. {tica a Nicmaco, VI, 6)
Para construir afirmaes universais e necessrias sobre os fenmenos,
para poder saber-lhes as causas (ou seja, para construir conhecimento cien-
tfico), Aristteles afirmava ser necessrio, em primeiro lugar, descobrir as
qualidades essenciais das coisas - seus atributos. Para conhecer os atributos,
supunha necessrio o uso dos rgos dos sentidos, a observao de fenmenos
singulares. A partir da, era ento possvel construir, por raciocnio indutivo,
asseres universais e necessrias sobre os fenmenos - construir conceitos,
base de toda a cincia, que deveriam, necessariamente, corresponder reali-
dade. O que possibilitava ao homem ascender, por via indutiva, da observao
e classificao dos fenmenos (pelas quais se faziam asseres particulares") dL ^
para conceitos e afirmaes necessrias e universais sobre os seres era uma r' N^
faculdade natural humana - a razo intuitiva. ^
Esse era o ponto de partida de todo conhecimento certo porque apenas
a razo intuitiva permitia ao homem apreender os primeiros princpios que
eram a base de todo conhecimento verdadeiro. Em relao matemtica, por
exemplo, Aristteles afirmava:
A matemtica, constitudos os princpios, forma a sua teoria em torno de uma
parte de sua matria prpria como linhas, ngulos inmeros e quaisquer das
outras quantidades considerando a cada uma delas, no enquanto entes mas
como contnuos... {Metafsica, XI, 4, 1061, em Mondolfo, 1967)
Tais p ^ p i o s refeH. . -, a,e,e
S
e r a m
p
r
p
ri
s * . dhcfc J
particular e referiam-se, tambm, aos princpios da demonstrao, dos quais (V )
o mais importante era, sem dvida, o princpio da identidade - " impossvel \& \
que cada coisa seja ou no seja ao mesmo tempo; e todas as outras propo- ^ \
sies do mesmo gnero" {Metafsica, III, 2, 996, em Mondolfo, 1967). Para $
Aristteles, tais princpios, c*mo j foi dito, no eram passveis de demons-
trao:
91
De tais princpios, por si mesmos, no se d demonstrao... Pois no pos-
svel derivar o raciocnio demonstrativo (silogismo) de algum principio mais
certo do que ele mesmo (princpio de demonstrar): o que seria necessrio, se
fosse possvel dar uma demonstrao em sentido prprio. (Metafsica, XI, 5,
1061, em Mondolfo, p. 1967)
Tendo como base esses princpios, tanto os particulares a cada cincia,
como os princpios que se referiam ao raciocnio demonstrativo, a cincia
buscava estabelecer demonstrativamente definies: "A definio concerne
ao que uma coisa e a sua essncia " (Analticos posteriores II; 3, 90, em
Mondolfo, 1967). "Uma definio uma frase que significa a essncia de
uma coisa" (Tpicos, I, S, 102a). O conhecimento cientfico era, portanto, o
conhecimento de universais (como para Scrates e Plato). O s universais
referiam-se forma, quilo que definia os fenmenos porque lhes emprestava
a um s tempo singularidade (a possibilidade de diferenci-lo de outros fe-
nmenos) e generalidade (a possibilidade de reconhec-lo sempre). Como
conhecimento do atributo essencial, o conhecimento cientfico referia-se
ao conhecimento de verdades imutveis, que constituam os prprios fen-
menos. (Aqui, mais uma vez, Aristteles afastava-se de Plato, para quem a
essncia tambm existia e era objeto do conhecimento, mas era, de certa
forma, exterior ao prprio fenmeno.)
Apenas porque o homem (diferentemente de Deus que tudo apreendia
intuitivamente) no era perfeito, necessitava, para produzir conhecimento,
usar de sua razo demonstrativa. O problema de como os homens chegavam
a descoberta de universais tornou-se assim, uma preocupao central de Aris-
tteles. Sobre isso afirma:
A induo o ponto de partida que o prprio conhecimento do universal
pressupe, enquanto o silogismo procede dos universais. Existem, assim, pon-
tos de partida de onde procede o silogismo e que no so alcanados por
este. Logo, por induo que so adquiridos. {tica a Nicmaco, VI, 143)
Para Aristteles, portanto, duas vias de raciocnio eram indispensveis
obteno de conhecimento cientfico (estabelecimento de conceitos, de uni-
versais): a induo e a deduo (o silogismo).
A induo
(...) a passagem dos individuais aos universais, por exemplo, o argumento
seguinte: supondo-se que o piloto adestrado seja o mais eficiente, e da mesma
forma o auriga adestrado, segue-se que, de um modo geral, o homem adestrado
o melhor na sua profisso. A induo , dos dois [induo e deduo], a
mais convincente e a mais clara; apreende-se mais facilmente pelo uso dos
sentidos e aplicvel grande massa dos homens. (Tpicos I, 12)
92
Para Aristteles, a induo no passava, no entanto, de um estgio
inicial e preparatrio do conhecimento cientfico, que permitia que se pudesse
estabelecer, a partir do exame de casos particulares, uma regra geral que
fosse vlida para casos no examinados. Nesse primeiro momento de elabo-
rao do conhecimento cientfico, pelo raciocnio indutivo, a partir de obser-
vaes, atingia-se uma definio, que deveria ser vlida para todos os casos,
observados e no-observados. O primeiro passo de cada cincia, para Aris-
tteles, consistia no estabelecimento dessas definies. De posse dessas ver-
dades era possvel e imprescindvel proceder deduo (ao silogismo),
demonstrao, em que se conclua, a partir de duas verdades, necessariamente
uma terceira verdade. A partir de princpios gerais respondia-se, assim, tam-
bm questo de porque tais princpios eram verdadeiros. Pelo silogismo,
pela deduo, no apenas se somavam afirmaes gerais, mas tambm de-
monstrava-se sua validade:
(...) as demonstraes propem supor o que uma coisa.. (...) A definio, pois,
declara o que uma coisa , e a demonstrao, porque ou no [verdadeira]
uma determinada coisa. (Analticos posteriores II, 3, 90, em Mondolfo, 1967)
Era o raciocnio demonstrativo, a deduo, portanto, que se constitua na via
de raciocnio mais importante para a construo do conhecimento cientfico.
A deduo, o silogismo, que permitia ao homem chegar a verdades e ex-
plic-las.
O silogismo um discurso em que, estabelecidas algumas coisas (premissas)
se deriva necessariamente algo diferente das premissas estabelecidas [conclu-
so], pelo fato mesmo de que elas so. Digo pelo fato de que elas so, no
sentido de que delas se deriva a concluso: e digo que delas se deriva, no
sentido de que no necessrio nenhum termo estranho para que se tenha ne-
cessidade (da concluso). (Analticos primeiros I, 24, em Mondolfo, 1967)
O silogismo permitia estabelecer critrios claros, explcitos e especficos, ou
seja, normas que garantiam a correo do raciocnio. Pelo silogismo era pos-
svel atribuir um conceito - os atributos de um ser particular -, pelo silogismo
era possvel descobrir a causa desse ser. O silogismo no tratava do contedo
do que se afirmava. A deduo, desde que baseada em princpios gerais ver-
dadeiros (e a cincia sempre deveria basear-se em princpios verdadeiros),
levaria a concluses tambm verdadeiras, desde que se seguissem as regras
formais estabelecidas para esse tipo de raciocnio. Ao mesmo tempo, para
Aristteles, apenas pela deduo, pelo silogismo, era possvel demonstrar
verdades sobre o ser e atingir o ideal de conhecimento cientfico, porque
apenas pela deduo era possvel articular definies e princpios e assim
ascender a afirmaes sobre o que um fenmeno e quais as suas causas.
93
Com essas concepes, mais uma vez Aristteles afastava-se de Plato. A
dialtica deixava de ser o mtodo de obteno de conhecimento cientfico
para converter-se em exerccio introdutrio desse processo.
Ao descrever dessa maneira o processo de obteno de conhecimento
cientfico e ao propor essas vias para sua consecuo, Aristteles no exclua
desse processo a observao, assim como no exclua a induo, o que
indicativo de uma menor desconfiana, por parte de Aristteles, dos dados
sensveis. No entanto, indubitavelmente, Aristteles atribua muito maior im-
portncia e considerava como fundamental no a experincia, mas o racio-
cnio, e como forma de raciocnio no a induo, mas a deduo por silo-
gismo. O conhecimento cientfico e cada cincia particular assumiam, assim,
o carter de um conhecimento de verdades demonstradas. A preocupao
central na construo de conhecimento passava a ser a correo lgica do
raciocnio empregado, embora Aristteles no tenha perdido de vista a noo
de que as verdades afirmadas pelas cincias deviam ser verdades que se
referissem aos fenmenos tal como realmente so.
Finalmente vale ressaltar alguns aspectos referentes concepo aris-
totlica de sociedade. Aristteles discordava, entre outras coisas, da organi-
zao econmica da cidade-Estado ateniense do seu tempo, voltada para o
comrcio e intercmbio com o exterior, que, segundo ele, mantinha a cidade
dependente e levava s guerras. Propunha que a cidade se organizasse em
tomo de uma economia natural, que devia se basear na famlia, o que tomaria
a cidade auto-suficiente na produo de bens agrcolas e de outros bens (oics
significa famlia, da a palavra economia). Discordava, ainda, das concepes
mais alargadas de cidadania e propunha restringir o estatuto de cidado que-
les indivduos completamente liberados de todo trabalho manual, no entran-
do nessa categoria os artesos e os lavradores. Apenas aos cidados estaria
reservada a prtica da virtude, que precisava ser exercitada para que se de-
senvolvesse a poltica. O trabalho manual devia ser executado por escravos
completamente submetidos a seus senhores. O s escravos eram vistos como
possuidores de almas diferentes, que os tornavam aptos ao trabalho e ser-
vido. A concepo de espcies fixas justificava a possibilidade de se manter
indefinidamente tal estrutura. Assim como a concepo aristotlica de conhe-
cimento como um conjunto de verdades imutveis demonstradas (e nesse
sentido quase reveladas), sua concepo de sociedade traz a marca da con-
templao de algo que no deve ser submetido a transformaes, de algo que
e que deve permanecer como tal para que se mantenha o equilbrio j
existente.
Ao analisar as diferentes propostas de constituio para a polis grega, mais
uma vez Aristteles anunciava sua viso social e poltica, e mais uma vez per-
cebe-se a relao dessa viso com sua concepo mais ampla de mundo:
94
Existem trs espcies de constituio e igual nmero de desvios -perverses
daquelas, por assim dizer. As constituies so a monarquia, a aristocracia,
e em terceiro lugar a que se baseia na posse de bens e que seria talvez apro-
priado chamar timocrtica, embora a maioria lhe chame governo do povo. A
melhor delas a monarquia, e a pior a timocracia.
O desvio da monarquia a tirania, pois que ambas so formadas de governo
de um s homem, mas h entre elas a maior diferena possvel. O tirano visa
sua prpria vantagem, o rei vantagem de seus sditos. Com efeito, um
homem no rei a menos que baste a si mesmo e supere os seus sditos em
todas as boas coisas. Ora, um homem em tais condies de mais nada precisa,
e por isso no olhar aos seus interesses, mas aos de seus sditos; pois o rei
que assim no for ter da realeza apenas o ttulo. Ora, a tirania o contrrio
exato de tudo isso: o tirano visa ao seu prprio bem. E evidente ser esta a
pior forma de desvio, pois o contrrio do melhor que o pior.
A monarquia degenera em tirania, que a forma pervertida do governo de
um s homem, e o mau rei converte-se em tirano. A aristocracia, por seu lado,
degenera em oligarquia pela ruindade dos governantes, que distribuem sem
eqidade o que pertence ao Estado - todas ou a maior parte das coisas boas
para si mesmos, e os cargos pblicos sempre para as mesmas pessoas, olhando
acima de tudo a riqueza; e destarte os governantes so poucos e maus, em
lugar de serem os mais dignos.
A timocracia, por seu lado, degenera em democracia. Ambas so co-extensivas,
j que a prpria timocracia tem como ideal o governo da maioria, e os que
no tm posses so contados como iguais aos outros. A democracia a menos
m das trs espcies de perverso, pois no seu caso a forma de constituio
no apresenta mais que um ligeiro desvio.
So estas, pois, as mudanas a que esto mais sujeitas as constituies, e estas
as transies menores e mais fceis.
Podem ser encontradas analogias das constituies e, por assim dizer, modelos
delas nas prprias famlias. Com efeito, a associao de um pai com seus
filhos tem a forma da monarquia, visto que o pai zela pelos filhos. A est por
que Homero chama a Zeus de "pai"; e o ideal da monarquia ser uma forma
paternal de governo. Entre os persas, no entanto, o governo dos pais tirnico,
pois ali os pais usam os filhos como escravos. Tirnico, igualmente, o go-
verno dos amos sobre os escravos, em que a nica coisa que se tem em vista
a vantagem dos primeiros. Ora, esta parece ser uma forma correta de go-
verno, mas o tipo persa pervertido, uma vez que diferentes so as modali-
dades de governo apropriadas a relaes diferentes.
A associao entre marido e mulher parece ser aristocrtica, j que o homem
governa como convm ao seu valor, mas deixa a cargo da esposa os assuntos
que pertencem a uma mulher. Se o homem governa em tudo, a relao dege-
nera em oligarquia, pois ao proceder assim ele no age de acordo com o
valor respectivo de cada sexo. Nem governa em virtude de sua superioridade.
95
As vezes, no entanto, so as mulheres que governam, por serem herdeiras; e
assim o seu governo no se baseia na excelncia, mas na riqueza e no poder,
como acontece nas oligarquias.
A associao de irmos assemelha-se timocracia, porquanto eles so iguais,
salvo na medida em que haja diferena de idades; e por isso, quando diferem
muito em idade, a amizade j no do tipo fraternal. A democracia
encontrada sobretudo nas famlias acfalas (onde, por conseguinte, todos se en-
contram num nvel de igualdade), e naquelas em que o chefe fraco e todos
tm licena de agir como entenderem. (tica a Nicmaco, VIII, 10)
As propostas polticas de Aristteles parecem refletir o momento his-
trico em que viveu, um momento de muita conturbao e em que a defesa
da ordem poderia significar a conservao de toda uma sociedade; mas, in-
dubitavelmente, refletem tambm sua concepo mais geral de mundo e de
conhecimento.
A influncia de Aristteles no foi importante apenas no perodo ime-
diatamente posterior a ele. Por muitos sculos sua viso de mundo, suas
explicaes e sua proposta metodolgica imperaram como modelo de cincia.
Indiscutivelmente, Aristteles foi responsvel por um imenso avano na dis-
cusso do processo de conhecimento. Ao abordar problemas que so centrais
construo do conhecimento, como a lgica, e ao construir um sis-
tema capaz de abarcar uma explicao do mundo fsico, do homem e um
mtodo de obteno do conhecimento, Aristteles construiu um paradigma
marcado por uma concepo de conhecimento eminentemente contemplativo,
que se refere a verdades imutveis sobre um mundo acabado, fechado e finito.
Um paradigma que, capaz de dar conta de todas as reas do conhecimento,
caracterizou-se por se constituir na forma mais acabada de pensamento ra-
cional que o mundo grego foi capaz de elaborar.
96
CAPITULO 4
O MUNDO EXIGE UMA NO VA RACIO NALIDADE,
RO MPE-SE A UNIDADE DO SABER
PERODO HELENSTTCO
O perodo clssico, no seu final, foi marcado por conturbaes rela-
cionadas a um conjunto de aspectos: a luta entre as cidades-Estado gregas
pela hegemonia; o confronto entre partidrios da unificao da Grcia e par-
tidrios da autonomia da polis; a necessidade de defesa contra invases ex-
ternas; e todos esses aspectos, permeados pela disputa entre os partidos De-
mocrtico e Aristocrtico. Possivelmente, aproveitando-se dessas conturba-
es, Filipe II invadiu o territrio grego e, em 338 a.C, derrotou os gregos
na batalha de Queronia. O domnio macednico encontrou apoio entre os
prprios gregos, tanto entre a aristocracia preocupada com a manuteno da
propriedade e do regime escravista como entre aqueles que viam no domnio
macednico a possibilidade de unificar a Grcia, tornando-a, assim, capaz de
enfrentar os persas.
O domnio do territrio grego e a expanso do Imprio Macednico
continuaram, a partir de 336 a.C, com Alexandre, filho e sucessor de Filipe
II. Com a morte de Alexandre, em 323 a.C, a disputa entre seus generais
dividiu o imprio em trs reinos principais que se mantiveram em luta com
o objetivo de estender seu domnio territorial. Ptolomeu conseguiu o domnio
do Egito, Arbia e Palestina; os sucessores de Antgono, o domnio da Ma-
cednia e do territrio grego; e Seleuco, o domnio da Sria, Mesopotmia
e sia Menor.
O Imprio Macednico caracterizou-se pela centralizao do poder em
torno de um monarca que tomava as decises e garantia a ordem. A esse
monarca atribua-se carter divino e prestava-se culto. A expanso do Imprio
Macednico levou criao de novos centros administrativos e econmicos
e fundao de novas cidades, como Alexandria, que gradualmente passaram
a ocupar papel relevante tambm dos pontos de vista cultural e poltico.
O domnio do Imprio Macednico sobre a Grcia marcou-se funda-
mentalmente por uma certa descaracterizao da polis grega que, agora como
parte de um imprio, deixou de ser centro de decises polticas, apesar de
se manter como centro econmico e administrativo.
O domnio do Imprio Macednico sobre a Grcia, vale notar, en-
tretanto, deu origem a uma fuso da cultura grega com a cultura oriental,
em que se observam uma expanso da cultura grega para o O riente e a
adoo de caractersticas da cultura oriental pelos gregos. Esse perodo
chamado perodo helenstico, e foi ento que, talvez pela primeira vez,
assistiu-se separao entre cincia e filosofia. Paralelamente ao desen-
volvimento do corpo de conhecimento hoje denominado filosofia e, de
certa maneira, independentemente dele, desenvolveu-se uma nova forma
de organizao do trabalho de produo de conhecimento (incio de uma
certa especializao, manuteno pelo Estado de uma instituio voltada
para o estudo e pesquisa, estabelecimento planejado de uma infra-estrutura
necessria pesquisa) que comeou a gerar um corpo de conhecimento
que hoje se denomina cincia. Mesmo os centros de difuso foram dife-
renciados, como mostra o desenvolvimento de diferentes escolas filosfi-
cas, concentradas em Atenas, e o desenvolvimento das cincias em Ale-
xandria.
As escolas filosficas, nesse perodo, caracterizaram-se por abandonar
a preocupao com a poltica e com a cidade e voltaram-se para o indivduo.
Havia uma forte preocupao com a salvao e a felicidade, que passaram a
ser vistas como possveis de serem obtidas de forma individual e subjetiva.
Essa preocupao orientou diferentes movimentos filosficos desse perodo,
dentre os quais trs so aqui destacados - o estoicismo, o epicurismo e o
ceticismo. Cada um desses movimentos props caminhos diversos para atingir
a salvao e a felicidade. Brun (1986) refere-se a essa diversidade de alter-
nativas propostas nas diferentes filosofias:
(...) num clima poltico conturbado as conscincias assistem aos debates e dis-
cusses dos filsofos que no chegam a dar-lhes o que elas esperam: uma
definio da verdade e do bem. (...) Poder-se-ia dizer que, em certo sentido,
o ceticismo de Pirro reflete bastante bem este estado de coisas. Pirro (...) declara
que preciso repelir toda a opinio, toda a crena para poder chegar indi-
ferena feliz, ataraxia, sabedoria silenciosa. nesta atmosfera que duas
escolas rivais - o epicurismo e o estoicismo - vo se propor a ensinar ao
homem os critrios da certeza, susceptveis de lhe dar regras de vida e de ao
capazes de o reconciliar com a natureza. por isto que esticos e epicuristas,
apesar de se oporem muitas vezes uns aos outro, tm uma divisa comum: viver
de acordo com a natureza. Mas estes dois naturalismos obtm-se por duas vias
diferentes (...). (p. 32)
98
O ESTOICISMO
Deves sempre lembrar qual a natureza do universo, qual a
minha, qual a relao entre esta e aquela, qual parte sou de
qual universo e que ningum te impede de fazer e dizer o que
conseqncia da natureza de que s parte.
Marco Aurlio
O estoicismo desenvolveu-se a partir de Zeno de Cicio (336-264 a.C),
fundador da escola, Cleanto de Assos (264-232 a.C.) e Crisipo (280-210 a.C).
As concepes que tais pensadores tinham acerca do mundo, do homem e
do processo de produo de conhecimento so conhecidas basicamente por
meio de seus seguidores, entre eles Sneca (4 a.C-65 d.C), Epiteto (50-130 d.C.)
e Marco Aurlio (121-180 d.C), propagadores do estoicismo que deixaram
uma obra escrita.
A filosofia estica propunha que a felicidade seria obtida por meio da
reconciliao com a natureza, o que para eles significava obedecer a ordem
dos acontecimentos que exprimem a vontade divina. Essa filosofia dividia-se
em trs partes - a lgica, a fsica e a moral - que os estoicos acreditavam
estar em ntima relao, de tal forma que nenhuma poderia ser entendida sem
a outra, j que se referiam a uma nica coisa, considerada de diferentes
pontos de vista.
Eles comparam a filosofia a um animal: os ossos e os nervos so a lgica, a
carne a moral, a alma a fsica. Ou ento eles a comparam com um ovo:
a casca a lgica, o branco a moral e o que se encontra no centro a
fsica. Eles a comparam ainda a um campo frtil: o muro que se encontra em
volta a lgica, o fruto a moral, a terra ou as rvores so a fsica (...).
(Digenes Larcio, VII, 40)
Uma das partes da filosofia, a fsica (physys), referia-se natureza que,
para os estoicos, no podia ser dissociada de Deus; ao contrrio, ambos eram
considerados como estando em ntima relao: todas as coisas expressavam
a presena de Deus; poder-se-ia dizer que Deus era a prpria natureza. Tudo
o que acontecia expressava sempre a racionalidade divina. Como afirma Long
(1984),
A Natureza no meramente um poder fsico, causa de estabilidade e mudana;
tambm algo dotado de racionalidade por excelncia. Aquilo que mantm o
mundo unido um Supremo ser racional, Deus, que dirige todos os aconteci-
1 O s trechos dos pensadores estoicos, citados neste captulo, foram retirados do livro Les
Stoiciens, textos escolhidos por Jean Brun, 1957.
QO
mentos afins que so necessariamente bons. Alma do mundo, mente do mundo,
Natureza, Deus - todos estes termos se referem a uma e mesma coisa - o
"fogo artista" no caminho do criar. (p. 148)
A natureza era considerada causa ltima de todas as coisas, uma causa
que estava no prprio mundo e no separada dele. Ao mesmo tempo em que
era a causa, a natureza se manifestava de forma diferente nas vrias coisas.
O mundo - o cu, a terra e os seres vivos, entre eles os homens e deuses -
era expresso da racionalidade divina, o que, para os esticos, implicava
consider-lo pertencente a uma ordem imutvel, perfeita e necessria; sendo
assim, nenhum acontecimento era visto como desordenado ou submetido ao
acaso. Tudo se submete causalidade; o prprio movimento, a mudana, era
a expresso da unidade do universo, a manifestao de sua racionalidade, j
que era essa racionalidade do universo que dava significado as coisas, inclu-
sive s aparentemente caticas ou incoerentes.
Eles chamam de natureza, tanto o que o mundo contm como o que produz
as coisas terrestres. A natureza uma maneira de ser que se move por si
mesma segundo razes seminais, produzindo e contendo as coisas que nascem
delas nos tempos definitivos e formando coisas semelhantes quelas donde foi
destacada. (Digenes Larcio, VII, 144-149)
Tudo na natureza era composto de dois princpios: um princpio pas-
sivo, a matria, substncia sem qualidades, e um principio ativo, a razo,
Deus que age sobre a matria dando-lhe qualidades, a qual recebe passiva-
mente tal ao, produzindo seres individuais.
H duas coisas de onde tudo provm: a causa e a matria; a matria perma-
nece inerte, preparada para tudo, mas devendo ficar inativa se ningum a
move, mas a causa, ou seja, a razo, forma a matria e a maneja sua
vontade, a partir dela produz diferentes coisas. Portanto, deve haver aquilo
de que algo feito e aquilo por que algo feito; este a causa, aquele a
matria. (Sneca, Cartas, 65)
Esses dois princpios - ativo e passivo - so indissociveis.
Para os esticos, Deus idntico matria, ou melhor Deus uma qualidade
inseparvel da matria e circula atravs da matria como o esperma circula
atravs dos rgos genitais. (Chalcidius em Arnim, Fragmentos dos antigos
esticos, I, n
B
87)
Baseados no suposto de que o calor responsvel pela vida e pelo
movimento, os esticos propem que Deus, a causa ativa de todas as coisas,
idntico ao fogo. "Zenon define a natureza como fogo artista (ignem ar-
100
tificiosum) procedendo com mtodo gerao das coisas " (Ccero, Da na-
tureza dos deuses, II, 22).
Desse fogo artista todas as coisa originaram-se e, para ele, todas as
coisas retornariam. Brhier (1977 e 1978) descreve o ciclo que assim se es-
tabelece no mundo:
A histria do mundo feita de perodos alternados, em um dos quais o deus
, supremo ou Zeus, idntico ao fogo ou fora ativa, absorveu e reduziu a si
mesmo todas as coisas, enquanto, em outro, anima e governa um mundo or-
denado (diacosmesis). O mundo, tal como o conhecemos, aniquila-se por uma
conflagrao que tudo faz reentrar na substncia divina. Depois, tudo recomea,
exatamente idntico ao que era, com os mesmos personagens e acontecimentos.
Eterno e rigoroso retomo que no d lugar a qualquer inveno, (pp. 49-50)
Do fogo nascem, por transformaes, quatro elementos: o fogo (quen-
te), o ar (frio), a gua (mido) e a terra (seco).
Deus, o esprito, o destino, Zeus so uma s coisa designada sob numerosos
nomes. No comeo, sendo em si ele transforma toda a substncia area em
gua e, do mesmo modo que uma semente est contida no seio da me, do
mesmo modo ele deposita na gua esta razo seminal do mundo tornando
assim a matria apta gerao de coisas que viro em seguida, depois ele
cria de incio quatro elementos: o fogo, a gua, o ar, a terra. (Digenes Lar-
cio, VII, 135)
"Os esticos dizem que entre os elementos uns so ativos, os outros
passivos, os ativos so o ar e o fogo, os passivos so a terra e a gua"
(Nemsius, De natura hominis, 164). S esses dois ltimos tm peso e man-
tm-se unidos pela ao dos dois elementos ativos - o fogo e o ar - que
constituem o pneuma, o princpio vital, o alento. A expanso devida ao fogo
e a contrao decorrente do frio produzem uma tenso que mantm a
unidade e a indissociabilidade do cosmo; esse sopro vital, que penetra todas
as coisas, pela tenso, garantiria que as partes do universo se mantivessem
juntas e que cada ser mantivesse sua individualidade.
Segundo os esticos, para que uma coisa exista ela precisa ser capaz
de sofrer e produzir mudanas. Todas as coisas esto ligadas entre si e so
determinadas por uma causa. "O que sem causa ou a espontaneidade no
existe em nenhuma parte" (Plutarco, As contradies dos esticos, 23). Como
eles supem que para que uma coisa possa sofrer ou produzir um efeito ela
precisa ser corporal; na natureza, tudo o que existe corpo. "Nenhum efeito,
pensa Zeno, pode ser produzido por uma natureza incorprea e nem o
agente nem o paciente no podem ser outra coisa que corpos" (Ccero,
Novos Acadmicos, II). "(...) todas as causas so corporais " (Plutarco?, Das
opinies dos filsofos, I, ).
101
A noo de corpo no pode ser confundida com a de matria, esta
um aspecto da corporeidade. A alma, as qualidade morais e o prprio Deus
so corpos iguais a qualquer coisa que existe. "Crisipo e Zenon dizem que
Deus, princpio de todas as coisas, corpo, o que h de mais puro; sua
providncia se estende atravs das coisas" (Hippolytus, Philos, I, 21).
Apesar de, afirmar que tudo o que existe corpo, os esticos apresentam
a noo de incorpreo, aquilo que no atua nem sofre nenhuma ao. "Os
esticos contam quatro espcies de incorpreos: o exprimvel, o vazio, o
espao e o tempo" (Sexto Emprico, Adversos matemticos, X, 218).
Para os esticos no existia vazio no mundo, mas o mundo est no vazio.
No existe mais que um s mundo limitado e deforma esfrica, com efeito
uma tal forma aquela que convm melhor ao movimento (...). No exterior
deste mundo h o vazio ilimitado que incorpreo. O incorpreo aquilo
que pode ser ocupado pelos corpos, contido pelos corpos mas no contm.
No mundo no h vazio, mas o mundo est em um (...). Alm disso o tempo
incorpreo, ele um inter\'alo do momento do mundo; o passado e o futuro
so ilimitados, o presente limitado. (Digenes Larcio, VII, 140)
Diferentemente dos incorpreos, cada corpo era definido por qualidades
que lhes eram prprias e por uma tenso interior que os caracterizava. O
mundo, assim, era composto por seres distintos, nenhum deles se asseme-
lhando entre si. A noo de indivduo era fundamental na filosofia estica,
uma vez que essa negava a existncia objetiva de universais, a natureza ex-
pressava-se por meio de particulares. "Todas as coisas tm seu carter pr-
prio (sui generis), nada idntico a outra coisa. Este o ponto de vista
estico " (Ccero, Primeiros acadmicos, XXVI).
Apesar de individuais, todos os corpos estavam em interao mtua, a
natureza era una e contnua. Como afirma Sneca "tudo est em tudo " (Ques-
tes naturais, III). Unificando Deus e natureza, os esticos supunham uma
simpatia universal, que expressava a presena de Deus. Governados pela ra-
zo divina, todos os seres estavam em harmonia. Cada ser teria um papel
nessa harmonia geral que envolvia seu destino.
O destino era visto como uma realidade natural, era a ordem do mundo
e a relao necessria que essa ordem dava a todos os seres. Uma cadeia
causai que ligava um fato ao outro era a expresso da ordem natural e imu-
tvel do mundo, o destino.
Crisipo diz que o Destino uma fora espiritual que atravs da ordem governa
e administra todo o universo; (...) o destino a razo do mundo, ou a lei de
todas as coisas que so no mundo regidas e governadas pela providncia, ou
a razo pela qual as coisas passadas foram, as coisas presentes so e as
coisas futuras sero. Os esticos dizem que o destino uma cadeia de causas,
102
ou seja uma ordem e uma conexo que no podem jamais ser foradas ou
transgredidas. (Plutarco?, Das opinies dos filsofos, I, XXVII)
O destino, que expressava a providncia divina, estabelecia para cada
coisa particular uma disposio que permitia concretizar uma finalidade que
lhe era prpria dentro da ordem universal. Cabia aos seres a resignao e o
conformismo a essa ordem, a essa harmonia, a essa simpatia universal. O s
sbios, por serem capazes de interpretar a ordem do universo, podiam prever
o futuro. Entretanto, os homens no deviam tentar mudar a cadeia de relaes
entre as coisas, no deviam alterar o destino. O mal podia nascer do destino
do homem que se opunha ordem divina e se recusava a agir de acordo
com a natureza, estes seriam os insensatos e os loucos. Para os esticos, o
mal era algo necessrio, pois para as coisas existirem era necessrio que
existisse seu contrrio. No haveria justia sem injustia, a verdade sem a
mentira.
O homem era o nico entre os seres no qual estava presente a racio-
nalidade como uma faculdade natural, uma vez que "A razo humana no
outra coisa que uma parte do esprito divino prolongado no corpo humano "
(Sneca, Cartas, 66, 12).
(...) a Natureza se manifesta ela mesma em uma relao diferente com respeito
a cada coisa. A prpria natureza racional de um lado a outro, mas aquilo
que rege uma planta ou um animal irracional no racional enquanto afeta a
estes seres vivos individuais. S est presente a racionalidade da Natureza nos
homens maduros, como algo que pertence sua natureza. No est na natureza
das plantas o trabalhar racionalmente, mas natureza do homem trabalhar as-
sim. (...) Tomada como um todo, como princpio retor de todas as coisas, a
Natureza eqivale ao logos. Mas se considerarmos os seres vivos particulares,
ainda que todos tenham uma "natureza", s alguns possuem razo como fa-
culdade natural. (Long, 1984, pp. 148-149)
O homem, por sua racionalidade, era capaz de conhecer a razo uni-
versal, o que lhe permitia viver de acordo com a natureza, o que significava
aderir estrutura do mundo. A sabedoria era a submisso ao mundo, Deus,
ordem necessria da natureza. O conhecimento dirigia-se a compreenso
dessa racionalidade divina para submeter-se a ela.
A lgica, uma outra parte da filosofia estica, no pode ser separada
da fsica, uma vez que tem como tema o logos, a razo. Ao conhecer, o
homem deveria fazer afirmaes que refletissem a ordem da Natureza. A
lgica era a cincia do discurso racional.
(...) um estico estudar como lgica tanto as regras de pensamento correto e
de argumento vlido - a lgica em sentido estrito -, como as partes da orao
pelas quais os pensamentos e argumentos se expressam. Conhecer ou saber
103
algo para os esticos ser capaz de afirmar uma proposio demonstrvel
como verdadeira, e assim a epistemologia se converte em um ramo da lgica
no sentido geral dado a este termo pelos esticos. (Long, 1984, p. 121)
A lgica era composta por uma retrica, na medida em que a raciona-
lidade para os esticos envolvia o uso articulado da fala, e uma dialtica,
que estudava a natureza real das coisas.
(...) A retrica para eles a cincia do bem falar nos discursos formais; a
dialtica a cincia do dilogo correto nas perguntas e respostas, por isto
que eles a definem como a cincia do verdadeiro e do falso e do que no
verdadeiro e no falso (...). (Digenes Larcio, VII, 42)
Para a produo de conhecimento, os esticos partiam do emprico,
uma vez que para eles no existia conhecimento a priori. Era necessrio um
longo perodo de vida para que a capacidade humana de falar e de pensar
se desenvolvesse. A mente nascia como uma folha de papel pronta a receber
impresses, e os objetos exteriores, agindo sobre os rgos dos sentidos,
causavam impresses que deixavam registros na mente, modificando-a. "Se-
gundo os esticos h objetos representados que tocam a nossa alma e se
gravam nela, como o branco e o preto (...)" (Sexto Emprico, Adversos ma-
temticos, VIII, 409). O s registros repetidos de um tipo de coisa formam os
conceitos. As impresses, que se originavam dos objetos reais, provocavam
representaes destes objetos, marcas ou sinais impressos na alma. Tais rep-
resentaes eram aceitas ou no pelos homens; quando eram aceitas dizia-se
que a alma deu assentimento, que voluntrio. Se essas representaes fos-
sem corretas chegar-se-ia compreenso (ou percepo) dos objetos.
"A representao uma impresso na alma, seu nome vem justamente
da impresso feita na cera por um anel" (Digenes Larcio, VII, 45-46).
Zenon diz vrias coisas novas relativas aos sentidos cujo exerccio, segundo
ele, era determinado pela impulso exterior (...) que ns podemos chamar
representao (visum). A estes objetos percebidos, e de algum modo recebidos
pelos sentidos, corresponde a afirmao do esprito. Este assentimento (assen-
sio) no dado a todas as representaes, mas apenas quelas que denotam,
por certo aspecto exato, sua correspondncia com os objetos reais que elas
possibilitam conhecer. Uma tal representao, considerada nela mesma, o
que ele chama compreensvel (comprehensibile). (Ccero, Novos acadmicos, I)
A captao fiel das coisas constitua o critrio de verdade. Era o con-
junto de percepes (o relacionamento delas) e a coerncia que estas adqui-
riam o que se chamava conhecimento.
Quando as modificaes produzidas na alma pelas sensaes estavam
em desacordo com o que as provocou, ou no eram fiis a elas, dizia-se estar
104
em erro e na paixo. A paixo consistiria em dar consentimento a uma re-
presentao errada.
A perverso do pensamento provm do erro e da nascem muitas paixes,
causas de problemas. Segundo Zenon a paixo um movimento desarrazoado
da alma e contrrio natureza, ou uma tendncia sem medida. (Digenes
Larcio, VII, 110)
A viso de mundo estica resultar em uma viso de lgica, de ava-
liao da verdade ou falsidade de uma proposio, muito diversa da avaliao
proposta pela lgica aristotlica. Segundo Brun (1986),
a cincia aristotlica versa sobre o geral, sobre as caractersticas comuns a um
certo nmero de indivduos, donde a frmula clebre "s h cincia do geral,
s h existncia do particular"; conhecer , em primeiro lugar, classificar e,
neste sentido, a histria natural com suas classificaes zoolgicas, botnicas
e mineralgicas, o tipo prprio da cincia aristotlica (...). Da que possamos
compreender o papel da lgica de Aristteles com todos os seus mecanismos
de silogismos: esta lgica versa sobre a extenso dos conceitos e procura des-
cobrir relaes de incluso ou excluso procedendo do particular para o geral
(induo), ou do geral para o particular (deduo), (p. 36)
A lgica estica no busca, como a aristotlica, atribuir um predicado
a um sujeito (como por exemplo, Scrates homem) com o objetivo de
inseri-lo no universal ou de encadear conceitos, conhecendo assim as causas
universais de coisas universais. A lgica estica dirige-se a enunciar acon-
tecimentos, a fazer afirmaes sobre relaes temporais. Para os estoicos, o
conceito, que envolve uma generalizao, no tem nenhuma realidade obje-
tiva, ele apenas um nome na medida em que os estoicos s atribuem exis-
tncias a indivduos. "Eles dizem que o geral no nada (...) com efeito o
Homem no nada, porque a generalidade no nada " (Simplcio, citado
por Brochard, Etudes de philos. ancienne et de philos. modern).
A lgica deveria servir no apenas para exprimir a ordem geral do
universo, mas tambm devia ser capaz de exprimir e permitir o raciocnio
sobre fatos particulares. As proposies na lgica estica, ao enunciar um
acontecimento, so simples, imediatas e no necessrias; descrevem algo so-
bre o sujeito que ocorre em certo tempo ou lugar, por exemplo: " dia",
"Scrates estuda". Elas so vlidas de acordo com a sua correspondncia
com as coisas, uma vez que os enunciados se baseiam em impresses dos
sentidos. O que a lgica busca definir implicaes de determinados fatos,
por exemplo: se dia, h luz. nesse sentido que a lgica dos estoicos
assumia como elemento mnimo e primordial a proposio e diferia da lgica
aristotlica que estabelecia relaes entre os termos que formam o predicado
105
e o sujeito das premissas e da concluso (por exemplo, na proposio "todo
homem mortal" o que se analisa a relao entre os termo "homem" e
"mortal"). A lgica estica vista como parte da natureza e no como uma
construo humana. As proposies so verdadeiras se exprimem relaes
entre coisas reais.
As proposies podem ser simples ou podem estar relacionadas. O s
esticos propem vrios tipos de proposies simples e vrias formas segundo
as quais as proposies podem estabelecer relaes entre fatos.
As questes, interrogaes ou coisas semelhantes no so nem verdadeiras
nem falsas, so as proposies que so verdadeiras ou falsas. Entre as pro-
posies umas so simples, as outras no (...). s proposies simples so
aquelas que consistem em uma proposio no equvoca, por exemplo: "E
dia "; as proposies no simples so aquelas que consistem em uma propo-
sio equvoca ou em vrias proposies em uma proposio equvoca, por
exemplo "se dia", em vrias proposies, por exemplo: dia, est claro.
Entre as proposies simples, h as declarativas, as negativas, as privativas,
as preditivas, as definidas e as indefinidas; entre as proposies no simples,
h a proposio condicional, a consecutiva, a coordenada, a disjuntiva, a
causai, a comparativa... Passemos s diferentes proposies no simples. (...)
a proposio condicional formada com a conjuno condicional se. Esta
conjuno anuncia que uma segunda proposio seguir primeira: "Se
dia est claro. " A proposio consecutiva (...) uma proposio dependente
da conjuno dado que, comeando por uma proposio e terminando numa
proposio, por exemplo: "Dado que dia est claro"; a conjuno fora a
segunda proposio e a estabelece. A proposio coordenada uma proposi-
o coordenada por uma conjuno de coordenao, por exemplo, " dia e
est claro". A proposio disjuntiva possui uma disjuno introduzida pela
conjuno de disjuno ou, por exemplo "ou dia ou noite". A conjuno
contm a falsidade de um dos termos. A proposio causai uma proposio
ligada por porque, por exemplo, "porque dia est claro"; necessrio en-
tender que a o primeiro termo a causa do segundo. O comparativo aumen-
tai ivo ligado pela palavra mais que liga duas proposies, por exemplo: "
mais dia do que noite". O comparativo diminutivo o contrrio do precedente,
por exemplo " menos noite do que dia". (Digenes Larcio, VII, 68-73)
A lgica estica supe a causalidade necessria da natureza decorrente
da racionalidade universal que controla todos os eventos csmicos, ou seja,
a cadeia causai entre os fenmenos, que ligam o passado, o presente e o
futuro. Segundo Brun (1986)
(...) so as relaes temporais que permitiro definir a sabedoria (...) para os
esticos, o tempo , no somente expresso da sabedoria divina, mas tambm
a expresso do dinamismo da vida universal e da sua harmonia. A sabedoria
106
, portanto, a submisso ao tempo, isto , vida, ao mundo e a Deus; ela
apoia-se sobre o conhecimento da necessidade; o geral, caro para Aristteles,
apenas uma palavra para os esticos, porque o que existe so os indivduos
e dois destes jamais sero idnticos; da que os esticos tenham substitudo
uma lgica da inerncia por uma lgica da conseqncia. Conhecer as relaes
temporais, as relaes de necessidade entre um antecedente e um conseqente,
a primeira tarefa do homem que quer viver segundo a razo, isto , segundo
a natureza, (p. 37)
Em sua vida o homem almejava e deveria almejar o bem que era a
preservao da ordem natural do mundo, e dele mesmo como parte dessa
ordem. A compreenso e o reconhecimento da racionalidade da natureza eram
a garantia do bem na vida humana. Isso nos permite compreender o ltimo
componente da filosofia estica - a moral.
[Os esticos] distinguem, na moral, parte da filosofia: um estudo da tendncia,
um estudo dos bens e dos males, um estudo da virtude, um estudo do soberano
bem, um estudo do valor primeiro, um estudo das aes um estudo das condutas
convenientes, dos encorajamentos e das dissuases. (Digenes Larcio, VII, p. 84)
A moral estica, como regra de ao conforme a natureza, no pode
ser dissociada das duas outras partes da filosofia - a lgica e a natureza.
E por isto que Zeno, o primeiro, no seu livro sobre a Natureza humana, disse
que o fim supremo era viver conforme a natureza porque viv-la segundo a
virtude, pois a natureza nos conduz virtude. Cleanto em seu livro sobre o
Prazer (...) pensa o mesmo. Crisipo, no primeiro livro de sua obra Dos fins,
diz por sua vez que viver segundo a natureza a mesma coisa que viver
segundo a experincia daquilo que est de acordo com a natureza, pois nossas
naturezas no so seno partes do todo. Eis porque o fim supremo viver
segundo a natureza, ou seja, segundo a sua natureza e a do todo, no fazendo
nada do que proibido pela lei comum, a reta razo distribuda atravs de
todas as coisas, aquela mesma que pertence a Zeus que por ela governa e
gera todas as coisas. A verdade do homem feliz e o curso bem ordenado da
vida nascem da harmonia do gnio de todo com a vontade daquele que tudo
organiza. (Digenes Larcio, VII, 87-88)
Mesmo que algo parea, para um homem individual, injusto ou dolo-
roso, deve ser aceito, porque est inserido dentro da ordem mais geral do
universo, dentro da qual se tornaria clara sua justia; por exemplo, um animal
perigoso, uma planta venenosa, podem parecer maus pelo fato de o homem
poder no compreender sua utilidade.
Para os esticos, sabedoria identifica-se com virtude; os sbios, os ho-
mens de bem, so aqueles que alcanam uma perfeita racionalidade. O homem
pode estar governado pela razo, ou a alma pode ser guiada por um movi-
107
mento irracional - a paixo, a ausncia de razo, a loucura. Esse movimento
irracional seria contrrio natureza uma vez que o homem possui uma ten-
dncia natural virtude.
A paixo uma tendncia tirnica ou que desconsidera o que medido se-
gundo a razo; ou uma tendncia que conduz desobedincia razo. As
paixes so portanto os movimentos da alma que fazem provar a desobedincia
em relao razo. (Clmens, em Amim III, n
8
377)
Para os esticos, apesar dessa determinao inexorvel do destino, o
homem poderia ser livre, mas a liberdade toma um sentido muito peculiar
para eles.
A liberdade uma coisa no somente muito bela, mas muito racional, e no
h nada mais absurdo nem mais desarrazoado que ter desejos temerrios e
querer que as coisas aconteam como ns as pensamos. Quando tenho que
escrever o nome de Deus, preciso que eu escreva, no como eu quero, mas
tal como , sem mudar uma s letra. Ocorre o mesmo em todas as artes e em
todas as cincias. E tu queres que sobre a maior e mais importante de todas
as coisas, quer dizer a liberdade, reine o capricho e fantasia. No, meu amigo:
a liberdade consiste em querer que as coisas aconteam, no como te agrade,
mas como elas acontecem. (Epiteto, Pensamentos, XXXV)
EPICURISMO
O essencial para a nossa felicidade a nossa condio ntima:
e desta somos ns os amos.
Epicuro
O s epicuristas, como os esticos, propunham que a felicidade seria
obtida se o homem vivesse de acordo com a natureza, mas o significado
dessa postulao completamente diverso para ambos, uma vez que a con-
cepo de natureza de cada uma dessas filosofias leva a aes fundamental-
mente diferentes frente vida.
O s epicuristas propuseram uma concepo de natureza completamente
diferente da maioria das concepes de natureza at ento elaboradas pelos
pensadores gregos.
Para os gregos antes de Epicuro, a Natureza antes de mais nada um organismo
vivo cuja estrutura implica a existncia dos deuses. As mitologias, os cultos
religiosos e, a ttulo infinitamente mais intelectualizado, o freqente apelo aos
mitos de Plato mostram-nos que, para os Gregos, a existncia da Natureza,
tal como a dos homens, implica a existncia de seres que ultrapassam infini-
tamente o homem. Nos Esticos, contemporneos dos Epicuristas, encontramos
108
esta idia levada ltima conseqncia: a Natureza e Deus so apenas um, a
Natureza um grande ser vivo e o desenrolar da sua existncia constitui o
Destino providencial refletindo as decises de uma razo sobre-humana.
A partir de Epicuro, esboa-se um ponto de vista completamente diferente: a
Natureza um dado cuja explicao no requer o recurso a quaisquer seres
sobrenaturais. (Brun, s/d(b), p. 58)
O s epicuristas desenvolveram uma concepo de natureza, uma fsica,
na qual buscavam explicaes materiais para o mundo e sua origem, no
viam em uma entidade abstrata - um Deus - ou em um destino explicao
para qualquer fenmeno. Para os epicuristas, o universo - na sua origem,
nas suas causas, ou no seu funcionamento - independia completamente de
Deus ou dos deuses. Eles no negavam a existncia de deuses, mas prescin-
diam deles para explicar o mundo fsico, o universo ou o homem. Supunham
que os destinos dos homens e do mundo no eram preocupaes dos deuses
que apenas existiam, em perfeita paz e em eterna contemplao.
Efetivamente, fora de dvida que os deuses, por sua prpria natureza, gozam
da eternidade com paz suprema e esto afastados e remotos de tudo o que se
passa conosco. Sem dor nenhuma e sem nenhuns perigos, apoiados em seus
prprios recursos, nada precisando de ns, no os impressionam os benefcios
nem os atinge a ira. (Lucrcio, Da natureza, II, 645-650)
Epicuro considerava que as crenas na ao de deuses sobre o mundo
e sobre os homens decorriam da ignorncia das causas reais das coisas e
eram a origem dos temores que assolavam o homem. Era objetivo da filosofia
epicurista propor explicaes para os fenmenos do mundo e para as crenas
humanas desvinculadas de seres sobrenaturais e de qualquer religiosidade, de
forma a torn-los compreensveis e conhecidos, evitando assim o medo.
No pode afastar o temor que importa para aquilo a que damos maior im-
portncia quem no saiba qual a natureza do universo e tenha a preocupao
das fbulas mticas. Por isto no se podem gozar os prazeres puros sem a
cincia da natureza. (Epicuro, Antologia de textos de Epicuro, p. 21)
Lucrcio, com eloqncia, apresenta a possibidade aberta por Epicuro,
com sua doutrina, de afastar o homem da submisso opressora gerada pelas
explicaes religiosas.
2 Neste captulo, as citaes da A ntologia de textos de Epicuro e as de Lucrcio referentes
obra Da natureza foram retiradas do volume Epicuro, Lucrcio, Ccero, Sneca, Marco
Aurlio, 1973, da coleo O s Pensadores. As citaes restantes foram retiradas de Epicure
et les picuriens, textos escolhidos por Jean Brun, 1961.
109
Quando a vida humana, ante quem a olhava, jazia miseravelmente por terra,
oprimida por uma pesada religio, cuja cabea, mostrando-se do alto dos
cus, ameaava os mortais com seu horrvel aspecto, quem primeiro ousou
levantar contra ela os olhos e resistiu foi um grego, um homem que nem a
fama dos deuses, nem os raios, nem o cu com seu rudo ameaador, puderam
dominar; antes mais lhe excitaram a coragem de esprito e o levaram a desejar
ser o primeiro que forasse as bem fechadas portas da natureza. Mas triunfou
para alm das flamejantes muralhas do mundo, percorreu, como o pensamento
e o esprito, o todo imenso, para voltar vitorioso e ensinar-nos o que pode
nascer e, finalmente, o poder limitado que tem cada coisa, e as leis que existem
e o termo que firme e alto se nos apresenta. E assim, a religio por sua vez
derrubada e calcada aos ps, e a ns a vitria nos eleva at os cus. (Lucrcio,
Da natureza, I, 60-80)
Ao recusarem atribuir a explicao da origem das coisas ou da exis-
tncia humana a desgnios divinos, os epicuristas recusaram a idia de que
as coisas teriam sido criadas a partir do nada - "nada nasce do nada".
E, para incio, tomaremos como base que no h coisa alguma que tenha
jamais surgido do nada por qualquer ao divina. De fato, o terror oprime
todos os mortais, apenas porque vem operar-se no cu e na terra muitas
coisas de que no podem de nenhum modo perceber as causas, e cuja origem
atribuem a um poder dos deuses. Assim, logo que assentemos em que nada se
pode criar do nada, veremos mais claramente o nosso objetivo, e donde podem
nascer as coisas e de que modo tudo pode acontecer sem a interveno dos
deuses. (Lucrcio, Da natureza, I, 146-149)
Tudo na natureza, os corpos e seres do universo, era formado a partir
de tomos, elementos mnimos que se juntavam. Com os epicuristas res-
surgia a teoria atmica de Leucipo e Demcrito, que j se utilizavam dela
para explicar o universo.
3
O s tomos diferiam de tamanho, forma e peso, o
que justificava a variedade das coisas; eram imutveis, mas movimentavam-se
no vcuo, segundo uma velocidade constante e sempre numa mesma direo
- para baixo. (No enunciado dessa explicao est a razo porque alguns
3 Essa relao entre a teoria atmica dos epicuristas e a de Demcrito e Leucipo apon-
tada por alguns autores como estreita, a ponto de no identificarem nada de realmente
novo nas proposies epicuristas. Entretanto, essa no uma posio consensual. Marx,
por exemplo, tem como objeto de sua tese de doutorado (1841) analisar a relao entre a
filosofia da natureza de Demcrito e Epicuro "... buscando demonstrar que, apesar de sua
afinidade, existe entre as fsicas de Demcrito e Epicuro uma diferena essencial que se
estende at os menores detalhes" (Marx, Diferenas entre as filosofias da natureza em
Demcrito e Epicuro, p. 19).
110
dizem que os epicuristas explicavam o movimento dos tomos segundo a
gravidade.)
E deve supor-se que os tomos no possuem nenhuma das qualidades dos
fenmenos, exceto forma, peso, grandeza e todas as outras que so necessa-
riamente intrnsecas forma. Porque toda a qualidade muda, mas os tomos
no mudam, visto que necessrio que na dissoluo dos compostos perma-
nea alguma coisa de slido e de indissolvel que faa realizar as mudanas,
no no nada ou do nada, mas sim por transposio, (Epicuro, Antologia de
textos de Epicuro, p. 24)
No seu movimento para baixo, os tomos eventualmente se deslocavam
de suas rotas, um deslocamento nfimo (para o qual os epicuristas no tinham
explicao) que implicava choques. A partir desses choques, os tomos com-
punham-se e assim originavam todos os diferentes seres e fenmenos do
universo.
(...) quando os corpos so levados em linha reta atravs do vazio e de cima
para baixo pelo prprio peso, afastam-se um pouco de sua trajetria, em altura
incerta e em incerto lugar, e to somente o necessrio para que se possa dizer
que se mudou o movimento. Se no pudessem desviar-se, todos eles, como
gotas de chuva, cairiam pelo profundo espao sempre de cima para baixo e
no haveria para os elementos nenhuma possibilidade de coliso ou de choque;
se assim fosse, jamais a natureza teria criado coisa alguma. (Lucrcio, Da
natureza, II, 216-224)
O s tomos por seu movimento e combinao poderiam formar e dis-
solver no s os corpos e seres deste mundo, mas poderiam formar infinitos
mundos.
H tambm mundos infinitos, ou semelhantes a este ou diferentes. Com efeito,
sendo os tomos infinitos em nmero, como j se demonstrou, so levados aos
espaos mais distantes. Realmente, tais tomos, dos quais pode surgir ou for-
mar-se um mundo, no se esgotam nem em um nem num nmero limitado de
mundos, quer sejam semelhantes quer sejam diversos destes. Por isto nada
impede a infinidade de mundos. (Epicuro, Antologia de textos de Epicuro, p. 24)
Todos se dissolvem de novo, alguns mais lentamente e outros mais rapidamen-
te, sofrendo um umas aes e outros outras. (Epicuro, Antologia de textos de
Epicuro, p. 24)
Apesar de suporem que possa se formar ou dissolver uma infinidade
de mundos, os epicuristas supunham que a quantidade de matria e movi-
mento que constitua o universo no aumentava nem diminua, ela nunca
poderia ser alterada por nenhuma fora que existe fora do universo.
111
Efetivamente nada vem a aument-la (a quantidade da matria) e nada se
perde. Por isso o movimento que anima agora os elementos dos corpos o
mesmo que tiveram em idades remotas e o mesmo que tero no futuro, segundo
leis idnticas; o que teve por hbito nascer nascer nas mesmas condies; e
tudo existir e crescer e ser forte de sua prpria fora, segundo o que foi
dado a cada um pelas leis da natureza. Nem fora alguma pode modificar o
conjunto das coisas: no h realmente lugar algum para onde possa fugir, de
todo, qualquer elemento da matria, ou donde possa vir, para irromper no
todo, qualquer fora nova que mude a natureza das coisas e modifique os
movimentos. (Lucrcio, Da natureza, II, 295-306)
Nessa viso atomista da natureza, tudo que existe corpo e espao
vazio no qual os corpos existem.
O universo constitudo [de corpos e de lugar]. Que os corpos existem, a
sensao o atesta em toda ocasio, e necessariamente em conformidade com
ela que se faz, pelo raciocnio, as conjunturas sobre o invisvel, como eu o
disse mais acima. Se, de outro lado, no houvesse aquilo que ns chamamos
vazio, espao ou natureza impalpvel, os corpos no teriam onde se colocar
nem onde se mover, o que parecem de fato fazer. (Epicuro, Carta a Herdoto
sobre a natureza, Digenes Larcio, 39-40)
Para os epicuristas a formao de todas as coisas a partir da composio
e choque de tomos, ou seja, sua constituio ou dissoluo dava-se ao acaso.
Com a defesa do acaso os epicuristas opunham-se radicalmente concepo
dos esticos, que atribuam os acontecimentos a um destino que os determi-
nava.
Quanto ao destino, que alguns consideram como senhor de tudo, o sbio ri
dele. Com efeito, mais vale aceitar o mito sobre os deuses que se submeter
ao destino dos fsicos. Pois o mito nos deixa a esperana de nos reconciliar
com os deuses pelas honras que ns lhes rendemos, enquanto o destino tem
o carter de necessidade inexorvel.
No que concerne ao acaso, o sbio no o considera, a maneira da multido,
como um deus, pois nada realizado por um deus de um modo desordenado,
nem como uma causa imutvel. Ele no cr que o acaso distribua os homens,
de maneira a lhes propiciar a vida feliz, o bem ou o mal, mas que ele lhes
fornece os elementos dos grandes bens e dos grandes males. Ele acredita que
vale mais uma m sorte raciocinando bem que uma boa sorte raciocinando
mal. Certamente, o que se pode desejar de melhor em nossas aes que a
realizao do juzo so seja favorecido pelo acaso. (Epicuro, Carta Menece
sobre a moral, Digenes Larcio, X, 122-135)
Nessa defesa de que a formao das coisas ocorre ao acaso, Marx (s/d)
identifica uma oposio entre o pensamento de Epicuro e de Demcrito que,
112
segundo alguns autores, atribui a formao das coisas a partir dos tomos
necessidade.
Aristteles diz que ele [Demcrito] conduz tudo necessidade. Digenes Lar-
cio acrescenta que o turbilho de tomos, de que tudo se origina, a necessi-
dade de Demcrito. Mais satisfatoriamente fala a este respeito o autor de De
Placitus philosophorum: a necessidade seria, segundo Demcrito, o destino e
o direito, a providncia e a criadora do mundo; porm a substncia dessa ne-
cessidade seria a antipatia, o movimento, a impulso da matria. (...) Nas clo-
gas ticas de Estobeu conserva-se a seguinte sentena de Demcrito "() O s
homens inventaram o fantasma do acaso, manifestao de seu embarao, pois
um pensamento forte deve ser inimigo do acaso", (pp. 25-26)
A concepo de natureza epicurista recusa no s uma viso teolgica,
mas tambm teleolgica. Segundo Long (1984), para os epicuristas "As coi-
sas no so 'boas para nada' (...). No existe um propsito que o mundo em
seu conjunto, ou as coisas em particular, tenham que cumprir. Porque o de-
sgnio no um trao do mundo: este claramente imperfeito" (p. 48). Nessa
viso evidencia-se, segundo Long (1984), uma clara objeo imagem do
mundo de Plato e Aristteles, para quem os supostos teleolgicos eram fun-
damentais.
A explicao atomista propiciava, segundo os epicuristas, uma forma
de compreenso das coisas semelhante ao que poderia ser observado no mun-
do emprico, o que para eles permitia o sossego, o afastamento do medo e
permitia explicar os fenmenos sem recorrer a causas divinas.
"{Para a explicao dos fenmenos naturais] no se deve recorrer nunca
natureza divina; antes, deve-se conserv-la livre de toda a tarefa e em sua
completa bem-aventurana" (Epicuro, Antologia de textos de Epicuro, p. 23).
O conhecimento, fundamental para afastar o medo, era condio para
o prazer e a tranqilidade. Para obter tal condio, os epicuristas aceitavam
a possibilidade de serem propostas vrias explicaes para o mesmo fen-
meno.
Adquire-se tranqilidade sobre todos os problemas resolvidos com o mtodo
da multiplicidade de acordo com os fenmenos, quando se cumpre com a
exigncia de deixar subsistir as explicaes convincentes. Pelo contrrio, quan-
do se admite uma e se exclui a outra, que se harmoniza igualmente com o
fenmeno, evidente que se abandona a investigao naturalista para se cair
no mito. (Epicuro, Antologia de textos de Epicuro, p. 23)
Diferentemente dos esticos que se dirigiam a multides, desenvolven-
do rigorosa argumentao e visando o convencimento, Epicuro dirigia-se aos
seus amigos e tinha uma vida isolada. A pluralidade de explicaes possveis
113
era compatvel com sua defesa de uma atitude mais solitria para a obteno
da paz. "O sbio no participa da vida pblica se no sobrevier causa para
tal. Vive ignorado " (Antologia de textos de Epicuro, p. 27).
Para os epicuristas, o conhecimento era fruto da sensao que fornece
evidncia das coisas.
Eles [os epicuristas] repelem a dialtica como uma coisa suprflua. E sufi-
ciente aos fsicos seguir o que as coisas dizem por elas mesmas. E assim que
Epicuro diz no Cnon que os critrios da verdade so as sensaes, as ante-
cipaes e as afeces. Os epicuristas acrescentaram a isto as representaes
intuitivas do pensamento. (Digenes Larcio, X, 31)
A sensao era obtida pelo contato com os fenmenos. O s epicuristas
supunham que os objetos reais e existentes emanavam fluidos, simulacros.
As partculas provenientes do objeto penetravam e provocavam em ns mo-
dificaes de tomos. A impresso que produziam em ns era uma imagem
do objeto. Toda a sensao nascia, portanto, de um choque entre ns e o
objeto. Dessa forma, as sensaes eram sempre corretas. O s fluidos podiam
sofrer alteraes no tempo e espao, durante seu deslocamento, at atingirem
os sentidos humanos, o que eventualmente levava o homem a ter sensaes
diferentes entre si, sobre o mesmo objeto.
Diferentemente existem as imagens que tm a mesma forma que os objetos
reais e se distinguem dos fenmenos por sua sutileza extrema. No de nenhum
modo impossvel que tais emanaes se produzam na atmosfera, nem que haja
ai condies favorveis para a produo deformas vazias e tnues, nem que
as emanaes guardem a posio relativa e a ordem que elas tinham. nos
objetos reais. Ns chamamos estas imagens simulacros. No seu movimento
atravs do vazio elas percorrem, se nenhum obstculo devido a coliso dos
tomos intervm, toda a distncia imaginvel em um tempo imperceptvel. Pois
a resistncia e a no resistncia assumem o aspecto de lentido e rapidez.
(Epicuro, Carta Herdoto sobre a fsica, Digenes Larcio, 46)
Convm notar ainda que porque algo dos objetos exteriores penetra em ns
que ns vemos as formas e que ns pensamos. Pois os objetos no poderiam,
por intermdio do ar que se encontra entre ns e eles, nem por meio de raios
luminosos ou de quaisquer emanaes indo de ns a eles, imprimir em ns
suas cores e suas formas assim como por meio de certas cpias que se des-
tacam deles, que se lhes assemelham pela cor e a forma e que, segundo sua
grandeza apropriada, penetram nossos olhos ou nosso esprito. Elas se movem
muito rapidamente, e por esta razo que elas reproduzem imagens de um
todo coerente, guardando com ele a relao natural graas presso uniforme
que vem da vibrao dos tomos para o interior dos corpos slidos. Qualquer
que seja a imagem que recebemos, imediatamente pelo esprito ou pelos sen-
tidos, de uma forma ou de atribuies, a forma do objeto real produzida
114
pela freqncia sucessiva ou a lembrana do simulacro. Mas o falso juzo e
o erro residem sempre no que acrescentado pela opinio. (Carta Herdoto
sobre a fsica, Digenes Larcio, 49-50)
importante notar que, segundo Brun [s/d(b)]
(
essa caracterizao da
relao do sujeito que conhece com o objeto conhecido referenda a possibi-
lidade da pluralidade de sensaes que, tal como a possibilidade de explica-
es mltiplas, era condio para a tranqilidade.
A sensao , pois, uma apreenso do instante e em funo desta apreenso
que devemos tomar uma atitude serena, consistindo o erro e a paixo em acres-
centar a este instante dimenses que ele no tem, quer fazendo dele signo
anunciador de qualquer acontecimento futuro (e os epicuristas s tm que trans-
formar toda a teoria em pressgios, caros aos Esticos), quer vendo nele a
culminao de todo o passado cheio de sentido, (p. 48)
Como conseqncia dessa viso da sensao decorre
(...) que todas as sensaes so verdadeiras e existentes, pois no havia dife-
rena dizer que uma coisa verdadeira ou que existe. - Eis porque ele diz:
verdadeiro aquilo que assim como se diz que , e falso o que no
assim como se diz que . (Sexto Emprico, Adv. dogm., II, 9)
Apesar de claras e evidentes, nossas sensaes no eram ainda conhe-
cimento. Elas precisavam ser classificadas e reunidas para poderem gerar um
juzo sobre um objeto. O s epicuristas acreditavam que as chamadas pr-no-
es, pr-concepes ou antecipaes eram conceitos ou imagens mentais
gerais produzidas por repetidas impresses sensoriais. Elas no passavam de
expectativas, criadas por sensaes anteriores, de se obter determinadas sen-
saes diante de determinados objetos; tais pr-noes no podiam, assim,
ser concebidas como inatas. O s epicuristas acreditavam, outrossim, que tais
noes eram necessrias ao homem para que pudesse acumular experincias
e conhecimentos. As novas sensaes so comparadas a antecipaes exis-
tentes, permitindo a elaborao de nossos juzos.
Quanto a antecipao, eles a consideravam como apreenso, ou como opinio
correta, ou como idia, ou como concepo geral que se encontra em ns, ou
seja, como lembrana daquilo que com freqncia apareceu fora. Um exemplo
disso a expresso "Este um homem"; pois logo que se pronuncia o termo
"homem " se pensa, em virtude da antecipao, imediatamente em sua imagem,
que provm de sensaes anteriores. Portanto, aquilo que primitivamente
colocado sobre esta denominao evidente. E ns no procuraramos o que
est em questo, se ns no tivssemos dele j um conhecimento. Quando, por
exemplo, se pergunta se o objeto que se encontra ao longe um cavalo ou
um boi, necessrio, j, por antecipao, conhecer a forma do cavalo e do
115
boi. Ns no poderamos mesmo nomear nenhum objeto, se ns no conhe-
cssemos de antemo seu carter por intermdio da antecipao. As anteci-
paes so portanto evidentes. (Digenes Larcio, X, 33-34)
O s epicuristas explicavam com o mesmo processo a percepo dos
objetos visveis e invisveis (que s eram assim considerados por emitirem
fluidos to tnues que os tornavam invisveis) e, at mesmo, noes tais
como as de deuses e alma. Dessa forma, o processo envolvido na apreenso
de coisas visveis e invisveis no era qualitativamente diferente, j que todos
os fenmenos eram igualmente compostos de tomos.
"Epicuro sustenta que os deuses tm formas humanas, mas que eles
no so apreensveis seno pela razo, por causa da extrema tenuidade dos
simulacros que nos provm deles" (Aet. I, 7, 42).
Antes disso convm reconhecer, se referindo s sensaes e aos sentimentos
- pois procedendo assim se chegar certeza inquebrantvel - que a alma
um corpo composto de partculas sutis, que disseminada em todo agregado
que constitui nosso corpo e que se assemelha mais a um sopro mesclado de
calor, se aproximando em parte de um, em parte de outro. Mas uma certa
parte da alma se distingue consideravelmente destas ltimas propriedades por
sua tenuidade extrema e est misturada mais intimamente ao nosso corpo.
(Epicuro, Carta a Herdoto sobre natureza, Digenes Larcio, 63)
Essa maneira de conceber a possibilidade de conhecer implicava o re-
conhecimento de que todos os fenmenos existentes, apesar de aparentemente
diferenciados (visveis ou invisveis), eram, na realidade, semelhantes - por-
que compostos de tomos - e podiam ser conhecidos. Implicava, tambm, o
reconhecimento de que a explicao de qualquer evento ou fenmeno devia
referir-se a causas e processos naturais. Era com base nessa concepo que,
para os epicuristas, a explicao dos fenmenos, o conhecimento de como ope-
ravam e de suas causas afastariam do homem os temores e lhe traria prazer.
Tal como os esticos, os epicuristas preservavam e buscavam unidade
entre a concepo de fsica, de conhecimento e de homem. Afirmavam que
o homem um ser livre, e a noo de liberdade humana estava intimamente
associada noo de que os tomos se desviam de suas rotas.
De fato, o peso impede que tudo se faa por meio de choques como por uma
fora externa. Mas, se a prpria mente no tem, e tudo o que faz, uma fata-
lidade interna, e no obrigada, como contra a vontade, passividade com-
pleta, porque existe uma pequena declinao dos elementos, sem ser em
tempo fixo, nem em fixo lugar. (Lucrcio, Da natureza, II, 290-295)
Coerentemente com essa concepo de liberdade, os epicuristas atenua-
vam o carter de universalidade e imutabilidade na definio das virtudes
116
humanas. "A justia no existe em si mesma, um contrato estabelecido
entre as sociedades, no importa em que lugar e no importa em que poca,
para no causar e no sofrer prejuzo " (Epicuro, Mxima principal, XXXIII).
Tambm associada concepo natural dos homens e do universo, de-
senvolveram a noo de que os homens buscavam, e deviam faz-lo, o prazer.
O prazer significava um estado de equilbrio, um estado em que o homem
no sentisse necessidades tais como fome e sede. Afirmavam que em tal
estado o homem teria suprimido, pela satisfao de uma necessidade, a dor
e, assim, reestabelecido o equilbrio do corpo e obtido repouso. Prazer e dor
eram afeces fundamentais tica epicurista. A busca do prazer e o afas-
tamento da dor eram as condies bsicas para a obteno da felicidade.
Eles dizem que h duas afeces: o prazer e a dor, que todo ser vivo experi-
menta; a primeira conforme a natureza, a segunda lhe estranha. Com sua
ajuda se pode distinguir entre as coisas aquelas que se deve escolher e aquelas
que se deve evitar. (Digenes Larcio, X, 34)
Para os epicuristas, os homens deviam buscar o prazer de forma racio-
nal e reflexiva, o que quer dizer que deviam buscar a satisfao das neces-
sidades que podiam ser satisfeitas e que eram insuprimveis e no de quais-
quer outras. Com o estabelecimento desse critrio, os epicuristas pensavam
evitar a confuso entre o que era o prazer real e verdadeiro - a satisfao
das necessidades de outra maneira insuprimveis - e prazer aparente - a
satisfao das necessidades que num primeiro momento podiam trazer prazer,
mas que levavam dor. Ao mesmo tempo, criavam uma tica baseada na
noo de que o prazer estava associado, de um lado, satisfao de neces-
sidades naturais, o que os distanciava da noo de que buscavam a volpia,
o luxo, etc, e, de outro, a evitar a dor, a suprimir, mais do que a acrescentar.
O hbito, por conseguinte, de viver de uma maneira simples pouco custosa
oferece a melhor garantia de uma boa sade; ele permite ao homem cumprir
tranqilamente as obrigaes necessrias da vida, o torna capaz, quando ele
se encontra de tempos em tempos diante de uma mesa suntuosa, de melhor
frui-la e o coloca em condies de no temei
4
os golpes do acaso. Quando,
portanto, ns dizemos que o prazer nosso fim ltimo, ns no entendemos
por isso os prazeres dos devassos nem aqueles que se ligam funo material,
como o dizem as pessoas que ignoram a nossa doutrina, ou que esto em
desacordo com ela, ou que a interpretam em um mau sentido. O prazer que
ns temos em vista caracterizado pela ausncia de sofrimentos corporais ou
de problemas da alma. (Epicuro, Carta Menece sobre a moral, Digenes
Larcio, 129-130)
Sbios eram, para os epicuristas, aqueles homens que exercitavam e
viviam essa tica, que, assim, no se afastavam da natureza, que buscavam
117
a simplicidade de seus prazeres verdadeiros sua felicidade e que nessa sim-
plicidade a encontravam.
O prazer e a felicidade eram encontrados, portanto, durante a vida dos
homens e, mais uma vez coerentes com sua concepo natural e naturalista,
os epicuristas afirmavam que a alma humana que animava a vida, mas que,
da mesma maneira que o corpo, era composta de tomos, desintegrava-se
junto com o corpo; e com isso afastavam o ltimo e talvez o mais intocvel
dos medos, o medo da morte.
CETICISMO
A eficcia do ceticismo reside na anttese em que coloca fe-
nmenos e inteleces sob todos os aspectos; pelo que devido
ao igual equilbrio dos fatos e das razes opostas chegamos,
antes de tudo, suspenso do juzo e da impertubabilidade.
Sexto Emprico
Atribui-se a Pirron (365-275 a.C. aprox.), nascido em Elis, a origem
dessa forma de pensamento. Pirron nada escreveu e tudo que dele se sabe
provm dos escritos de seu discpulo Timon de Filonte (morto em 241 a.C.
aprox.) e, principalmente, de Sexto Emprico (nascido em Mitilene, 180-240
d.C. aprox.)
Podem ser identificados trs momentos distintos na elaborao da orien-
tao ctica, na Antigidade: o momento inicial, com Pirron e Timon; o
segundo momento, com Arcesilau de Ptano (315-241 a.C. aprox.) e Carna-
des de Cirene (215-129 a.C. aprox.); o terceiro momento, com Enesidemo
de Cnossos, Agripa e Sexto Emprico.
Com os cticos, mais uma vez, uma marca do pensamento elaborado
nesse perodo aparece: tal como os esticos e os epicuristas, os cticos preo-
cupavam-se com a busca da felicidade e esta implicava na eliminao de
tudo o que produzisse inquietao, levando a um estado de imperturbabilidade
(ataraxia). Entretanto, enquanto que, para os esticos e epicuristas, o conhe-
cimento (do destino e da racionalidade para os esticos, da natureza para os
epicuristas) era o que devia e podia trazer a felicidade aos homens, para os
cticos era a compreenso da impossibilidade do conhecimento referir-se s
coisas em si. H autores (por exemplo, Aubenque, 1973) que afirmam que
o movimento ctico surge em resposta ao dogmatismo contido no empirsmo
e principalmente no estoicismo.
Arcesilau ops-se aos esticos, demonstrando que a compreenso no um
critrio em absoluto (...) se a compreenso o assentimento da representao
118
compreensiva, inexistente. Antes de tudo, porque o assentimento no se d
com a representao, mas com a razo: pois o assentimento se d nas pro-
posies axiomticas. Em segundo lugar no se encontra nenhuma repre-
sentao de tal maneira verdadeira para no poder ser falsa, tal como se
demonstra com mltiplas e vrias razes. (Sexto Emprico, Adversos Matem-
ticos, VH, 153-154)
O s primeiros pensadores cticos afirmavam que no se podia conhecer
o mundo ou sobre ele ter opinies porque todas as coisas eram iguais e
instveis. Iguais, porque cada coisa era ela mesma, tinha existncia prpria
e mantinha sua individualidade. Instveis, porque delas no se percebia o
que eram na realidade, mas s aquilo que cada homem era capaz de apreen-
der; apreenso que variava entre homens e situaes, o que a tornava com-
pletamente subjetiva. Por isso, no se podia descobrir ou discutir a verdade
das coisas, j que essas no podiam ser objetivamente conhecidas.
Diz ele [Timon] que as coisas se manifestam igualmente indiferentes, incertas
e indiscerniveis: por isso nem as nossas sensaes nem as opinies revelam
o verdadeiro e o falso. As coisas no so por natureza tais como parecem,
mas somente parecem. (Digenes Larcio, IX, 77)
Dessa concepo sobre a natureza das coisas, ou seja, que elas se apre-
sentam de formas mltiplas, variveis, incertas, instveis, decorrem duas ati-
tudes: a ausncia de afirmaes sobre as coisas, nada se deve afirmar ou
negar sobre as coisas (isso eles chamavam afasia); e a suspenso de
qualquer juzo sobre a natureza das coisas, no se afirmaria nem a verdade,
nem a falsidade, nem que uma coisa boa ou m (isso eles chamavam epo-
ch). Essas atitudes conduzem ataraxia, ou seja a ausncia de paixes de
perturbaes, indiferena diante das coisas.
A afasia, portanto, a absteno de pronunciar-se no sentido comum em que
se compreende a afirmao e a negao: por isso, a afasia nossa condio
espiritual. E a suspenso assim chamada por permanecer em suspenso a
inteligncia. (Sexto Emprico, Esboos Pirrnicos, I, 192-196)
Dizemos que o fim do ctico a imperturbabilidade nas coisas que se referem
opinio e moderao nas afeces derivadas da necessidade. (...) Por
outro lado, no consideramos o ctico absolutamente livre de perturbaes,
mas dizemos que somente perturbado pelos fatos derivados da necessidade.
E ouvimos que s vezes sente frio, fome e outras afeces do mesmo gnero,
mas nestes casos tambm os homens comuns sofrem duplamente os efeitos:
pelas afeces mesmas e no em menos grau porque opinam que estas cir-
cunstncias so ms por natureza. Em compensao, o ctico, por deixar de
lado as opinies acrescentadas, de que cada uma destas coisas seja um mal
por natureza, consegue tambm libertar-se a si mesmo com moderao muito
119
maior. Por isso dizemos que a finalidade do ceticismo a imperturbabilidade
nas coisas originadas de opinio e a moderao das afeces originadas da
necessidade. (Sexto Emprico, Esboos pirrnicos, I, 25-30)
O s argumentos nos quais o ceticismo se baseava para defender a sus-
penso dos juzos sobre as coisas no se restringiam crtica aos sentidos,
possibilidade de por meio deles apreendermos as coisas em si, mas esten-
dia-se crtica da razo. Segundo Aubenque (1973), Enesidemo de Cnossos
foi quem alargou a crtica dos cticos razo, propondo dez modos para se
chegar suspenso dos juzos. Trata-se de dez consideraes que indicam
que diante da afirmao de duas sensaes, opinies ou demonstraes opos-
tas, o mximo que se consegue fazer contrapor uma a outra, mas no se
pode obter indcios que fortaleam uma em detrimento da outra, o que ne-
cessariamente levaria suspenso de juzo.
O primeiro (...) aquele, segundo o qual, pela diferena entre os animais,
no se tem as mesmas representaes das mesmas coisas. (...) O segundo (...)
deriva da diferena entre os homens (...) e, se as mesmas coisas influem di-
versamente pela diversidade entre os homens, ser induzida, naturalmente,
tambm por isso, suspenso.
Mas como os dogmticos se acham muito satisfeitos consigo mesmos (...) tam-
bm limitando o discurso a um s homem, por exemplo, ao sbio sonhado por
eles (...) examinamos o terceiro modo (...) proveniente da diferena entre as
sensaes. (...) Cada fenmeno parece oferecer-se-nos distinto aos diferentes
sentidos. (...) obscuro, ento, se na realidade possui estas qualidades, ou uma
s que parea diversa da diferente constituio dos sentidos singulares ou bem
mais do que as que se nos parecem, algumas das quais se nos escapam (...).
Mas para terminar na suspenso, mesmo reduzindo o discurso a um s sentido
ou prescindindo dos sentidos tomamos tambm o quarto modo, chamado das
circunstncias compreendendo as nossas disposies. (...) pois quem julga (...)
ser parte na discrepncia (...) contaminado pela disposio em que se acha.
O quinto discurso refere-se a disposies, intervalos e lugares: pois para cada
um destes as mesmas coisas parecem diferentes (...).
O sexto modo refere-se s mesclas: pelo que conclumos que dado que nenhum
objeto se apreende em si mesmo, mas, como outro, se pode bem dizer qual
a mescla do objeto com aquele que percebido conjuntamente, porm no
qual seja o objeto externo em si (...). O stimo modo refere-se quantidade
e constituio dos objetos (...). O oitavo modo o da relao (...). J dissemos
que tudo relativo: a respeito do que julga (...) tudo parece relativo a um
animal determinado, a um homem, a uma circunstncia, a um sentido determinado.
A respeito das coisas percebidas conjuntamente, que tudo parece relativo a uma
mescla dada, a uma localidade, composio, quantidade, posio dadas.
Do modo que dizemos nono na srie, da continuidade ou raridade dos encon-
tros (...) as coisas raras parecem valiosas, mas as abundantes e habituais no
nos causam a mesma impresso (...).
120
O dcimo modo, que concerne especialmente aos fatos morais, refere-se
educao, aos costumes, s leis, s crenas mticas e s opinies dogmticas.
(...) no poderemos dizer qual o objeto por sua natureza, seno o que parece
de acordo com a educao, a lei, os costumes etc. Tambm por isto, pois,
devemos suspender o juzo sobre a natureza da coisa externa. (Sexto Emprico,
Esboos pirrnicos, I, 36-163)
O utros pensadores cticos propem classificaes e maneiras diferentes
para se chegar suspenso dos juzos (por exemplo, Agripa fala em cinco
modos para se obter a suspenso dos juzos). So diferenas como essas que
levam autores como Abbagnano (1979) a afirmar que o ceticismo no se
constitui propriamente em uma escola, mas sim em uma orientao presente
em diferentes escolas de pensamento. Mas o que marca todos os pensadores
cticos da antigidade, seja quando enfatizam em seus argumentos o prprio
sujeito produtor de conhecimento, seja quando enfatizam caractersticas do
objeto sobre o qual o conhecimento produzido, seja quando destacam a
relao entre o sujeito e o objeto do conhecimento, a defesa da suspenso
de juzos como condio para obteno da felicidade.
MUSEU DE ALEXANDRIA
O Museu formou-se durante o governo dos primeiros ptolomeus - go-
vernantes egpcios sucessores de Alexandre - que reinaram entre 305 e 247
a.C. Durou cerca de seiscentos anos, sendo os dois primeiros sculos os mais
importantes. O Museu, originalmente o templo das musas chefiado por um
sacerdote, constituiu-se num centro de pesquisa.
O s avanos da cincia, da literatura, da medicina eram considerados
pelos reis egpcios como parte do tesouro real. Alm disso, eles necessitavam
dos conhecimentos produzidos por engenheiros, gegrafos, mdicos, tcnicos,
et c, no s para manter suas conquistas (pois a guerra exigia maquinismos
cada vez mais complexos), mas tambm para organizar vastos territrios. A
nova organizao imperial, que unificou as cidades-Estado, que ampliou mer-
cados e o comrcio, difundiu a cultura grega por todo o imprio, organizou
a produo de conhecimento em funo de seus interesses e, tambm, favo-
receu o intercmbio cultural, possibilitando o contato com culturas asiticas
antigas e orientais que influenciaram a produo do Museu em alguns campos
do conhecimento.
Tais condies fizeram com que, pela primeira vez na histria, uma
instituio de carter cientfico fosse organizada e financiada pelo Estado;
as instituies do perodo anterior - a Academia e o Liceu - eram organi-
121
zaes de cunho particular, em torno de uma pessoa proeminente. As con-
dies fornecidas pelo Estado para a produo de conhecimento eram inusi-
tadas: o Museu era dotado de laboratrios de pesquisa, jardins botnicos,
zoolgicos com animais da ndia e da frica, observatrio astronmico, salas
de dissecao e uma biblioteca - condies essenciais para o trabalho de
pesquisa. O s organizadores da biblioteca pesquisavam todas as lnguas e cul-
turas ento conhecidas, preocupavam-se em sistematizar e compilar todo o
conhecimento j produzido; para isso compravam bibliotecas e revistavam
os navios mercantes que passavam por Alexandria, buscando livros que co-
piavam.
O conhecimento produzido no Museu seguia um plano de trabalho. Tal
plano, inicialmente, sofreu influncias do pensamento aristotlico; porm, as
condies especficas em que se desenvolveu o trabalho no Museu - inter-
veno do Estado, facilidades financeiras e tcnicas - possibilitaram que ele
superasse o Liceu. O conhecimento a produzido ter novas marcas, tanto no
que se refere ao contedo, explicaes, teorias, como no desenvolvimento do
conhecimento, voltado para aplicaes tcnicas.
O conhecimento produzido no Museu no abordou todas as reas de
conhecimento abarcadas no perodo clssico, concentrando-se na investigao
da natureza. No perodo helenstico, como j foi visto, as explicaes para
os problemas humanos enfocam o homem como indivduo, possivelmente
porque o cidado deixou de participar da conduo do Estado; enquanto as
investigaes cientficas da natureza, principalmente em algumas reas, tor-
naram-se importantes para a expanso e organizao do imprio, estabele-
cendo-se entre ambos uma dependncia recproca e levando ao desenvolvi-
mento do conhecimento voltado para aplicaes tcnicas.
A investigao da natureza teve como marca um carter muito mais
especializado do que em qualquer perodo anterior. O conhecimento desen-
volve-se em vrias ramificaes especializadas como a fsica, astronomia,
matemtica, medicina, geografia.
Na matemtica, Euclides, que viveu em Alexandria na primeira metade
do sculo III a.C, elaborou um compndio que sistematizou todo o conhe-
cimento matemtico produzido at ento. Os Elementos contm inmeros
teoremas demonstrados por seus precursores, e seu valor est em sistematizar
o conhecimento geomtrico produzido pelos antigos. Suas proposies so
formuladas, tm carter universal e so demonstradas dedutivamente, e Eu-
clides estabeleceu cinco postulados referentes geometria e cinco axiomas
de carter mais geral dos quais deduziu sua geometria (como exemplo de
seus axiomas podem ser apontados: duas coisas iguais a uma terceira so
122
iguais entre si; o todo maior que a soma das partes; se parcelas iguais
forem adicionadas a quantidades iguais, os resultados sero iguais).
Em sua obra Euclides tratou das propriedades paralelas e perpendicu-
lares, estudou os tringulos, abordou as relaes entre as reas dos quadrados
e dos retngulos, as propriedades dos crculos, dos ngulos inscritos, dos
polgonos. Estudou a teoria dos nmeros; os aspectos vinculados determi-
nao do mximo divisor comum e o processo de fatorao; estudou os n-
meros irracionais; desenvolveu noes sobre geometria no espao (paralele-
ppedos, pirmides, esferas, etc). Sua obra ser a base do estudo da geometria
at o sculo XIX, quando parte de seus postulados sero abandonados com
a criao das geometrias no euclidianas.
O utros estudiosos tambm se dedicaram ao clculo e geometria. Por
exemplo, Arquimedes (287-212 a.C.) que desenvolveu e aplicou os mtodo
de Eudoxo para determinar o nmero n, a partir do estudo da relao entre
o comprimento da circunferncia e o seu dimetro, dando incio ao clculo
infinitesimal; seus estudos sobre elipse, parbolas, desenvolvidos por Apo-
lnio de Perga (220 a.C. aprox.), sero utilizados por Kepler e Newton para
estudar as rbitas dos planetas.
Na fsica, Arquimedes desenvolveu a mecnica, a esttica, a hidrost-
tica, props os fundamentos da mecnica (definiu os conceitos mecnicos de
movimento uniforme e circular). Estabeleceu um princpio bsico que gerou
a hidrosttica: todo corpo mergulhado num fluido recebe um impulso de
baixo para cima igual ao peso do volume do fluido deslocado, a partir do
que concluiu que os corpos mais densos que a gua imergem, enquanto os
menos densos flutuam. Essa fora de deslocamento vertical eqivale ao peso
do fluido que deslocado por seu volume. Materiais diferentes deslocam
volumes de fluidos diferentes - o que lhe permitiu estabelecer com preciso
o peso de alguns elementos, como o ouro e a prata.
Arquimedes produziu ainda vrios maquinismos como: um planetrio
que reproduzia todos os movimentos dos corpos celestes, um parafuso para
fazer subir a gua usado na irrigao e em minas; sistemas de roldanas que
possibilitavam deslocar grandes pesos, equipamentos de defesa, etc. Seu tra-
balho ser retomado no Renascimento e estudado por Kepler, Galileu, Tor-
riceli, Pascal e Newton.
Ctesbio (285 a 232 a.C. aprox.) desenvolveu conhecimentos no s
no campo da hidrosttica como da pneumtica, produzindo vrios engenhos
base de ar comprimido. Hero (100 a.C. aprox.) chegou a construir uma
rudimentar mquina a vapor.
Na astronomia, o Museu produziu vrias teorias. Destacam-se as de
Aristarco de Samos (310-230 a.C.) e Ptolomeu (90-168 d.C). Aristarco de
123
Samos foi o primeiro astrnomo a propor o sistema heliocntrico, ou seja, o
Sol no centro e a Terra girando em torno dele. Entretanto, seu sistema foi
pouco aceito, pois parecia absurdo por contrariar os dados fornecidos pelos
sentidos. Ptolomeu, seguindo as proposies de Aristteles, adotou sistema
geocntrico, segundo o qual em torno da Terra giravam Mercrio, Vnus,
Lua, Sol, Marte, Jpiter e Saturno, em crculos perfeitos. A teoria de Ptolo-
meu foi adotada pelos telogos medievais, que rejeitavam qualquer teoria
que no propusesse a Terra como centro. O sistema ptolomaico foi mantido
at o sculo XV quando Coprnico, retomando as propostas de Aristarco,
props o Sol como centro, o que foi confirmado por Galileu. Destaca-se
ainda na astronomia Hiparco (190-120 a.C.) que inventou vrios instrumentos
de observao e fez o primeiro catlogo das estrelas.
Vinculada astronomia, desenvolve-se a geografia.
O problema de construir um mapa o de relacionar posies astronmicas
sobre uma esfera, as linhas imaginrias dos paralelos e meridianos com as
posies de cidades, rios e costas, tais como estas so descritas por viajantes
e funcionrios. (Bemal, 1975, p. 231)
Isso envolvia medir a dimenso da Terra. Eratstenes de Cirene (275-194
a.C.) encontrou o valor da circunferncia da Terra, com um erro de apenas
400 quilmetros, tal valor que s foi calculado com maior preciso no sculo
XVIII.
Na medicina, Herfilo, que viveu aproximadamente em 300 a.C, iden-
tificou que o crebro, e no o corao, era o centro da conscincia, identificou
o uso clnico da contagem das pulsaes, distinguiu nervos motores dos sen-
soriais. Galeno, que viveu entre 130 e 200 d.C, foi responsvel pelo registro
e divulgao da medicina do Museu: demonstrou que os rins secretam a
urina, e as artrias contm o sangue, descreveu o corao e o mecanismo da
pequena circulao. Galeno uniu as antigas idias filosficas com observaes
anatmicas de animais e props uma explicao que foi adotada pelos me-
dievais e s contestada no sculo XVI, segundo a qual a vida psquica animal
e vegetal tem funes diversas, sendo o corpo instrumento da alma e cada
organismo constitudo segundo um plano lgico estabelecido por um ser su-
perior.
A variedade de temas e assuntos estudados no Museu e o nmero e
variedade de estudiosos que foi capaz de agrupar foram muito grandes, con-
siderando os padres da poca.
Esses poucos exemplos demonstram a abrangncia e os avanos do
conhecimento produzido no Museu, avanos que permitiram que, em grande
parte, esses conhecimentos fossem recuperados pelos principais pensadores
da cincia moderna.
124
O conhecimento produzido no Museu teve como marca o interesse pelas
tcnicas e a possibilidade de aplicao que o conhecimento parecia permitir.
Segundo Bernal (1975), "O s conhecimentos e realizaes mecnicas da idade
helenstica eram, em si mesmos, suficientes para produzirem todos os prin-
cipais mecanismos que deram origem Revoluo Industrial - maquinaria
txtil de conduo mltipla e mquina a vapor" (p. 234).
As aplicaes tcnicas desenvolvidas a partir do trabalho no Museu -
como a construo de portos e instrumentos para bombear gua e apagar
incndios, equipamentos de guerra, equipamentos de preciso utilizados na
pesquisa cientfica, etc. - adequavam-se s necessidades da poca. Entretanto,
muito do conhecimento produzido no Museu permaneceu estril, perdido, ou,
pelo menos, sua aplicao no se generalizou.
Magalhes Vilhena (s/d) aponta como fatores que impediram a utiliza-
o generalizada dos conhecimentos a inexistncia de necessidades reais e
os limites decorrentes do modo de produo escravista. A utilizao da m-
quina a vapor na produo, por exemplo, seria possvel, se houvesse um
campo receptivo para sua aplicao generalizada que a tornasse til e rentvel.
A mo-de-obra escrava tornava sua utilizao suprflua. Alm disso, o modo
de produo escravista gerou obstculos ideolgicos que dificultavam a busca
de novas solues tcnicas para a produo, ou mesmo, a idia de aplicao.
O trabalho de investigao desenvolvido no Museu, ao mesmo tempo
que desenvolveu procedimentos empricos de investigao - como a obser-
vao e experimentao -, manteve a valorizao do ideal de conhecimento
abstrato e a noo de que a base ltima da cincia, o seu critrio de verdade,
estava fundada na consistncia interna das explicaes e no rigor lgico de
suas dedues.
Ao lado disso, a vinculao do Museu aos interesses do Estado fica
evidenciada pelo fato de que grande parte das teorias e explicaes a de-
senvolvidas deu origem a aplicaes tcnicas voltadas para a execuo de
ritos religiosos nos quais tais tcnicas eram utilizadas para manter a crena
popular nos ritos, criando a possibilidade de se associar aos cultos religiosos
a impresso da interveno divina, mantendo, assim, a ideologia religiosa
ento predominante. Farrington (1961), ao analisar a relao entre cincia e
religio, no perodo alexandrino, fornece-nos vrios exemplos desse tipo de
aplicao:
O princpio do sifo foi aplicado a uma grande variedade de meios enge-
nhosos de fingir a transformao de gua em vinho. A gua despejada na
extremidade de um sistema de sifo transformava-se em vinho, saindo pela
outra extremidade. O* poder de expanso do ar quente produzia movimentos
sobrenaturais. Por exemplo, no altar havia uma cmara de ar contgua ao san-
125
turio do deus: quando se queimavam as ofertas no altar, o ar, expandindo-se,
abria a porta do santurio impelindo para fora a divindade fazendo-a assim
saudar o devoto, (p. 172)
Depois de um perodo ureo, o Museu entrou em decadncia e grande
parte do conhecimento a produzido, bem como as possibilidades abertas por
ele, acabou por perder-se. Pode-se, conforme sugere Bernal (1975), encontrar
a razo para tal acontecimento no fato de que o Museu s foi capaz, como
no poderia deixar de s-lo, de atender s necessidades da classe dominante
que o havia institudo. Quando o Estado deixou de patrocin-lo, no pde o
Museu persistir. E, alm disso, os cientistas que a trabalhavam se fecharam
num crculo de especialistas que se bastavam a si mesmos, passando a per-
der-se em discusses e preocupaes meramente acadmicas e especficas,
tornando-se, assim, incapazes de atender a outros reclamos.
O conhecimento produzido pelos cientistas helensticos demonstra a
possibilidade de ocorrer uma antecipao do conhecimento em relao s
necessidades mais gerais do contexto em que foi produzido. Mas esse desa-
juste pode significar que ele fique despercebido por vrios anos, at que
necessidades se desenvolvam para sua efetiva aplicao.
126
REFERENCIAS
Abbagnano, N. Histria da filosofia. Lisboa, Presena, 1979, vol. II.
AUan, D. L. A filosofia de Aristteles. Lisboa, Presena, 1970.
Aristteles. "Metafsica". In: Aristteles. So Paulo, Abril Cultural, 1973,
col. O s Pensadores.
Arquitas. "Fragmentos". In: Bornheim, G. A. (org.). Os filsofos pr-socr-
ticos. So Paulo, Cultrix, 1967.
Aubenque, P. "As filosofias helensticas: estoicismo, epicurismo, ceticismo".
In: Chtelet, F. (org.). Histria da filosofia: idias, doutrinas. Rio de
Janeiro, Zahar, 1973, vol. I.
Bernal, J. D. A cincia na Histria. Lisboa, Livros Horizonte, 1975, vol. 1.
Bernhardt, J. "Aristteles". In: Chtelet, F. (org.). Histria da filosofia. Lis-
boa, Publicaes Dom Quixote, 1980, vol. 1.
. "O pensamento pr-socrtico: de Tales aos sofistas". In: Chtelet, F.
(org.). Histria da filosofia. Rio de Janeiro, Zahar, 1981, vol. I.
Bonnard, A. Civilizao grega - de Antigona a Scrates. Lisboa, Estdio
Cor, 1968.
Bornheim, G. A. (org.). Os filsofos pr-socr ticos. So Paulo, Cultrix, 1967.
Brando, J. S. Mitologia grega. Petrpolis, Vozes, 1986.
Brhier, E. Histria da filosofia. So Paulo, Mestre Jou, 1977, tomo I, vol. I.
. Histria da filosofia. So Paulo, Mestre Jou, 1978, tomo I, vol. II.
Brun, J. Os pr-socrticos. Lisboa, Edies 70, s/d(a).
. O epicurismo. Lisboa, Edies 70, s/d(b).
. Les stoiciens - textes choisis. Paris, Presses Universitaires de France,
1957.
. Epicure et les picuriens - textes choisis. Paris, Presses Universitaires
de France, 1961.
. O estoicismo. Lisboa, Edies 70, 1986.
Demcrito. "Fragmentos". In: Pr-socrticos: fragmentos, doxografia e co-
mentrios. So Paulo, Abril Cultural, 1978, col. O s pensadores.
Diakov, V. e Kovalev, S. A histria da Antigidade - a Grcia. Lisboa,
Estampa, 1976.
Epicuro. "Antologia de textos escolhidos de Epicuro". In: Epicuro, Lucrcio,
Ccero, Sneca, Marco Aurlio. So Paulo, Abril Cultural, 1973, col.
O s Pensadores.
127
Farrington, B. A cincia grega. So Paulo, Ibrasa, 1961.
Filolau. "Fragmentos". In: Bornheim, G. A. (org.). Os filsofos pr-socrti-
cos. So Paulo, Cultrix, 1967.
Florenzano, M. B. O mundo antigo: economia e sociedade. So Paulo, Bra-
siliense, 1982.
Glotz, G. A cidade grega. Rio de Janeiro, Difuso Editorial, 1980.
Granger, G. G. Que sais-je? La raison. Paris, PUF, 1955.
Herclito. "Fragmentos". In: Pr-socrticos: fragmentos, doxografia e comen-
trios. So Paulo, Abril Cultural, 1978, col. O s pensadores.
Hesodo. Teogonia. Niteri, Eduff, 1986.
Hirschberger, J. Histria da filosofia na Antigidade. So Paulo, Heider, 1969.
Jaeger, W. Paideia. So Paulo, Martins Fontes, 1986.
Long, A. A. La filosofia helenstica. Madri, Aliana Editorial, 1984.
Lucrcio. "Da natureza". In: Epicuro, Lucrcio, Ccero, Sneca, Marco Au-
rlio. So Paulo, Abril Cultural, 1973, col. O s Pensadores.
Magalhes, V. Desarollo cientfico, tcnico y obstculos sociaies ai final de
Ia antiguidad. Madri, Editorial Ayoso, s/d.
Marx, K. Diferenas entre as filosofias da natureza em Demcrito e Epicuro.
So Paulo, Global, s/d.
Marx, K. Manuscritos economia y filosofia. Madre, Alianza Editorial, 1984.
Marx, K. e Engels, F. A ideologia alem I. Lisboa, Editorial Presena, 1980.
Mondolfo, R. O pensamento antigo. So Paulo, Mestre Jou, 1964, vol. I.
. O pensamento antigo. So Paulo, Mestre Jou, 1967, vol. II.
Parmnides. "Fragmentos". In: Pr-socrticos, fragmentos, doxografia e co-
mentrios. So Paulo, Abril Cultural, 1978, col. O s pensadores.
Pessanha, J. A. M. (org.). Aristteles. Trad. de Vicenzo Cocco et ai. So
Paulo, Abril Cultural, 1979, col. O s Pensadores.
. (seleo) Plato. Trad. de Jos Cavalcante de Souza et ai. So Paulo,
Abril Cultural, 1983, col. O s Pensadores.
Plato. A repblica. So Paulo, Difuso Europia do Livro, 1965.
. Timeo. Buenos Aires, Aguilar, 1971.
Romeyer-Dherbey, G. Os sofistas. Lisboa, Edies 70, 1986.
Ronan, C. A. Histria ilustrada da cincia. Das origens Grcia. Rio de
Janeiro, Jorge Zahar, 1987, vol. I.
Simplcio. "Fsica". In: Pr-socrticos: fragmentos, doxografia e coment-
rios. So Paulo, Abril Cultural, 1978, col. O s pensadores.
Souza, J. C. (selec. e superviso). Os Pr-socrticos. Trad. de Jos Cavalcante
de Souza et ai. So Paulo, Abril Cultural, 1985, col. O s Pensadores.
Thomson, G. Os primeiros filsofos. Lisboa, Estampa, 1974a, vol. I.
128
Os primeiros filsofos. Lisboa, Estampa, 1974b, vol. II.
Vernant, J. P. Mito e pensamento entre os gregos. So Paulo, Difuso do
Livro, 1973.
. As origens do pensamento grego. So Paulo, Difuso Editorial, 1981.
Wolff, F. Scrates. So Paulo, Brasiliense, 1984.
BIBLIOGRAFIA
Aquino, R. S. L.; Franco, D. A.; Lopes, O . C. Histria das sociedades: das
comunidades primitivas s sociedades medievais. Rio de Janeiro, Ao
Livro Tcnico, 1980.
Assis, J. E. P. "Lgica". In: Primeira filosofia. So Paulo, Brasiliense, 1984.
Bonnard, A. Civilizao grega - da Ilada ao Partenon. Lisboa, Estdio Cor,
1966.
. Civilizao grega - de Eurpedes a Alexandria. Lisboa, Estdio Cor,
1972.
Brun, J. O estoicismo. Lisboa, Edies 70. Publicao original, 1958.
. Scrates. Lisboa, Publicaes Dom Quixote, 1984.
Koyr, A. Introduo leitura de Plato. Lisboa, Presena, 1984.
129
PARTE II
A F COMO LIMITE DA RAZO:
EUROPA MEDIEVAL
CAPITULO 5
RELA ES DE SERVIDO :
EURO PA MEDIEVAL O CIDENTAL
A Idade Mdia tem, como referncia temporal, o perodo que vai do
sculo V ao XV. Alguns autores citam 395 como marco inicial; nesse ano
ocorreu a diviso do Imprio Romano em Imprio Romano do O cidente e
Imprio Romano do O riente. O ano de 1453 visto como marco final; nesse
ano ocorreu a tomada de Constantinopla, pelos turcos otomanos.
Nesse perodo (sculos V a XV), coexistiram civilizaes com organi-
zaes econmico-poltico-sociais diferentes: as civilizaes ocidentais,
oriundas do antigo Imprio Romano do O cidente; as orientais, oriundas do
antigo Imprio Romano do O riente, como o caso da civilizao bizantina;
e as civilizaes orientais que no faziam parte do antigo Imprio Romano,
como o caso da civilizao muulmana e das civilizaes da sia oriental.
Dentre as orientais, sero destacadas as civilizaes bizantina e muulmana,
por sua contribuio na divulgao de conhecimentos que seriam, posterior-
mente, assimilados e desenvolvidos pela civilizao ocidental. Essas civili-
zaes caracterizam-se por ter formao tnico-cultural diversificada (grega,
sria, egpcia, persa...), poder centralizado, grande desenvolvimento de cidades,
o comrcio como uma das principais atividades econmicas.
Alm disso, nas sociedades orientais, a religio teve papel diferente
daquele das sociedades ocidentais. Na civilizao bizantina, apesar do pre-
domnio do cristianismo
1
, a religio era alvo de discusses e debates que a
questionavam (o que demonstrado pelas heresias que surgiram), e a Igreja
estava subordinada ao Estado. Na civilizao muulmana, onde predominava
o islamismo, a religio possibilitou a coexistncia de outras crenas e no
teve papel monopolizador do conhecimento - uma vez que esse no era pro-
duzido apenas por religiosos -, tendo um carter mais prtico e utilitrio.
Assim, essas civilizaes, por suas caractersticas econmicas (o co-
mrcio era uma atividade bastante desenvolvida), poltico-institucionais (o
1 O cristianismo foi declarado religio oficial do antigo Imprio Romano em 312.
poder era centralizado e a Igreja no tinha papel monopolizador) e tnico-
culturais (havia diversidade), desenvolveram-se num processo diferente do
ocorrido na Europa ocidental.
O contato com outras culturas fez com que as civilizaes bizantina e
principalmente muulmana, respondendo s necessidades concretas existen-
tes, desenvolvessem conhecimentos em diversas reas, aos quais a Europa
ocidental teria acesso apenas posteriormente.
o caso, por exemplo, das tcnicas de irrigao, canalizao, aclima-
tao de plantas exticas, papel, plvora, imprensa, astrolbio, atrelagem de
cavalo, relgio, bssola, leme de popa, muitas dessas tcnicas de procedncia
chinesa. Desenvolveram-se tambm conhecimentos na matemtica (geome-
tria, lgebra, trigonometria, equaes, etc.) nos quais interferiam os conheci-
mentos dos hindus; conhecimentos na medicina (anatomia e doenas diver-
sas), na geografia (astronomia e cartografia), estes ltimos muito estimulados
pelo incremento do comrcio. Estudos sobre o pensamento grego foram tam-
bm desenvolvidos, principalmente sobre Aristteles que foi por eles tradu-
zido e posteriormente divulgado na Europa ocidental.
Assim, no se pode ver a Idade Mdia como um todo homogneo,
uma vez que nela coexistiram diferentes organizaes sociais. Conside-
rando, no entanto, a amplitude de civilizaes e a diversidade de suas
caractersticas quanto ao modo de produo, limitar-se- o estudo da pro-
duo de conhecimento do perodo medieval regio ocidental, embora
no se deva esquecer a influncia das contribuies orientais na sociedade
feudal ocidental.
H que se observar que, no que diz respeito ao modo de produo
feudal ocidental, a passagem do escravismo ao feudalismo se deu num
processo, isso , as caractersticas essenciais do feudalismo no estavam to-
talmente presentes no seu incio, bem como no permaneceram estticas
durante todo o perodo. Alm disso, a formao do modo de produo
feudal, em diferentes regies do O cidente, deu-se em pocas diversas.
Didaticamente, no entanto, o modo de produo feudal ocidental ser di-
vidido em duas fases: a primeira, que vai do sculo V ao X, cuja base
econmica fundamentalmente agrcola (perodo em que se processa a
substituio do escravismo pela servido) e uma segunda, a partir do s-
culo XI, perodo em que o feudalismo j est estruturado, na qual inten-
sifica-se o comrcio.
A seguir, sero abordadas as caractersticas do modo de produo feu-
dal, no que diz respeito aos aspectos econmicos, polticos e sociais, e ao
conhecimento produzido.
134
FEUDALISMO: COMO TUDO COMEOU
Nos sculos III e IV, o Imprio Romano est em crise. Algumas con-
dies econmicas, sociais e polticas contriburam para a gradativa destrui-
o do modo de produo escravista e a constituio dos fundamentos do
sistema feudal.
Nesses sculos, com a interrupo da poltica expansionista, a mo-de-
obra escrava, base da economia romana, torna-se dispendiosa e escassa; tendo
por base o escravismo, cai a produo agrcola e artesanal, diminuindo o
fluxo comercial; o empobrecimento dos pequenos proprietrios de terra, j
em minoria devido concentrao de terras nas mos de poucos, torna-se
maior em razo dos impostos cobrados pelo Estado; o empobrecimento da
populao reflete-se nas revoltas sociais internas que assolam a sociedade
romana. Todos esses fatores contribuem para a instabilidade do Estado ro-
mano e para o enfraquecimento de seu poder. As condies estavam criadas:
os grandes proprietrios vo se tornando cada vez mais auto-suficientes e
independentes.
Visando a afastar-se dos conflitos que freqentemente assolavam as
cidades, os grandes proprietrios deslocam-se para suas vilas (propriedades
rurais). A instalados, comeam a arrendar partes de suas grandes proprieda-
des a agricultores livres, que deviam, ento, ceder ao proprietrio uma parte
da produo como forma de pagamento. A terra comea a ser essencial para
a sobrevivncia dos indivduos: os proprietrios conseguem manter seus pri-
vilgios arrendando parte de suas propriedades aos colonos; estes sobrevivem
custa de seu trabalho em terras alheias. Sendo essencial, a terra passa a
adquirir um grande valor.
A ruralizao, iniciada pelos romanos no sculo III, intensifica-se com
as invases dos povos germnicos, denominados "brbaros" pelos romanos.
A partir dessa infiltrao, quer pacificamente, quer de forma belicosa, cons-
tituem-se os reinos romano-germnicos, nos quais predominam as relaes
de dependncia pessoal. Enquanto no Imprio Romano as relaes de depen-
dncia estabeleciam-se com o Estado, entre os povos germnicos as relaes
de fidelidade eram pessoais, dando-se entre o chefe do cl e seus compa-
nheiros de guerra; essas relaes baseavam-se na doao de terras, fato que
impunha deveres aos receptores em relao aos doadores. De acordo com
Silva (1984), existe uma contradio inerente ao processo de estabelecimento
de laos de fidelidade: ao mesmo tempo em que garante uma relao de
dependncia entre receptor e doador, diminui o controle deste sobre a exten-
so territorial devido fragmentao.
135
Esse processo de fragmentao e auto-suficincia de territrios, bem
como o processo de estabelecimento de relaes pessoais, vai caracterizar o
feudalismo na sociedade europia.
A VIDA NO FEUDO: PRODUO PARA A SUBSISTNCIA
Para conhecer o modo de produo feudal, importante analisar como
as pessoas se organizavam para produzir a sua existncia, que relaes de-
corriam dessa organizao e que valores, idias e conhecimentos eram pro-
duzidos e veiculados.
No feudalismo, a unidade econmica, poltico-jurdica e territorial era
o feudo; em outras palavras, numa dada extenso de terra, eram produzidos
os bens necessrios manuteno de seus habitantes, realizadas as trocas de
bens e elaboradas as leis e obrigaes que vigoravam.
Do ponto de vista econmico, o feudo era praticamente auto-suficiente.
Nele se desenvolviam a produo agrcola, a criao de animais, a indstria
caseira e a troca de produtos de diferentes espcies, atividade essa limitada
principalmente ao prprio feudo; as trocas eventuais entre os feudos ocorriam
em menor escala e tinham pouca importncia econmica. Sendo a produo
essencialmente agrcola, a base econmica do feudalismo a terra; alm
de essencial para a economia, a distribuio da terra interferiu nas relaes
que se estabeleceram nesse perodo.
O essencial no feudalismo era o vnculo pessoal, que podia se dar de
duas formas: por meio da relao entre suserano e vassalo (quer entre nobres,
quer entre membros do clero) ou entre senhor e servo.
O proprietrio
2
de grande extenso de terra, ao ceder parte dela a um
indivduo, recebia em troca a prestao de servios; assim, criava-se um vn-
culo pessoal entre aquele que cedia a terra e o indivduo que a recebia, e,
embora existisse a relao de dominao, havia obrigaes recprocas entre
as partes. As obrigaes envolviam relaes diretas entre quem cedeu e quem
recebeu a posse da terra, podendo ainda multiplicar-se na medida em que
um vassalo podia ceder parte de suas terras, transformando-se, assim, em
vassalo-suserano.
Entre o suserano e o vassalo, as obrigaes eram de ordem militar,
financeira e jurdica. De acordo com Aquino e outros (1980),
2 O termo proprietrio aqui usado para se referir quele que de-alguma forma pudesse
dispor da terra, ou por lhe pertencer de fato, ou por ter adquirido o direito de faz-lo por
meio da relao de vassalagem.
136
A condio de vassalo acarretava determinadas obrigaes para com o suse-
rano, a saber: auxlio militar obrigatrio durante quarenta dias por ano; auxlio
financeiro para o resgate do suserano, para a participao nas Cruzadas, para
armar cavaleiro o primognito ou quando do casamento da filha mais velha
do suserano; e auxlio judicirio. Em troca, o suserano devia proteger os vas-
salos e os que dependiam dele e proporcionar-lhes justia, (p. 392)
A proteo do feudo era feita pelos cavaleiros que o senhor sustentava em
troca de servios militares.
O s vnculos pessoais tambm existiam entre senhores e servos; enquan-
to o senhor tinha por obrigao proteger os servos de ataques, estes tinham
duas formas de obrigao - prestar servios (plantar na terra do senhor, con-
sertar estradas, arrumar moinhos, etc.) e dar ao senhor parte da produo
agrcola.
As obrigaes que recaem sobre um campons podem ser observadas
no seguinte documento do sculo IX:
Walafredus, um colonus e mordomo, e a sua mulher, uma colona (...) homens
de Saint Germain, tm 2 filhos. (...) Ele detm 2 mansos livres, com 7 bunuria
de terra arvel, 8 acres de vinha e 4 de prados. Deve por cada manso 1 vaca
num ano, 1 porco no seguinte, 4 denrios pelo direito de utilizar a madeira, 2
mdios de vinho pelo direito de usar as pastagens, 1 ovelha e 1 cordeiro. Ele
lavra 4 varas para um cereal de inverno e 2 varas para um cereal de primavera.
Deve corvias, carretos, trabalho manual, cortes de rvores quando para isso
receber ordens, 3 galinhas e 5 ovos (...). (Monteiro, 1986, p. 47)
O senhor, podendo dispor da terra, cedia ao servo o direito de nela se
instalar; o servo, necessitando de terra para seu prprio sustento, ao se ins-
talar, passava a ser a ela vinculado, isso , ficava impossibilitado de mudar-se,
tornando-se obrigado a trabalhar para o senhor alguns dias da semana; alm
disso, era obrigado a dar parte dos produtos obtidos no pedao de terra em
que se instalara. Assim, o servo era taxado duplamente: de um lado, quando
obrigado a trabalhar alguns dias da semana para o senhor, e, de outro, quando,
ao trabalhar para o seu prprio sustento, era obrigado a lhe dar parte da
produo. Alm dessas obrigaes, o servo pagava uma srie de "impostos",
como pelo uso do moinho, pelo casamento, etc.
Pelo casamento, por exemplo, o servo no s deveria pedir consenti-
mento ao senhor como, tambm, pagar um imposto - o maritagium. Segundo
Monteiro (1986), o no-cumprimento dessas obrigaes constitua um delito
de cujas penas o servo s poderia se isentar pelo perdo do senhor. O texto,
a seguir, exemplifica essa situao mostrando o papel da Igreja como me-
diadora servo-senhor.
137
Ao nosso mui querido amigo, o glorioso conde Hatton, Eginhardo, saudao
eterna no Senhor.
Um dos vossos servos, de nome Huno, veio Igreja dos Santos Mrtires Mar-
celino e Pedro pedir merc pela falta que cometeu contraindo casamento, sem
o vosso consentimento, com uma mulher de sua condio que tambm vossa
escrava. Vimos, pois, solicitar a vossa bondade para que em nosso favor useis
de indulgncia em relao a este homem, se julgais que a sua falta pode. ser
perdoada. Desejo-vos boa sade com a graa do Senhor. (Monteiro, 1986, p. 42)
No Feudalismo, enquanto o senhor era "proprietrio" da terra e se
apropriava da maior parte do produto do trabalho do servo, este era dono
dos instrumentos utilizados para a produo (pelo menos da grande maioria)
e era quem controlava seu prprio trabalho, isto , tanto os instrumentos de
produo quanto a forma de produzir eram de domnio do servo.
importante lembrar que, embora as relaes pessoais suserano-vassalo
e senhor-servo (relaes de servido) caracterizassem essencialmente o sis-
tema feudal, existiam camponeses que eram proprietrios de terras e artesos
que eram donos de oficinas; esses casos, no entanto, eram minoria e neles
a produo era pessoal e familiar.
Embora o feudo fosse a base do sistema feudal, existiam cidades
(burgos). Estas, at o sculo XI, tiveram importncia reduzida e estavam
estreitamente vinculadas ao feudo, pois, alm de situarem-se em terras de
senhores feudais e a eles pagarem impostos, eram submetidas sua ju-
risdio legal.
A pouca importncia das cidades nesse perodo est relacionada forma
como a sociedade feudal comea a se estruturar. Entre os sculos V e X
ocorre um processo de ruralizao e fragmentao. O s feudos tornam-se auto-
suficientes, conseguindo sobreviver com o que produziam - o produto do
trabalho tem, portanto, exclusivamente valor de uso.
Nesse contexto, pode-se entender, tambm, porque tanto o desenvolvi-
mento tcnico quanto o cientfico praticamente inexistiram. As poucas ino-
vaes, desse perodo, deram-se em termos tcnicos e foram trazidas pelo
povos ditos brbaros que introduziram, por exemplo, o estribo para cavalos,
o arado de rodas (construdo de madeira) e o cultivo de cereais, at ento
no produzidos.
Somente ao final desse perodo que ocorre um certo desenvolvimento
tcnico, voltado sempre s atividades agrcolas: ocorrem o aperfeioamento
dos instrumentos (por meio do uso do ferro em sua construo), a rotao
trienal de terra e a expanso dos moinhos d'gua.
138
O DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DAS CDDADES:
ALTERAES NA SOCffiDADE FEUDAL
Se at o sculo XI as cidades no tiveram importncia, a partir da elas
ressurgiram com vida prpria, ao lado dos feudos. Elas passaram a ser centros
produtores e comerciais - o que, por um lado, estimulou o crescimento do
artesanato (desenvolvido por artesos, agora geralmente habitando as cidades)
e, por outro, facilitou um maior intercmbio entre as pessoas de diversos
locais - diferentemente do que ocorria quando estavam vinculadas ao feudo.
O desenvolvimento das cidades e a intensificao do comrcio devem-
se a fatores diversos e relacionados. Segundo Mason (1964), hbitos e tc-
nicas trazidos pelos brbaros teutnicos - que invadiram o Imprio Romano
em desagregao - contriburam para posteriores inovaes tcnicas.
Estas diversas inovaes tiveram como conseqncia o fato de que a maioria
dos homens ficou, ento, aliviada de certa parcela do rude trabalho fsico que
lhe fora exigido na antigidade, e de que um excesso de alimentos foi produ-
zido, acima da necessidade de subsistncia dos domnios senhoriais. Tais ex-
cedentes de provises permitiram o desenvolvimento das cidades, com seus
ofcios e comrcios, e proporcionaram a riqueza necessria aos notveis em-
preendimentos que deram lugar entre os sculos XI e XIII: as cruzadas, a
construo das catedrais e a fundao das Universidades, (p. 81)
J, para Aquino e outros (1980), o renascimento das cidades e do co-
mrcio foi estimulado pelo crescimento populacional, possvel pela menor
incidncia de mortes por epidemia. Esses autores relacionam o aumento po-
pulacional ao aumento da produo agrcola, ao afirmarem que,
evidentemente, difcil determinar o que comeou primeiro, mas certo que
um estimulou o outro. O aumento da populao significou multiplicidade da
mo-de-obra disponvel e ampliao do mercado de consumo, o que, certo,
influiu no aumento de produo agrcola.
Este foi possvel devido s inovaes tcnicas na agricultura, as quais, por sua
vez, acarretaram a produo de excedentes para as trocas comerciais e a libe-
rao de uma parte da populao para outras atividades econmicas, como o
artesanato e o comrcio, (p. 405)
Bernal (1976), entre outros aspectos que contriburam para o renasci-
mento das cidades, destaca que
a economia feudal em si era em grande parte o produto da desorganizao
produzida pelo colapso da economia clssica, e pelas invases brbaras e per-
turbaes sociais que aquele provocara; uma vez que as condies se estabi-
lizaram e que as guerras se tornaram menos freqentes, a tendncia para formas
139
de organizao que no estivessem to diretamente ligadas terra voltou a
reafirmar-se. (p. 313)
Tal como no feudo, nas cidades havia uma forma de organizao para
a produo dos bens necessrios; no caso, o trabalho artesanal, que era rea-
lizado por mestres e aprendizes. O aprendiz era o indivduo que, para traba-
lhar com o mestre e com ele aprender o ofcio, estabelecia relaes de de-
pendncia e obrigaes. Por outro lado, o aprendiz podia chegar a ser um
mestre e ter aprendizes sob sua orientao. O mestre, geralmente o dono da
oficina, era dono dos instrumentos, da matria-prima, do produto que elabo-
rava e era quem organizava sua prpria forma de trabalhar.
O arteso elaborava um produto e era por ele responsvel desde a com-
pra e manuseio da matria-prima at sua transformao num produto final e
sua venda. Portanto, embora houvesse profisses, dentro de cada uma delas
no havia especializaes.
Nesse perodo, a produo de bens deixa de caracterizar-se pelo "valor
de uso", para caracterizar-se pelo "valor de troca". Isso ocorre tanto em
relao produo artesanal quanto agrcola: certas culturas de alimentos,
por exemplo, passam a ser substitudas por outras em funo de seu valor
comercial. Com o crescimento das cidades e o desenvolvimento do comrcio,
alm da diviso cidade-campo, ocorre a diviso produtores-mercadores.
A partir do sculo XI, as condies da sociedade feudal so outras: a
intensificao do comrcio, o crescimento das cidades, o aumento populacio-
nal e o contato com as civilizaes orientais - quer por meio do comrcio,
quer por meio das Cruzadas - caracterizam uma mudana em relao ao
perodo anterior. Nesse contexto, existe estmulo produo de inovaes
tcnicas, bem como incorporao de inovaes provenientes de outros po-
vos. Nesse estgio em que se encontra o modo de produo feudal destaca-se
a influncia oriental em relao s inovaes incorporadas, as quais contri-
buram para as transformaes ocorridas na Europa ocidental no que diz res-
peito ao incremento da produo e do comrcio.
Dentre as tcnicas incorporadas atividade agrcola podem ser citados
o uso da charrua (em substituio ao do arado), a atrelagem de cavalos, o
uso da ferradura (com a conseqente substituio dos bois pelos cavalos na
direo da charrua), tcnicas que permitiram utilizar mais eficientemente a
terra e a fora animal; na moagem de gros passou-se a utilizar o moinho
de vento.
Na atividade txtil ocorreu o aperfeioamento da roca e do tear, que
permitiu maior produtividade; alm disso, a fora hidrulica passou a ser
utilizada nos processos que visavam a aumentar a densidade e durabilidade
do tecido.
140
Com a necessidade de transportar mercadorias, houve condies para
os aperfeioamentos nuticos - tais como o leme de popa e o mastro na proa
do navio - , que tornaram possveis as viagens transocenicas; com a intro-
duo da bssola, o transporte martimo pde ser realizado, mesmo quando
no era possvel ter a terra e os corpos celestes como guia.
Podem-se citar, ainda, inovaes tcnicas como fundio de ferro, pa-
pel, imprensa, plvora e canho. Nas serralherias, a fora hidrulica foi uti-
lizada, permitindo chegar fundio do ferro; com a introduo do papel e
da imprensa, foi possvel a divulgao mais fcil das idias (por exemplo,
da Bblia); com a plvora e a fabricao de canhes, alteraram-se profunda-
mente as condies das guerras.
Nesse perodo, verifica-se, ainda, a intensificao na produo do co-
nhecimento cientfico em diferentes campos, como a astronomia, a tica, a
medicina, a qumica e a matemtica, reas essas em que tambm se observa
a influncia do conhecimento advindo do O riente.
Em relao produo cientfica, embora seu desenvolvimento tenha
sido superior ao ocorrido at o sculo X, ainda assim foi bastante limitada
e com caractersticas que podero ser melhor entendidas quando se considerar
o papel que a Igreja desempenhou durante toda a Idade Mdia, o que ser
discutido no tpico seguinte.
A IGREJA: UM PODER DURANTE SCULOS
Durante o perodo em que predominou o modo de produo feudal, a
Igreja teve um papel marcante.
A influncia e a fora da Igreja cresceram muito desde o Imprio Ro-
mano. Durante a crise desse Imprio, o cristianismo surgiu como um ques-
tionamento s idias e valores da sociedade escravista, pregando a crena na
igualdade de todos os homens, filhos do mesmo Pai; ainda que perseguidos
seus adeptos, o cristianismo representava os anseios de grande parte da po-
pulao, conquistando cada vez mais seguidores, inclusive entre a aristocra-
cia. De acordo com Aquino e outros (1980), numa sociedade onde reinava
a insegurana e que estava sujeita a ameaas - o decadente Imprio Romano
- , a Igreja oferecia segurana e proteo de que a populao necessitava; a
salvao era buscada cada vez mais por adeptos que doavam terras e pagavam
tributos para alcan-la.
Se num primeiro momento a Igreja representava os anseios de um povo
que vivia num regime de opresso, posteriormente passou a ter um importante
papel na produo, veiculao e manuteno das idias e na estrutura social
vigentes na sociedade feudal.
141
A Igreja era grande proprietria de terras, numa sociedade em que a
terra era sinnimo de riqueza, tendo conseguido tal poder econmico graas
a doaes, esmolas, tributos, iseno de impostos e ao celibato, o qual ga-
rantia a manuteno das propriedades obtidas como seu patrimnio. O s bens
de propriedade da Igreja foram cada vez mais se avolumando, e, para tanto,
tambm contribuiu a cobrana de impostos em troca de proteo espiritual.
Alm de forte poder econmico, a Igreja possua uma estrutura que lhe
possibilitou, ainda mais, a hegemonia. O rganizando-se de forma centralizada
e hierarquizada, garantia sua unidade e um domnio que - diferentemente do
exercido pelos senhores feudais - ultrapassava os limites fsicos dos feudos.
Acresce-se, a isso, a deteno do monoplio do saber, em funo do domnio
das habilidades de leitura e escrita, restrito praticamente ao clero, e do con-
trole do sistema educacional formal, que era da alada exclusiva da Igreja.
A influncia da Igreja expressou-se nas idias e princpios jurdicos,
polticos, ticos e morais. A busca de organizao dessas idias e princpios
foi empreendida por seus representantes, tais como Santo Ambrsio, So
Jernimo e Santo Agostinho.
Seus esforos concentraram-se na organizao da disciplina e do culto, na fi-
xao dos dogmas e da moral, a fim de fortalecer a unidade e dar aos homens
da poca um cdigo de tica que norteasse suas aes, dizendo-lhes de antemo
o que era certo e o que era errado, o que era o Bem e o que era o Mal. A
Igreja assumia, assim, a tarefa de pensar por todos os homens da poca (...).
Por isso, as idias religiosas eram colocadas em termos absolutos e inquestio-
nveis sob forma de dogmas e de uma moral rgida. (Aquno e outros, 1980,
p. 364)
Tambm na vida intelectual, a influncia da Igreja se fez sentir; se, por
um lado, o monoplio do saber permitiu o controle da veiculao do conhe-
cimento, por outro, permitiu o controle da produo de conhecimento. Ao
produzir conhecimentos, uniu-se o saber greco-romano aos dogmas cristos,
buscando-se dar, assim, uma fundamentao slida s doutrinas do cristia-
nismo. Toda a vida intelectual ficou subordinada Igreja: a teologia, a filo-
sofia e a cincia traziam, umas mais, outras menos explicitamente, a marca
da religio.
Em relao aos conhecimentos produzidos, o domnio se faz sentir na
medida em que estes no poderiam, em hiptese alguma, contradizer as idias
religiosas, mesmo porque o prprio clero estava envolvido na elaborao e
veiculao dos conhecimentos da poca.
Nesse contexto, pode-se entender por que a produo do conhecimento
cientfico - que comeou a se intensificar a partir do sculo XI - teve um
carter mais prtico que explicativo. Isso pode ser exemplificado pela medi-
142
cina, na qual a descrio de doenas e a identificao de remdios obtiveram
resultados prticos satisfatrios no que diz respeito teraputica. O utro exem-
plo pode ser a qumica: na tentativa de transformar metais em ouro (tentativa
ligada alquimia), foram aperfeioados mtodos de reaes qumicas, bem
como elaborados instrumentos e procedimentos de destilao.
Quanto s explicaes dadas aos fenmenos, esto impregnadas de va-
lores defendidos pela Igreja: da noo de um mundo criado por Deus, de
forma hierrquica e organizada, s noes msticas e especulativas, sente-se
a limitao do esprito religioso da poca. Novamente, pode-se citar a me-
dicina como exemplo: ao tentar explicar doenas, como o caso da peste
negra, atribui-se-lhes causas tais como influncias astrolgicas ou anormali-
dades climticas. O utro exemplo pode ser retirado da astronomia, cujas ex-
plicaes incluem seres angelicais ligados aos corpos celestes. At mesmo
Roger Bacon, a despeito de realizar experimentos, partidrio da idia de
que, sem a ajuda de uma sabedoria superior (Deus), o conhecimento intelec-
tual impossvel.
O utra caracterstica da produo de conhecimento refere-se aos proce-
dimentos metodolgicos utilizados; diferentemente do que ocorrer posterior-
mente, os fatos, a observao e a experimentao no so critrios de acei-
tao ou rejeio das explicaes. O maior peso dado autoridade que
tem, como representao mxima, o pensamento de Aristteles, j cristiani-
zado.
Considerando-se que a observao e a experimentao constituem-se
potencialmente em procedimentos que podem vir a gerar, com base em dados,
novos conhecimentos contrrios queles defendidos dogmaticamente com
base na autoridade, pod-se entender por que tais prticas sofriam sanes
da Igreja. Nesse caso, encontra-se o frade Roger Bacon (sculo XIII) que,
utilizando nos seus estudos de tica a observao da ocorrncia do fenmeno
em diferentes situaes, sofre presses e fiscalizao da ordem a que pertencia.
Apesar de poderem ser citados, tambm, Robert Grossetste e Dietrich
de Freiberg, como exemplos da utilizao da observao e da experimentao
como procedimentos metodolgicos, deve-se voltar a ressaltar que eles foram
a exceo e no a regra. Embora tenham utilizado procedimentos que sero
caractersticos da cincia moderna, utilizaram-nos num momento em que a
sociedade da poca no criava condies para generaliz-los.
A interferncia da Igreja faz-se sentir tambm nas preocupaes que
predominavam na poca: considerando que a Igreja constitua uma fora do
ponto de vista poltico-econmico, bem como da veiculao das idias, no
de se estranhar que a preocupao dominante tenha sido basicamente a de
discutir a vida espiritual do homem e seu destino, assim como a de justificar
143
as doutrinas do cristianismo. De acordo com Brhier (1977-78), caracterizam
o pensamento medieval: "() vida intelectual inteiramente subordinada
vida religiosa, os problemas filosficos apresentando-se em funo do destino
do homem tal como o concebe o cristianismo" (p. 10).
Durante esse perodo, as discusses acerca do papel da razo e da f,
na justificativa das doutrinas crists, tomaram diferentes rumos, indo desde
posturas que menosprezaram o papel da razo at as que the davam um papel
de destaque na justificativa de verdades da f. Embora variassem as nfases
dadas, quer razo, quer f, a relao entre ambas um aspecto caracte-
rstico das idias desse perodo.
A fonte das doutrinas, comum aos pensadores da poca, era a Bblia.
No trabalho de justificar tais doutrinas, utilizavam-se os conhecimentos (ex-
plicaes, concepes e procedimentos metodolgicos) advindos da cultura
grega. O pensamento de Plato, dos neoplatnicos, assim como de Aristteles
(boa parte via traduo dos rabes), foi retomado e adaptado de forma a se
poder concili-lo ao cristianismo. No pensamento medieval, a influncia da
filosofia platnica se fez sentir com maior intensidade durante o perodo
denominado Alta Idade Mdia (sculo V ao X); Santo Agostinho um dos
exemplos dessa influncia. A recuperao do trabalho de Aristteles pelos
rabes, a partir do sculo XI, possibilitou aos pensadores medievais ocidentais
o contato com sua obra, na qual passaram a se pautar para o desenvolvimento
do conhecimento; Santo Toms de Aquino pode ser citado como exemplo
disso.
O utro trao caracterstico do pensamento medieval a concepo hie-
rrquica e esttica de universo, concepo que dever permear a formulao
dos princpios polticos, ticos e morais predominantes no feudalismo da Eu-
ropa ocidental. Numa sociedade rigidamente estruturada, em que a Igreja se
encontra no topo da escala hierrquica, no de estranhar que as concepes
acerca do universo como ordenado e esttico, idias advindas dos gregos,
passassem a prevalecer, pois guardam relao com a prpria estrutura da
sociedade feudal.
144
CAPITULO 6
O CO NHECIMENTO CO MO ATO
DA ILUMINA O DIVINA:
SANTO AGO STINHO (354-430)
No que diz respeito a todas as coisas que compreendemos,
no consultamos a voz de quem fala, a qual soa por fora,
mas a verdade que dentro de ns preside prpria mente,
incitados talvez pelas palavras a consult-la.
Santo Agostinho
Nasceu em 354, em Tagaste, provncia romana da Numdia (frica), e
morreu em 430 em Hipona (frica). Realizou estudos de letras e retrica,
tendo sido professor em Milo. Apesar de viver em um perodo em que o
cristianismo j era a religio oficial do Imprio Romano do O cidente, a ele
s se converteu em 386.
Viveu no perodo de decadncia do Imprio Romano, sentindo as gra-
ves conturbaes sociais daquele momento e as invases dos chamados povos
brbaros. Esse momento, bem como sua tardia converso, parece dar um
significado s suas preocupaes, no s no sentido de fundamentar e estru-
turar as noes do cristianismo, como tambm no sentido de preocupar-se
fundamentalmente com a condio da vida humana.
Afastando-se da preocupao com o universo fsico, sua filosofia est
voltada para a vida do homem e para a busca que, nessa vida, deve encami-
nhar-se para o Bem. a esse objetivo que se vincula o conceito da verdade
em sua obra, a qual revela a influncia do neoplatonismo escola que
imprime filosofia platnica um cunho religioso.
Sem opor teologia e filosofia, afirma, segundo Ppin (1974), que "()
sempre preciso crer para compreender e compreender para crer" (p. 78).
Nesse sentido, segundo Franco Jr. (1986), afirma serem as verdades da f
no demonstrveis pela razo, embora esta pudesse confirmar algumas ver-
dades da f. Algumas idias caracterizam o pensamento de Santo Agostinho:
as noes de beatitude, graa, predestinao e iluminao divina, todas liga-
das ao conceito de Deus. Para Agostinho, Deus o criador de todas as coisas:
bom, sbio, fonte do inteligvel, fonte da verdade, realidade total, eterno e
essncia no mais alto grau.
Todo o Universo foi criado por Deus; todas as coisas, das mais elevadas
s mais nfimas, foram por ele criadas a partir do nada. Ao criar o mundo,
Deus o teria feito de forma inacabada, colocando, no entanto, na matria,
princpios latentes segundo os quais o mundo se transformaria; segundo Pe-
terson (1981), tais princpios imprimem aos seres uma transformao em
direo perfeio. Para Agostinho, a matria e a forma foram criadas ao
mesmo tempo; no mesmo momento, Deus deu origem matria e imprimiu-
lhe uma forma.
Enalteam-Vos as vossas obras, para que Vos amemos! Que ns Vos amemos,
para que vossas obras Vos enalteam! Elas tm princpio e fim no tempo,
nascimento e morte, progresso e decadncia, beleza e imperfeio. Portanto,
todas elas tm sucessivamente manh e tarde, ora oculta, ora manifestamente.
Foram feitas por Vs do nada, no porm da vossa substncia ou de certa
matria pertencente a outrem ou anterior a Vs, mas da matria concriada,
isto , criada por Vs ao mesmo tempo que elas, e que, sem nenhum intervalo
de tempo, fizestes passar da informidade forma (Confisses, XIII, 33, 48,
m sq.)
A noo de "criao a partir do nada" adquire um significado mais
forte, ao se perceber que, para Santo Agostinho, a noo de tempo est vin-
culada existncia do universo. O tempo no existe para Deus; passa a existir
a partir da criao do universo, que teve um incio e que ter um fim. Diz
Agostinho:
Como poderiam ter passado inumerveis sculos, se Vs, que sois o Autor e
o Criador de todos os sculos, ainda os no Unheis criado? (...) Crias te todos
os tempos e existis antes de todos os tempos, (Confisses, XI, 13, 15 e 16, II sq.)
Como todas as outras criaturas, o homem fruto do ato divino; no
entanto, o homem , entre as criaturas, um ser superior. Sua superioridade
decorre do fato de que, sendo o nico ser criado " imagem e semelhana
de Deus", o nico que tem razo e inteligncia. Como afirma nas Confis-
ses:
Vemos o homem, criado Vossa imagem e semelhana, constitudo em digni-
dade acima de todos os viventes irracionais, por causa de vossa mesma imagem
e semelliana, isto , por virtude da razo e da inteligtcia. (XIII, 32, 47, III sq.)
Apesar de destacar o homem, conferindo-lhe superioridade em relao
aos outros seres, devido sua capacidade intelectiva, Agostinho limita o
domnio do ser humano sobre o mundo, afirmando a impossibilidade de o
146
homem poder atuar sobre os fenmenos, tais como os cus e os mares. Res-
tringe seu controle a eventos de menores propores, de natureza animada
ou inanimada. A possibilidade de "domnio" de certos fenmenos, como os
celestes, to buscada nos sculos posteriores, e marcante no Renascimento,
por ele negada; os fenmenos permanecem como mistrios que no cabem
ao homem desvendar. Segundo Santo Agostinho, o ser humano
(...) no recebeu o poder sobre os astros do cu, nem sobre o prprio firma-
mento misterioso, nem sobre o dia e a noite, que chamastes existncia antes
da criao do cu, nem sobre a juno das guas, que o mar. Mas recebeu
jurisdio sobre os peixes do mar, sobre as aves do cu, sobre todos os ani-
mais, sobre toda a terra e sobre todos os rpteis que rastejam no cho. {Con-
fisses, XIII, 25, 34, III sq.)
Para Santo Agostinho, Deus o Bem Supremo e, sendo bondade, no
poderia criar o mal; sendo o mundo criado por Deus, nele no existe o mal,
j que o princpio que vigora o bem. O mundo foi criado perfeito em sua
totalidade, portanto, aquilo que percebemos como mal devido viso parcial
que temos de algo que, includo no contexto geral do mundo, na verdade
um bem.
Se essa viso de Santo Agostinho permite explicar o que, para ele,
pretensamente visto como o mal no mundo, ela no permite explicar aquilo
que se identifica como o mal na ao dos homens. Ao abordar as aes
humanas, Santo Agostinho introduz as noes de privao do bem e vontade.
Para ele, o mal a privao do bem, e o homem, por sua vontade, pode
distanciar-se de Deus, afastando-se, dessa forma, do bem. A vontade , para
Agostinho, criadora e livre e pela vontade que o homem deixa o corpo
dominar a alma e chega degradao.
Em absoluto, o mal no existe nem para Vs, nem para as vossas criaturas,
pois nenhuma coisa h fora de Vs que se revolte ou que desmanche a ordem
que lhe estabelecestes. Mas porque, em algumas das suas partes, certos ele-
mentos no se liarmonizam com outros, so considerados maus. Mas estes
coadunam-se com outros, e por isso so bons (no conjunto) e bons em si
mesmos. (Confisses, VII, 13, 19, II sq.)
Esforava-me por entender (a questo) que ouvia declarar acerca de o
livre-arbtrio da vontade ser a causa de praticarmos o mal, e o vosso reto
juzo o motivo de o sofrermos. Mas era incapaz de compreender isso nitida-
mente. (Confisses, VII, 3, 4, S, I sq.)
Procurei o que era a maldade e no encontrei uma substncia, mas sim uma
perverso da vontade desviada da substncia suprema de Vs, Deus e
tendendo para as coisas baixas: vontade que derrama as suas entranhas e se
levanta com intumescncia. (Confisses, VII, 16, 22, II sq.)
147
Segundo Ppin (1974), para Agostinho, "Deus no quer o bem porque
bem, mas o bem bem porque Deus o quer" (p. 94). No que se refere
moral, portanto, Deus criou os valores e, como os criou, pode mud-los.
Para Santo Agostinho, a alma (que imortal) deve sobrepor-se ao cor-
po, dirigindo-o; o corpo a priso da alma e fonte de todos os pretensos
males. Quando a alma se submete ao corpo, fica voltada para a matria e
no tem fora para sair do estado de decadncia em que se encontra. O
homem deve, portanto, desvencilhar-se das coisas mundanas e carnais, vol-
tando-se s espirituais, as quais vo lhe propiciar a aproximao de Deus, o
sumo Bem. Embora a degradao humana ocorra por livre-arbtrio, voltar-se
novamente para o bem e para Deus no mais opo do homem; ao contrrio,
necessria a graa divina para tir-lo do pecado.
A noo de salvao encerra, no entanto, uma contradio. Se, ao re-
lacionar pecado e vontade, Santo Agostinho coloca nas mos do homem a
responsabilidade acerca do seu destino, acaba por restringi-la quando postula
uma predestinao absoluta. Ppin (1974) afirma que, segundo Santo Agos-
tinho, "Deus primeiro escolhe seus eleitos, depois lhes d os meios de cor-
responder a essa eleio; ela (predestinao) no leva em conta os mritos
futuros que, ao contrrio, dela decorrem" (p. 94). A salvao pertence, por-
tanto, aos predestinados, como ilustrado no trecho a seguir.
Igualmente no pode ajuizar daquilo que distingue os homens espirituais dos
carnais. Estes, meu Deus, so conhecidos aos vossos olhos. Ainda se no
manifestaram a ns com nenhuma de suas obras, para que, "pelos seus frutos,
os conheamos". Porm, Vs, Senhor, j os conheceis, j os classificastes, j
llies fizestes ocultamente o convite antes de ser criado o firmamento. {Confis-
ses, XIII, 23, 33, II sq.)
A interferncia de Deus est presente em todas as esferas da ao hu-
mana: Deus tem o poder de decidir sobre a salvao do homem mediante
a graa e tem tambm o domnio sobre a possibilidade do conhecimento,
mediante a iluminao.
Para Santo Agostinho, o conhecimento pode se referir s coisas sens-
veis (provenientes dos sentidos) e s coisas inteligveis (provenientes da ra-
zo): "Pois todas as coisas que percebemos, percebemo-las ou pelos sentidos
do corpo ou pela mente" (De Magistro, XII). Em relao s primeiras, os
sentidos fornecem imagens que so levadas memria, imagens essas que
so reunidas e organizadas interiormente pelo indivduo; assim, os sentidos
so necessrios e imprescindveis na elaborao desse tipo de conhecimento.
Chego aos campos e vastos palcios da memria onde esto tesouros de inu-
merveis imagens trazidas por percepes de toda espcie. A est tambm
escondido tudo o que pensamos, quer aumentando quer diminuindo ou at
148
variando de qualquer modo os objetos que os sentidos atingiram. (...) O grande
receptculo da memria sinuosidades secretas e inefveis, onde tudo entra
pelas portas respectivas e se aloja sem confuso recebe todas estas im-
presses, para as recordar e revistar quando for necessrio. (Confisses, X,
8. 12 e 13 II sq.)
Para Santo Agostinho, o conhecimento pode, porm, referir-se a coisas
que no so provenientes dos sentidos as chamadas coisas inteligveis.
Estas so percebidas apenas pela mente humana, por meio de um processo
de reflexo interior.
Ao falar sobre esse tipo de conhecimento, Agostinho recoloca a noo
platnica de reminiscncia, uma vez que os sentidos funcionariam como um
meio estimulatrio da auto-reflexo; a partir deles emergem noes j exis-
tentes na memria, que no foram a colocadas pelos sentidos. Tal o caso
dos juzos de valor e das relaes matemticas que, para ele, no podem ter
sido gravados pelos sentidos, uma vez que "(...) no tm cor, nem som, nem
cheiro, nem gosto, nem so tteis" (Confisses, X, 12, 19, II sq.). O ra,
esse conhecimento revelado por uma luz interior e, nesse caso, os sen-
tidos funcionam como uma "provocao" auto-reflexo. Como afirma,
em relao s
(...) coisas que percebemos pela mente, isto , atravs do intelecto e da razo,
estamos falando ainda em coisas que vemos como presentes naquela luz inte-
rior de verdade, pela qual iluminado e de quefrui o homem interior (...).
(De Magistro, XII)
Segundo Santo Agostinho, a verdade autntica imutvel e apreendida
pela inteligncia iluminada. Chega a essa concluso usando o argumento de
que, se a verdade fosse mutvel, a inteligncia no poderia ter a idia de que
o imutvel prefervel ao mutvel. O ra existe essa idia de imutabilidade.
Portanto, s pode ser proveniente de algo superior, que d fundamento
verdade: Deus. por meio da iluminao divina que o homem, por um
processo interior, chega verdade; no o esprito, portanto, que cria a
verdade, cabendo-lhe apenas descobri-la e isso se d via Deus. O conheci-
mento verdadeiro provm, portanto, de fonte divina eterna e imutvel
e no humana. A contemplao atividade humana, mas s possvel porque
Deus fornece ao homem o material necessrio para que ela possa ocorrer.
Buscando, pois, o motivo por que que (eu) aprovara a beleza dos corpos,
quer celestes, quer terrenos, e que coisa me tornava capaz de julgar e dizer
corretamente dos seres mutveis: "Isto deve ser assim, aquilo no deve ser
assim", procurando qual fosse a razo deste meu raciocnio ao exprimir-me
naqueles termos, descobri a imutvel e verdadeira Eternidade, por cima da
minha inteligncia sujeita mudana. (...) A esta (potncia raciocinante) per-
149
tence ajuizar acerca das impresses recebidas pelos sentidos corporais. Mas
esta potncia, descobrindo-se tambm mutvel em mim, levantou-se at sua
prpria inteligncia, afastou o pensamento das suas cogitaes habituais, de-
sembaraando-se das turbas contraditrias dos fantasmas, para descortinar
qual fosse a luz que a esclarecia, quando proclamava, sem a menor sombra
de dvida, que o imutvel devia preferir-se ao mutvel.
Daqui provinha o seu conhecimento a respeito do prprio Imutvel, pois, se
de nenhuma maneira o conhecesse, no o anteporia com toda segurana ao
varivel. {Confisses, VII, 17, 23, II sq.)
Quanto as noes relativas sociedade e sua organizao percebe-se,
em Agostinho, que refletem suas concepes sobre o universo, homem e
Deus.
A idia de que Deus conduz tudo o que ocorre no universo, inclusive
a vida humana, implica a aceitao de que tudo no mundo bom, justo,
consentido por Deus. Tal postura justifica inclusive o escravismo de seu tem-
po; segundo Peterson (1981), " (...) o escravo o porque Deus o quer; Deus,
o Todo-poderoso, permite a escravido e esta, portanto, deve ser boa. O
escravo deve ser humilde; deve se sujeitar ao seu mestre, que, por sua vez,
deve submeter-se ao Imprio" (p. 69).
Santo Agostinho defende, ainda, a idia da existncia de uma outra
realidade, celestial, que denomina cidade de Deus, a qual seria edificada pelos
eleitos. Segundo Franco Jr. (1986), a concepo da cidade de Deus guarda
relao com o mundo das idias de Plato, uma vez que contrape a existncia
de uma realidade concreta, terrena, imperfeita de uma realidade transcen-
dente, espiritual, perfeita. Na cidade terrena, o homem o cidado, e a Igreja
representa, encarna, a cidade de Deus, devendo, por isto, governar e ter su-
premacia sobre o Estado. Sendo os representantes de Deus na Terra, os chefes
da Igreja no cometeriam erros, ao contrrio dos governantes.
150
CAPITULO 7
RAZO COMO APOIO A VERDADES DE F:
SANTO TOMS DE AQUINO (1225-1274)
Todo efeito possui, a seu modo, uma certa semelhana com
a sua causa, embora o efeito nem sempre atinja a semelhana
perfeita com a causa agente. No que concerne ao
conhecimento da verdade de f - verdade que s conhecem
perfeio os que vem a substncia divina - a razo humana
se comporta de tal maneira, que capaz de recolher a seu
favor certas verossimilhanas.
Santo Toms de Aquino
Descendente da nobreza (seus pais so descendentes dos condes de
Aquino), nasceu em Npoles em 1225 e morreu, em 1274, em Campnia,
no muito longe da cidade natal. Iniciou seus estudos na Itlia, tendo se
transferido, posteriormente, para Paris, onde atuou como professor. Viveu em
uma poca em que as estruturas feudais j estavam estabelecidas e num mo-
mento de intensificao do comrcio, em que o intercmbio entre povos fa-
cilitou o acesso a obras at ento desconhecidas, principalmente via tradues
rabes.
Alm das obras aristotlicas, que marcaram profundamente seu pensa-
mento, identificam-se influncias de Santo Agostinho, Alberto Magno (seu
professor) e Plato. No se pode esquecer tambm as Sagradas Escrituras
como fonte constante na elaborao de suas idias.
Algumas noes caracterizam sua obra: a relao que estabelece entre
razo e f, as concepes de finalidade, de causalidade e de potncia-ato.
Santo Toms destingue a Filosofia da Teologia, em funo de seu objeto de
estudo: cabe Filosofia preocupar-se com as coisas da natureza, utilizando-se
da razo como instrumento de fundamentao; cabe Teologia preocupar-se
com o sobrenatural, cujo instrumento a f. Nesse sentido, existe uma de-
limitao de campos: o referente razo e o referente f, sendo possvel
chegar ao conhecimento, nos dois casos. Se a separao entre os objetos de
estudo da Filosofia e da Teologia torna razo e f independentes entre si,
Santo Toms acaba conciliando-as ao admitir ser possvel fundamentar ver-
dades da f por meio da razo. A conciliao f-razo expressa-se nas provas
da existncia de Deus: por intermdio de argumentos racionais que tm por
premissas a observao da realidade, Santo Toms procura provar a existncia
de Deus.
Considerando que Deus se revela na sua criao, procura, por meio do
que considera manifestaes (efeitos) da obra divina, chegar prova de Sua
existncia (causa dos efeitos). Toms de Aquino prope cinco provas da exis-
tncia de Deus, a partir: 1) do movimento identificado no universo; 2) da
idia de causa em geral; 3) dos conceitos de necessidade e possibilidade; 4)
da observao de graus hierrquicos de perfeio das coisas; e 5) da ordem
das coisas.
1) Deus existe porque existe movimento no Universo. O bserva-se, no
mundo, que as coisas se transformam. Todo o movimento tem uma causa,
que exterior ao ser movido. Sendo cada corpo movido por outro, neces-
srio existir um primeiro motor, no movido por outros, responsvel pela
origem do movimento. Esse primeiro motor Deus.
2) Deus existe porque, no mundo, os efeitos tm causa. Todas as coisas
no mundo so causas ou efeitos de algo, no podendo uma coisa ser causa
e efeito de si mesma. Assim, toda causa causada por outra leva necessidade
da existncia de uma causa no-causada. Essa primeira causa Deus.
3) Deus existe porque observa-se, no mundo, o aparecimento e o de-
saparecimento de seres. Se todas as coisas aparecem ou desaparecem, elas
no so necessrias, mas so apenas possveis. Sendo apenas possveis, de-
vero ser levadas a existir num dado momento por um ser j existente. Esse
ser existente e necessrio por si prprio, que torna possvel a existncia dos
outros seres, Deus.
4) Deus existe porque h graus hierrquicos de perfeio nas coisas do
mundo. Dizer que existem graus de bondade, sabedoria... implica a noo de
que essas coisas existam em absoluto, o que, inclusive, permite a comparao.
A bondade e a sabedoria absoluta (em si) so Deus.
5) Deus existe porque existe ordenao nas coisas do mundo. No mun-
do, verifica-se que as diferentes coisas se dirigem a um determinado fim, o
que ocorre regularmente e ordenadamente. Sendo to diversas as coisas exis-
tentes, a regularidade e a ordenao no poderiam ocorrer por acaso; portanto,
faz-se necessrio que exista um ser que governe o mundo. Esse ser Deus.
Se, por um lado, Santo Toms de Aquino ressalta a importncia da
razo, seja na produo de conhecimento referente realidade, seja na de-
monstrao de certas verdades reveladas, por outro lado, limita essa impor-
tncia e acaba por dar prioridade f, quando ressalta que alguns conheci-
152
mentos revelados (como, por exemplo, a substncia de Deus), mesmo no
podendo ser demonstrados, continuam verdadeiros, uma vez que advindos da
revelao divina, sendo, portanto, superiores aos da razo.
Sobre Toms de Aquino, diz Brhier (1977-78):
Conclui-se que nenhuma verdade de f poderia infirmar uma verdade da razo,
ou inversamente. Mas, como a razo humana fraca, e como a inteligncia
do maior filsofo, comparada inteligncia de um anjo, bem inferior in-
teligncia do campnio mais simples comparada sua prpria, deduz-se que,
quando a verdade da razo parece contradizer uma verdade de f, podemos
estar certos de que a pretensa verdade da razo no seno um erro e que a
discusso mais profunda revelar a falsidade, (p. 135)
A noo de finalidade, essencial no pensamento de Toms de Aquino,
est relacionada s noes de causalidade e de ato-potncia. Esses conceitos
foram propostos originalmente por Aristteles, cujo pensamento exerceu pro-
funda influncia em Santo Toms; tal influncia percebida nas concepes
tomistas referentes ao universo, ao homem, ao conhecimento e, inclusive,
nas provas que procura fornecer sobre a existncia de Deus.
Segundo Toms de Aquino, todas as coisas tm certa finalidade no
mundo; tanto a planta quanto o homem existem para um determinado fim.
Por sua vez, tudo o que existe no mundo passa por um processo de trans-
formao: do ser em potncia ao ser em ato. As coisas so o que so por
terem, potencialmente, a possibilidade de transformarem-se naquilo que so.
Ao transformarem-se naquilo que so, fazem-no em funo de um objetivo,
de uma finalidade; existe, portanto, uma causa final. Essa transformao da
potncia em ato permite que se d uma forma matria, e isso se d por
meio da atuao de certos meios. Alm da causa final, existem tambm as
causas formal, material e eficiente.
As causas formal, material, eficiente e final, portanto, constituem a
noo de causalidade para Santo Toms, noo essa relacionada, como vimos,
noo mais ampla de finalidade e de potncia-ato. Essas noes permearo
o pensamento de Toms de Aquino no que se refere ao universo, ao homem,
a Deus, ao conhecimento, moral e poltica.
Admitindo que tudo tem uma finalidade, Toms de Aquino admite a
ordenao e hierarquizao do mundo, pois, apesar da diversidade dos seres,
estes tm uma funo e certo grau de perfeio dentro do universo.
Assim como estas substncias (imateriais) dotadas de inteligncia superam as
outras em grau, da mesma forma necessrio que haja hierarquia de grau
entre elas mesmas. No podendo diferenciar-se uma das outras em virtude da
matria que no possuem, e sendo que existe pluralidade entre elas, necessa-
riamente a diferena que as distingue provm da distino formal, que constitui
153
a diversidade de espcie. Ora, em quaisquer coisas em que reina diversidade
especfica, cumpre considerar nelas algum grau e alguma ordem.
A razo disto est em que, assim como nos nmeros a adio ou a subtrao
das unidades variam a espcie da unidade, da mesma forma pela adio e
subtrao das diferenas que as coisas da natureza se diferenciam especifica-
mente. Assim, os seres apenas animados distinguem-se dos que, alm de ani-
mados, so sensveis, e os que so apenas animados e sensveis diferenciam-se
dos que, alm de serem animados e sensveis, so tambm racionais. E, pois,
necessrio que as mencionadas substncias imateriais se diferenciem entre si
por graus e ordens. {Compndio de teologia, 77, 135)
Ora, no seria razovel dizer que h mais ordem nas coisas produzidas pela
natureza criada do que no primeiro agente da natureza (Deus), pois toda a
ordem da natureza deriva dele. E evidente, portanto, que Deus criou as coisas
em vista de um fim. (Compndio de teologia, 100, 193)
O s trechos acima evidenciam tambm a concepo de Santo Toms
sobre a origem do universo: o mundo foi ato da inteligncia divina. A criao
do mundo deu-se a partir do nada, quando Deus deu origem forma e
matria no mesmo instante.
Do que vimos expondo at aqui conclui-se necessariamente que as coisas que
s podem ser produzidas por criao procedem diretamente de Deus. mani-
festo que os corpos celestes s podem ser produzidos por criao. Pois na
verdade no se pode dizer que se originaram de alguma matria preexis-
tente, visto que, se assim fora, seriam gerveis, corruptveis e passveis de
mudanas contrrias, o que no acontece, conforme se pode depreender de seu
movimento circular. Efetivamente, os corpos celestes caracterizam-se pelo mo-
vimento circular, e o movimento circular no admite contrrio.
Segue-se, por conseqncia, que os corpos celestes foram criados diretamente
por Deus. (Compndio de teologia, 95, 179)
A unio entre matria e forma constitui todo o universo; a matria,
comum a todos os corpos, seu elemento potencial enquanto a forma o
que diferencia os corpos, constituindo-se em seu elemento ativo. De acordo
com Giordani (1983), Toms de Aquino defende que
A essncia dos corpos constituda por dois princpios fsicos: matria-prima
e forma substancial. A primeira o elemento possvel, potencial, indetermina-
do, fundamento da extenso e da multiplicidade, comum a todos os corpos. A
segunda o elemento ativo, fundamento da especificao, diverso para cada
1 Nesse ltimo trecho ficam claras no s a concepo de Toms de Aquino acerca da
criao do Universo como tambm as idias que defendia acerca do movimento dos corpos
celestes, idias essas que viriam a ser refutadas por cientistas de sculos posteriores.
154
corpo. A matria e a forma so substncias incompletas. Na unio de ambas
a matria especificada pela forma. (pp. 88-89)
A unio matria e forma constitui todos os corpos do universo, inclu-
sive o homem; nele, o corpo (matria) est unido alma (forma). Na con-
cepo de Santo 1 ornas, o conceito de alma no exclusivo do homem, pois
outros seres, tais como as plantas e os animais, possuem alma (respectiva-
mente, vegetativa ou nutritiva e sensitiva). A alma humana, no entanto, di-
ferencia-se da dos outros seres por uma potncia que lhe prpria: a racional.
Na Suma teolgica, Toms de Aquino afirma:
Pois, vemos que as espcies e as formas das cousas diferem uma das outras,
como o mais perfeito difere do menos perfeito. Assim, na ordem das cousas,
os seres animados so mais perfeitos que os inanimados; os animais, que as
plantas; os homens, que os brutos; e em cada um destes gneros, h graus
diversos (...) a alma intelectiva contm, pela sua virtude, tudo o que tem a
alma sensitiva dos brutos e a nutritiva das plantas. (LXXVI, III)
No homem, a alma nica, porm apresenta diferentes potncias; al-
gumas dessas potncias atuam diretamente unidas ao corpo do homem ( o
caso das funes nutritiva e sensitiva), enquanto outras ( o caso das funes
racionais: intelectiva e volitiva) independem do corpo para atuar.
Segundo Toms de Aquino, ao ser destrudo o corpo, perecem com ele
as funes dele dependentes, subsistindo as relativas alma racional, sendo
esta, portanto, imortal. Isso evidencia-se no trecho, a seguir, em que afirma:
Como j ficou dito, todas as potncias se comparam com a alma, em separado,
como com o princpio. Mas, certas potncias se comparam com a alma, em
separado, como com o sujeito, e so o intelecto e a vontade; e tais potncias
necessrio que permaneam na alma, depois de destrudo o corpo. Oiaras
porm, esto no conjunto, como no sujeito prprio; assim, todas as das partes
sensitiva e nutritiva. Ora, destrudo o sujeito, o acidente no pode permanecer;
por onde, corrupto o conjunto, tais potncias no permanecem na alma, ac-
tualmente, mas s virtualmente, como no princpio ou na raiz. - E, por isso,
falsa a opinio de alguns, que tais potncias permanecem na alma, mesmo
depois de corrupto o corpo. E muito mais falsamente dizem, que tambm os
actos dessas potncias permanecem na alma separada, o que ainda mais
falso, por no haver nenhum acto delas que se no exera por rgo corpreo.
(Suma teolgica, LXXVII, VIII)
A imortalidade da alma caracterstica do ser humano, pois, embora
outros seres possuam alma (plantas e animais), estas perecem juntamente
com o corpo, uma vez que dependem dele para exercer suas funes.
Das funes da alma humana, a mais perfeita a intelectiva; por
meio da atividade intelectiva que se pode chegar ao conhecimento. A con-
155
cepo que Santo Toms de Aquino tem sobre o processo de conhecimento
deve ser relacionada discusso feita anteriormente sobre a relao razo-f.
Como j foi visto, Santo Toms admite que alguns conhecimentos s
podem ser obtidos por meio da revelao divina; ele procura demonstrar a
existncia de verdades que, sendo objetos de f, no tm qualquer interfe-
rncia, seja da razo, seja dos sentidos.
Uma outra conseqncia derivante da revelao sobrenatural consiste na eli-
minao deste vicio que a presuno humana, presuno que constitui a
me de todos os erros. Certos homens, com efeito, confiam a tal ponto em
suas capacidades, que timbram em medir a natureza inteira com o metro de
sua inteligncia, estimando verdadeiro tudo o que enxergam e falso tudo o
que no enxergam. A fim de que o espirito humano, liberto de tal presuno,
pudesse conquistar a verdade com modstia, era necessrio que Deus propu-
sesse sua inteligncia certas verdades totalmente inacessveis sua razo.
{Smula contra os gentios, cap. 5)
Alm das verdades reveladas, Santo Toms admite ser possvel chegar
a verdades por uso da razo e dos dados dos sentidos. O conhecimento nesse
caso emprico e racional; elaborado pelo homem que deve apreender a
substncia do objeto. Na elaborao do conhecimento conceituai - nome que
Santo Toms atribui a esse conhecimento que no fruto da revelao divina
- esto envolvidos dois momentos: o sensvel e o intelectual.
O primeiro momento de elaborao do conhecimento conceituai a
obteno dos dados por meio dos sentidos; como no possui idias inatas, o
homem s pode chegar ao conhecimento se tiver "matria-prima" para sua
atuao, e essa "matria-prima" so os dados fornecidos pelos sentidos. O
segundo momento o intelectual, isto , o momento em que o homem chega
s essncias, abstrai as coisas, entende conceitos, julga e raciocina.
Para Toms de Aquino, diz Giordani (1983), os sentidos percebem o
concreto em sua mutabilidade, o particular, os acidentes externos das coisas;
cabe atividade intelectiva chegar a abstraes e conceitos universais, pres-
cindindo das particularidades e chegando ao conhecimento das essncias. As-
sim, os sentidos, no conhecimento de uma planta, possibilitariam perceber
sua cor, textura, tamanho, etc, mas s a inteligncia possibilitaria retirar
dessa observao o que caracteriza essencialmente a planta e que nos permite
identific-la enquanto tal.
Cumpre ter presente que as formas existentes nas coisas corpreas so par-
ticulares e materiais. No intelecto, entretanto, tais formas so universais e
imateriais, o que comprovado pelo modo de operar da inteligncia. Com
efeito, compreendemos de modo universal e imaterial. Ora, necessrio que
o modo de compreender corresponda s imagens inteligveis (species intelligibilis),
156
atravs das quais opera a inteligncia. E necessrio, por conseguinte, j que
impossvel ir de um extremo ao outro sem passar pelo meio, que as formas
inteligveis provenientes dos seres corpreos cheguem ao intelecto atravs de
alguns meios. Tais so precisamente as potncias sensitivas, as quais recebem
as formas das coisas materiais, porm j isentas de mat-ias: no olho aparece
a imagem da pedra, mas no a sua matria, porm nas potncias sensitivas
as formas das coisas so recebidas de maneira particular (no universal), pois
pelas potncias sensitivas s podemos conhecer coisas particulares. Por isso,
necessrio que o homem, para poder compreender, esteja dotado tambm
de sentidos.
A prova disto est em que aquele a quem falta um dos sentidos, falta-lhe
igualmente a cincia das coisas sensveis abarcadas pelo respectivo sentido,
assim como o cego de nascimento no pode ter conhecimento das cores. [Com-
pndio de teologia, 82, 143)
Da caracterizao do processo de conhecimento como a relao entre
sentidos e inteligncia decorre a noo de verdade postulada por Toms de
Aquino, que consiste na identidade da proposio com o real.
Em conseqncia, a primeira relao do ente com o intelecto consiste no fato
de aquele corresponder a este, correspondncia que se denomina assemelhao
ou concordncia entre o objeto e a inteligncia, sendo nisto que se concretiza
formalmente o conceito de verdade. {Questes discutidas sobre a verdade,
art. I, III)
A "construo" dessa verdade cabe, primordialmente, ao intelecto que, ope-
rando segundo regras lgicas, dever chegar ao conhecimento que tem como
fonte os sentidos. Assim atuando, a inteligncia estar mantendo correspon-
dncia com as coisas do mundo sensvel.
Para Santo Toms, a razo distingue os homens dos outros seres e
permite chegar substncia das coisas; o elemento de mais alto nvel da
alma humana, constituindo-se na diretriz que dever orientar, quer a produo
de conhecimento, quer as aes humanas do ponto de vista moral e poltico.
O conceito de vontade deixa claro como, para Toms de Aquino, a
razo fundamental; a vontade, para ele, uma potncia intelectiva (portanto
racional) que no se confunde com os apetites (concupiscncia, ira...).
Alm disso, na noo de livre-arbtrio, est subjacente o papel da razo:
o homem livre porque racional; o livre-arbtrio a possibilidade de optar
por uma ao por meio dos elementos que o prprio intelecto fornece. Nesse
caso, no existe predestinao, o que o diferencia de Santo Agostinho; para
Santo Toms de Aquino, as aes humanas devem buscar o bem, finalidade
determinada por Deus, e nesse caminho a razo tem papel fundamental.
As noes de finalismo e busca do bem podem ser identificadas na
concepo poltica de Santo Toms; para ele, a sociedade deve ter como fim
157
chegar ao bem comum. De acordo com Frost Jr. (s/d), Santo Toms defende
que, para que isto ocorra, a sociedade deve estar unida, sendo essa a forma
de se opor aos inimigos. "Por conseguinte, a monarquia, na qual o poder se
acha fortemente centralizado, , segundo ele (Santo Toms), a melhor forma
de governo, o qual, porm, no deve oprimir seus membros. No deve haver
tirania" (Frost Jr., p. 194).
Ao admitir que o governo de origem divina, que a legislao do
Estado para o bem do povo e que o governo deve submeter-se Igreja,
Santo Toms defende uma postura de passividade e obedincia da sociedade
frente situao vigente. De acordo com Frost Jr. (s/d.),
injustificvel a rebelio contra o governo. Santo Toms de Aquino doutrinava
que qualquer mudana de governo deve ser procurada pelos meios legais, pois
o governo tem origem divina. Se no for possvel ao membro obter, por meios
legais, reparao por danos e males sofridos, deve deixar a questo a Deus
que, no fim, resolver tudo bem. (pp. 194-195)
Como se observa nos itens at agora desenvolvidos - a noo de uni-
verso, de homem, de conhecimento e de aspectos morais e polticos -, a
presena de Deus fundamental para o pensamento tomista, o que no de
se estranhar se atentarmos para o fato de que, para Toms de Aquino, Deus
ato puro (opondo-se s outras criaturas que so potncia e ato), o criador
do Universo (portanto o nico ser por essncia, ao contrrio das outras
criaturas que tm o ser por criao divina), imvel (colocando em movi-
mento todas as outras coisas), eterno (pois no pode comear a ser e deixar
de ser, uma vez que imvel), uno e bom.
158
REFERENCIAS
Aquino, R. S. L. e outros. Histria das sociedades: das comunidades primi-
tivas s sociedades medievais. Rio de janeiro, Ao Livro Tcnico, 1980.
Bernal, I. D. Cincia na histria. Lisboa, Livros Horizonte, 1976, vol. II.
Brhier, E. Histria da filosofia. So Paulo, Mestre Jou, 1977-78, tomo I,
livro III.
Franco Jr., H. A Idade Mdia: o nascimento do Ocidente. So Paulo, Brasi-
liense, 1986.
Frost Jr., S. E. Ensinamentos bsicos dos grandes fsofos. So Paulo, Cul-
trix, s/d.
Giordani, M. C. Histria do mundo feudal. Rio de Janeiro, Vozes, 1983, vol.
II/2.
Mason, S. F. Histria da cincia: as principais correntes do pensamento
cientfico. Porto Alegre, Globo, 1964.
Monteiro, H. M. O feudalismo: economia e sociedade. So Paulo, Atica,
1986.
Ppin, J. "Santo Agostinho e a patrstica ocidental". In: Chtelet, F. (org.).
Histria da filosofia - idias, doutrinas. Rio de Janeiro, Zahar, 1974,
vol. II.
Peterson, M. A. Introduo filosofia medieval. Fortaleza, Edies UFC,
1981.
Santo Agostinho. "Confisses". In: Santo Agostinho. So Paulo, Abril Cul-
tural, 1973, col. O s Pensadores.
. "De Magistro". In: Santo Agostinho. So Paulo, Abril Cultural, 1973,
col. O s Pensadores.
Santo Toms de Aquino, "Compndios de teologia". In: Santo Toms, Dante,
Scot, Ockhan. So Paulo, Abril Cultural, 1973, col. O s Pensadores.
. "Questes discutidas sobre a verdade". In: Santo Toms, Dante, Scot,
Ockhan. So Paulo, Abril Cultural, 1973, col. O s Pensadores.
. "Smula contra os gentios". In: Santo Toms, Dante, Scot, Ockhan.
So Paulo, Abril Cultural, 1973, col. O s Pensadores.
. Suma teolgica. So Paulo, Faculdade de Filosofia Sedes Sapientiae,
1947, vol. VII.
Silva, F. C. T. Sociedade feudal: guerreiros, sacerdotes e trabalhadores. So
Paulo, Brasiliense, 1984.
159
BIBLIOGRAFIA
Abbagnano, N. Dicionrio de filosofia. So Paulo, Mestre Jou, 1982.
Chau, M. e outros. Primeira filosofia: lies introdutrias. So Paulo, Bra-
siliense, 1984.
Franco Jr., H. O feudalismo. So Paulo, Brasiliense, 1984.
Huberman, L. Histria da riqueza do homem. Rio de Janeiro, Zahar, 1981.
Jeauneu, E. A filosofia medieval. Lisboa, Edies 70, 1980.
Ppin, J. "Santo Toms e a filosofia do sculo XIII". In: Chtelet, F. (org.).
Histria da filosofia - idias e doutrinas. Rio de Janeiro, Zahar, 1974,
vol. II, pp. 152-164.
Rassam, J. Toms de Aquino. Lisboa, Edies 70, 1980.
Santos, M. F. Dicionrio de filosofia e cincias culturais. So Paulo, Matese,
1963.
J60
PARTE III
A CINCIA MODERNA INSTITUI-SE:
A TRANSIO PARA O CAPITALISMO
CAPITULO 8
DO FEUDALISMO AO CAPITALISMO :
UMA LO NGA TRANSI O
Numa era de transio, o velho e o novo freqentemente se misturam.
No perodo de transio de um regime social para outro, encontram-se ca-
ractersticas do velho regime, ao mesmo tempo em que traos do regime
novo aparecem em determinados nveis da realidade social.
A transio do feudalismo ao capitalismo significou a substituio da
terra pelo dinheiro, como smbolo de riqueza: foi o perodo em que um con-
junto de fatores preparou a desagregao do sistema feudal e forneceu as
condies para o surgimento do sistema capitalista.
importante salientar, entretanto, que a passagem do regime feudal ao
capitalista se deu com variaes nos diversos pases; alm disso, num mes-
mo pas a passagem se deu de forma lenta e gradual, de modo que, ao mesmo
tempo em que surgem caractersticas do novo regime, persistem caracters-
ticas do regime anterior.
Assim,
no podemos falar de verdadeira passagem ao capitalismo seno quando regies
suficientemente extensas vivem sob um regime social completamente novo. A
passagem somente decisiva quando as revolues polticas sancionam juri-
dicamente as mudanas de estrutura, e quando novas classes dominam o Estado.
Por isso a evoluo dura vrios sculos. (Vilar, 1975, pp. 35-36)
Essa evoluo no foi "natural", inexorvel, e no se deu sem graves
conflitos, muita violncia no campo e nas cidades, luta pela tomada de poder.
O s sculos XV, XVI e XVII (particularmente os dois ltimos) so aqueles
em que mais acentuadamente ocorrem mudanas que marcam a passagem do
sistema feudal ao sistema capitalista. Nos sculos XV e XVI, na Europa, a
descentralizao feudal gradualmente substituda pela formao de Estados
nacionais unificados e pela centralizao de poder, com a formao das mo-
narquias absolutas. Na Inglaterra, o processo de unificao foi favorecido
pelo enfraquecimento da nobreza e, conseqentemente, do parlamento - que
tinha nela sua principal sustentao - em funo da Guerra das Duas Rosas,
iniciada em 1455, entre duas faces de nobres rivais. Esse enfraquecimento
da nobreza e do parlamento propiciou o estabelecimento de uma monarquia
absoluta, que teve como seus principais representantes Henrique VIII (1509-
1547) e Elisabete (1558-1603). Na Frana, em que desde o incio do sculo
XIV j praticamente havia sido concluda a formao territorial e em que os
reis tinham j muita fora, a ocorrncia de uma guerra contra a Inglaterra -
a Guerra dos Cem Anos (1337-1453) - favoreceu o aparecimento de uma
conscincia nacional, a derrocada do poder feudal e o surgimento de monarcas
absolutos extremamente poderosos, a ponto de esse pas tornar-se o grande
modelo dos regimes absolutos. A Espanha tornou-se um pas unificado do
ponto de vista poltico e territorial em 1515, com a incorporao do reino
de Navarra. Antes disso, tinha havido j a incorporao do reino de Granada
(1492) e a unio das monarquias de Castela e Arago (1469). Alemanha e
Itlia foram excees no processo de unificao desenvolvido na Europa nes-
se perodo. Por essa poca, a Alemanha era composta de inmeros reinos
independentes e no constitua um estado consolidado.
A Itlia, no sculo XIV, estava dividida em uma infinidade de pequenos
estados, alguns deles com formas de governo bastante democrticas. Entre-
tanto, no curso desse sculo e do seguinte, todos eles caram sob o domnio
de governantes despticos. Ao longo dos sculos XIV e XV, os estados maio-
res e mais poderosos foram incorporando os menores, de forma que, no incio
do sculo XVI, cinco estados dominavam a pennsula italiana: as repblicas
de Veneza e Florena, o ducado de Milo, o reino de Npoles e os Estados
da Igreja.
No sculo XV, a Itlia detinha o monoplio das principais rotas co-
merciais do Mediterrneo; a partir do descobrimento da Amrica, os centros
do comrcio transferiram-se para a Costa Atlntica. Essa alterao ocorreu
em funo de empreendimentos martimos levados a efeito por pases da
Europa ocidental, visando descoberta de uma rota martima comercial para
o O riente, uma vez que as cidades italianas detinham o controle do Medi-
terrneo. O primeiro pas que se lanou nesses empreendimentos foi Portugal,
que no apenas descobriu um caminho pelo Atlntico para chegar ao O riente,
como tambm descobriu novas terras, que se transformaram em colnias por-
tuguesas. Portugal construiu, nesse processo, durante os sculos XV e XVI,
um imprio tricontinental, com colnias na frica, sia e Amrica.
A Espanha, que logo em seguida a Portugal lanou-se em expedies
martimas, empreendidas com o apoio da coroa espanhola, tambm formou
um vasto imprio colonial, incluindo parte dos Estados Unidos, o Mxico,
as Antilhas, a Amrica Central e quase toda a Amrica do Sul. A Frana e
a Inglaterra tambm chegaram a diversos pontos da Amrica, durante os
sculos XV e XVI, mas por diversas razes a no fixaram colnias imedia-
164
tamente. Foi apenas no sculo XVII, tendo consolidado seus Estados nacio-
nais, que efetuaram essa tarefa. A Inglaterra - que j possua colnias na
frica e na sia - iniciou a povoao do litoral atlntico, implantando co-
lnias, como as treze colnias da Amrica do Norte. A Frana, que tambm
j possua colnias na frica, implantou suas colnias na Amrica, como o
Canad, a Guiana Francesa e as Antilhas.
O utro pas que devido a atividades mercantis conquistou colnias foi
a Holanda, que, em fins do sculo XVI e incio do XVII, apoderou-se, pela
fora, de pontos na Amrica (como a Ilha de Curaao e Litoral e Nordeste
do Brasil), na frica e no O riente.
A colonizao reintroduziu uma prtica extinta h cinco sculos: a es-
cravido. Negros africanos eram trazidos para trabalhar como escravos nas
plantaes e nas minas das colnias, suprindo a necessidade de mo-de-obra
no qualificada.
O CAPITALISMO
Somente se emprega o termo "capitalismo" quando se trata de uma
sociedade moderna, "(...) onde a produo macia de mercadorias repousa
sobre a explorao do trabalho assalariado, daquele que nada possui, realizada
pelos possuidores dos meios de produo" (Vilar, 1975, p. 36).
Na sociedade capitalista, as pessoas somente conseguem sobreviver se
comprarem os produtos do trabalho uns dos outros, j que possuem atividades
especializadas, no produzindo todos os bens de que necessitam. Assim sen-
do, deve haver troca entre os diversos produtos dos trabalhos privados.
A transformao da matria-prima em produtos feita pelo trabalhador,
que vende sua fora de trabalho ao capitalista em troca de um salrio. O
capitalista dono dos meios de produo (matrias-primas, ferramentas, etc.)
e se apropria dos produtos acabados. A sociedade capitalista tem como elementos
fundamentais a propriedade privada, a diviso social do trabalho e a troca.
A seguir abordar-se-o os acontecimentos que levaram ao desenvolvi-
mento de uma sociedade com essas caractersticas a partir da sociedade feudal.
A FRAGMENTAO DA SOCIEDADE FEUDAL
O renascimento do comrcio e o crescimento das cidades
A sociedade feudal era constituda de unidades estanques: os feudos.
Estes eram auto-suficientes, com economia voltada para a subsistncia. O s
165
reinos ento existentes eram, dessa forma, fragmentados, e os reis - apenas
nominalmente donos das terras - tinham poderes limitados, dadas as carac-
tersticas do sistema feudal. As relaes sociais fundamentais eram de dois
tipos: a relao de vassalagem, por meio da qual se processava o modo de
apropriao da terra; e as relaes servis, em que o trabalhador possua ins-
trumentos prprios de produo e dele o senhor extraa um excedente de
trabalho.
Na sociedade feudal, basicamente agrria, particularmente na primeira
metade da Idade Mdia, em que se media a riqueza de uma pessoa pela
quantidade de terras que possusse, a importncia das cidades era muito pe-
quena. As trocas praticamente inexistiam e, quando ocorriam, eram princi-
palmente efetuadas dentro dos feudos, entre produtos e sem envolver dinheiro.
A partir da segunda metade da Idade Mdia, alguns fatores contriburam
para a ativao do comrcio, dentre eles: a produo de excedentes agrcolas
e artesanais, que podiam, ento, ser trocados; e as Cruzadas, que deslocaram
milhares de europeus por meio do continente. Esses indivduos necessitavam
de provises, que lhes eram fornecidas por mercadores que os acompanhavam.
Como conseqncia do crescimento do comrcio, cresceram tambm
as cidades. Estas surgiram em locais estratgicos para a atividade comercial,
como, por exemplo, o cruzamento de duas estradas. Essas cidades, entretanto,
encontravam-se em terras pertencentes aos senhores feudais, que cobravam
impostos e taxas de seus habitantes. Alm disso, os senhores eram os diri-
gentes dos tribunais de justia em suas terras, sendo, portanto, responsveis
pela resoluo de uma srie de problemas surgidos nas cidades, advindos das
atividades comerciais, que no tinham capacidade para resolver. Por essas
razes, as cidades rebelaram-se e muitas delas obtiveram a liberdade por
meio de luta, compra ou doao.
Com a expanso do comrcio, as cidades passaram a oferecer trabalho
a um maior nmero de pessoas, que para l se dirigiam; as cidades livres
ofereciam asilo aos servos fugitivos dos domnios senhoriais.
As oficinas confiadas aos servos, nos feudos, para a fabricao de ob-
jetos de uso do prprio feudo, foram substitudas por oficinas urbanas. Nesse
perodo, os mercados eram locais e os produtores independentes organiza-
vam-se em corporaes de ofcio.
O s habitantes das cidades dedicavam-se, fundamentalmente, ao artesa-
nato e ao comrcio, e no produziam o alimento de que necessitavam para
subsistir, o que gerou a diviso do trabalho entre cidade e campo, de onde
provinha o alimento para os habitantes da cidade. Essa situao, aliada ao
crescimento populacional - favorecido pela diminuio da incidncia de epi-
demias, produto, por sua vez, entre outros fatores, da maior disponibilidade
166
e melhor qualidade de alimentos que os aperfeioamentos tcnicos possibi-
litaram -, tornou necessrio o crescimento da produo agrcola, o que levou
abertura de novas terras ao cultivo. Essas terras atraram muitos campone-
ses, que se libertaram dos feudos e passaram a cultiv-las, em troca de pa-
gamento aos senhores feudais pelo seu arrendamento. Muitas terras incultas
foram, assim, transformadas em terras produtivas.
Inmeros servos foram libertados dos feudos, porque o trabalho livre
era mais produtivo para os senhores do que o trabalho servil. Alguns senho-
res, entretanto, e principalmente a Igreja no libertaram seus servos. Por essa
razo, esse foi um perodo de grandes conflitos. Camponeses por vezes in-
vadiam e depredavam propriedades da Igreja e agrediam padres, muitas vezes
ajudados pelos habitantes das cidades, que tinham, em geral, muitas razes
para entrar em conflito com os senhores feudais.
Um fator que contribuiu para a liberdade dos camponeses foi a peste
negra, no sculo XIV, que, provocando enorme quantidade de mortes, valo-
rizou o trabalho da mo-de-obra disponvel. Isso gerou conflitos ainda mais
violentos entre servos e senhores. Se anteriormente as revoltas dos campo-
neses eram apenas locais, agora a escassez de mo-de-obra
dera aos trabalhadores agrcolas uma posio forte, despertando neles um senti-
mento de poder. Numa srie de levantes em toda a Europa ocidental, os camponeses
utilizaram esse poder muna tentativa de conquistar pela fora as concesses que
no podiam obter - ou conservar - de outro modo. (Huberman, 1979, p. 59)
Em meados do sculo XV, na maior parte da Europa ocidental, os arrenda-
mentos pagos em dinheiro haviam substitudo o trabalho servil e, alm disso,
muitos camponeses haviam conquistado a emancipao completa. (Nas reas
mais afastadas, longe das vias de comrcio e da influncia libertadora das
cidades, a servido perdurava.) (Idem, 1979, p. 61)
A abertura do comrcio para o mundo
A expanso martima e do sistema colonial, no final do sculo XV,
produziu muitas riquezas, que levaram a um maior desenvolvimento do co-
mrcio. As Cruzadas haviam contribudo para o incremento do comrcio,
tanto no que se refere reabertura do Mediterrneo oriental ao O cidente (em
especial Gnova e Veneza) quanto difuso do consumo de produtos orien-
tais. Por outro lado, as cidades italianas, aliadas aos muulmanos do O riente,
passaram a ter o monoplio das principais rotas comerciais do Mediterrneo,
dificultando o comrcio europeu. A superao dessa dificuldade poderia ser
conseguida uma vez que se chegasse ao Extremo O riente por outra rota ma-
rtima, que no utilizasse o Mediterrneo. Esse vultoso e caro empreendi-
167
mento foi financiado pela burguesia, enriquecida pelo desenvolvimento co-
mercial, gerando a expanso atlntica dos sculos XV e XVI. Nessa empresa
descobriram-se novas terras, que se transformaram em colnias de diversos
pases da Europa ocidental. A utilizao do O ceano Atlntico ocasionou uma
grande transformao no comrcio, j que este, agora, passou a envolver no
s a Europa e a sia, como tambm essas novas terras - as colnias.
Essas colnias foram, tambm, importantes no fornecimento de metais
preciosos para as metrpoles, nessa poca em que o ouro e a prata eram
muito necessrios ao desenvolvimento do comrcio.
A expanso atlntica trouxe outros efeitos. Um deles foi o desenvol-
vimento do mercantilismo, um conjunto de princpios e medidas prticas ado-
tadas por chefes de estado europeus - bastante variveis ao longo do tempo
e nos diferentes pases - com o objetivo de gerar riqueza para o pas e
fortalecer o estado. Embora heterogneas, as polticas adotadas tinham como
um princpio fundamental o de que a riqueza de um pas se traduz na quan-
tidade de ouro e prata acumulada e o principal meio de obt-los por meio
do comrcio com outros pases, em que se garanta um saldo positivo da
balana comercial (o valor das exportaes supera o das importaes). Para
tanto, o estado intervinha nas atividades econmicas por meio de medidas
que incluam incentivo ao desenvolvimento da indstria no pas, aquisio
de colnias, s exportaes e tarifas elevadas para a importao.
Nesse processo de extraordinria expanso comercial, desenvolveram-
se instituies financeiras, bancos, bolsas, etc, tendo em vista subsidiar as
atividades mercantis. Alm disso, desenvolveu-se o emprstimo usurio que
passaria a ser, juntamente com outras formas j citadas, uma das maneiras
de se acumular capital nesse perodo. Para tanto, indivduos que possussem
dinheiro disponvel emprestavam-no cobrando altas taxas de juros.
Segundo Huberman (1979), nas grandes feiras existentes na fase final
da Idade Mdia, os ltimos dias eram dedicados a negcios em dinheiro. A
se trocavam os vrios tipos de moedas, negociavam-se emprstimos, paga-
vam-se dvidas e faziam-se circular letras de cmbio e de crdito. Nessas
feiras, os banqueiros da poca realizavam grandes negcios financeiros. "Ne-
gociar em dinheiro levou a conseqncias to grandes que passou a constituir
uma profisso separada" (p. 34). Ainda, segundo esse autor, os banqueiros
passaram a ser o poder atrs dos reis, porque estes necessitavam constante-
mente de sua ajuda financeira.
O sistema colonial tambm desempenhou importante papel no desen-
volvimento do mercantilismo, tanto porque as colnias passaram a constituir
168
mercados consumidores das manufaturas metropolitanas, como porque pas-
saram a ser fontes de matrias-primas e metais preciosos.
O grande aumento no fornecimento desses metais, provindos das minas
das colnias, duramente exploradas, permitiu uma rpida cunhagem de moe-
das, que entrou em desequilbrio com o lento aumento da produo. Esse
fato levou a uma alta geral de preos na Europa, prejudicando os trabalha-
dores e a nobreza feudal, fortalecendo a burguesia.
Os camponeses so expulsos da terra
Uma das formas de os donos de terra aumentarem seus rendimentos e
fazerem frente ao aumento de preos foi o fechamento das terras, ocorrido
no sculo XVI em algumas partes da Europa, basicamente na Inglaterra. Hou-
ve pelo menos dois tipos de cercamento: o que envolvia mudanas na forma
de utilizao da terra e o que envolvia as terras comuns do feudo.
Com o aumento do preo da l, decorrente do crescimento da indus-
trializao desta, surgiu a oportunidade de os senhores das terras ganharem
dinheiro por meio da transformao da atividade de agricultura em criao
de ovelhas e da utilizao da terra para pasto. Essas terras foram cercadas
para tal fim, e muitos lavradores perderam o meio de sobrevivncia, pois
somente alguns foram empregados para cuidar das ovelhas.
Alm disso, muitas vezes o senhor simplesmente expulsava o arrenda-
trio das terras ou cercava terras comuns do feudo, que serviam de pastagem
e eram de uso de todos os seus habitantes, deixando sem pasto o gado do
arrendatrio.
Alm do cercamento, outro recurso utilizado pelos senhores para au-
mentar seus rendimentos foi a elevao das taxas a serem pagas pelos arren-
damentos de terra. Estas tornaram-se muito altas e os camponeses que no
podiam pag-las eram forados a abandon-la.
O fechamento das terras e a elevao dos arrendamentos fizeram com
que milhares de pessoas ficassem sem condies de sobrevivncia, e, no
futuro, quando a indstria capitalista teve necessidade de trabalhadores, essas
pessoas formaram parte da mo-de-obra por ela utilizada.
O absolutismo e o fortalecimento da burguesia
O fechamento das terras e o aumento da taxa de arrendamento foram
os efeitos mais distantes da alta geral de preos na Europa, que, por sua vez,
foi conseqncia do mercantilismo. Este, por outro lado, estava relacionado
ao surgimento do absolutismo, ao fortalecimento do poder real.
169
Esse processo histrico veio se desenvolvendo a partir da Baixa Idade
Mdia, quando a burguesia, recm-formada pelo incremento do comrcio,
necessitava do estabelecimento de um mercado nacional regulamentado e
unificado, por exemplo, em termos de pesos e medidas. Alm disso, neces-
sitava de apoio contra os nobres feudais e a Igreja, que retinham as riquezas
da poca, e de segurana contra bandos armados que a assaltavam, bem como
de segurana contra os senhores feudais, que a exploravam por meio de taxas.
A soluo para esse problema constituiu-se no apoio dado pela bur-
guesia s tentativas de centralizao de poder nas mos dos monarcas feudais.
Assim se constituram as monarquias absolutas - fundamentadas ou no na
religio -, sistema em que o rei possui, em tese, poderes ilimitados. Na pr-
tica, entretanto, para manter sua posio, o monarca precisava fazer conces-
ses. Em tese, o rei estava acima das classes; na prtica, era condicionado
por sua situao de classe e pelas presses que recebia das classes influentes.
Burguesia e realeza uniram-se, portanto, tendo em vista interesses co-
muns. Em troca de benefcios, como uma regulamentao que unificasse o
mercado e ampliasse seu campo de atividades econmicas, a burguesia ofe-
recia influncia poltica e social, bem como recursos financeiros.
Esse processo foi modificando o panorama territorial, poltico e social
da Europa.
Surgiram naes, as divises nacionais se tornaram acentuadas, as literaturas
nacionais fizeram seu aparecimento, e regulamentaes nacionais para a inds-
tria substituram as regulamentaes locais. Passaram a existir leis nacionais,
lnguas nacionais e at mesmo Igrejas nacionais. O s homens comearam a
considerar-se no como cidados de Madri, de Kent ou de Paris, mas como
da Espanha, Inglaterra ou Frana. Passaram a dever fidelidade no sua cidade
ou ao senhor feudal, mas ao rei, que o monarca de toda uma nao. (Hu-
berman, 1979, p. 79)
O DESENVOLVIMENTO DA INDSTRIA MODERNA
O incio da indstria moderna foi possvel graas presena de duas
condies: a existncia de capital acumulado e a existncia de uma classe
trabalhadora livre e sem propriedades.
Como j vimos, antes da introduo do capitalismo acumulava-se ca-
pital principalmente por meio da troca de mercadorias. Entretanto, esta no
foi a nica forma: pirataria, saque, conquistas e explorao em diferentes
nveis tiveram importante papel na acumulao primitiva de capital, que ser-
viu de base para a grande expanso industrial dos sculos XVII e XVIII.
170
Entretanto, alm do capital acumulado, era necessria a existncia de
mo-de-obra disponvel. O fechamento de terras e a elevao dos arrenda-
mentos, no sculo XVI, forneceram a mo-de-obra necessria para a indstria,
na medida em que expulsaram muitos camponeses de suas terras, criando
uma classe trabalhadora livre e sem propriedades.
O capital e a produo
O sistema domstico
Enquanto o mercado era apenas local, o artesanato, com a estrutura de
corporao que lhe servia de apoio, era suficiente para suprir as necessidades
do comrcio. Quando, entretanto, o mercado se expandiu, tornando-se nacio-
nal e mesmo internacional, o sistema de corporaes de artesos inde-
pendentes no mais respondia s crescentes exigncias do comrcio, tornan-
do-se um entrave ao seu desenvolvimento. Sua superao exigia a subordi-
nao da esfera produtiva ao capital mercantil. Nesse momento, surgiu o
intermedirio, "o capitalista".
Segundo Huberman (1979), o mestre arteso era cinco pessoas numa
s: medida que comprava matria-prima, era um negociante ou mercador;
quando trabalhava essa matria-prima, era um fabricante; se tinha aprendizes,
era empregador; enquanto supervisionava o trabalho desses aprendizes, era
capataz; e, medida que vendia ao consumidor o produto acabado, era um
comerciante lojista.
Quando surgiu o intermedirio, as funes de negociante e comerciante
lojista foram subtradas ao arteso. O intermedirio, que podia ser um ex-ar*
teso, um ex-campons rico, por exemplo, entregava ao arteso a matria-
prima que este trabalhava em sua casa, com seus ajudantes. O produto aca-
bado era entregue ao intermedirio, que o negociava. A esse sistema de pro-
duo d-se o nome de sistema domstico (ou putting-out).
Com a expanso da economia em mbito nacional, o "capitalista", que
no sistema de corporaes no tinha funo de destaque, passou a ter im-
portante papel, uma vez que as transaes comerciais passaram a ocorrer
numa escala muito mais ampla, envolvendo grandes quantidades de dinheiro.
Ao intermedirio "capitalista" pertencia o produto, que era vendido no
mercado com lucro. O mestre arteso e seus aprendizes eram trabalhadores
tarefeiros. "Trabalhavam em suas casas; dispunham de seu tempo. Eram ge-
ralmente os donos das ferramentas (embora isso nem sempre ocorresse). Mas
j no eram independentes (...)" (Huberman, 1979, p. 124).
171
No sistema domstico, no h uma revoluo nas condies de produ-
o: o que h uma reorganizao da produo, uma modificao na forma
de negociao das mercadorias.
A manufatura
A expanso sempre crescente do comrcio e o afluxo de trabalhadores
sem propriedades levaram as cidades a uma nova reorganizao no sistema
produtivo, dando surgimento ao sistema de manufatura. A manufatura, en-
tretanto, nunca foi um sistema de produo dominante: ao seu lado persisti-
ram sempre restos dos regimes industriais precedentes.
O sistema de manufatura implica a reunio de um nmero relativamente
grande de trabalhadores sob um mesmo teto, empregados pelo proprietrio
dos meios de produo, executando um trabalho coordenado, num mesmo
processo produtivo ou em processos de produo que, embora diferentes, so
encadeados, com auxlio de um plano. Nesse sistema, portanto, os trabalha-
dores perdem os meios de produo, que passam a ser de propriedade do
capitalista, e passam a trabalhar em troca de um salrio, vendendo sua fora
de trabalho. O proprietrio dos meios de produo no realiza o trabalho
manual; exerce apenas a funo de orientar e vigiar a atividade de outros
indivduos, de cujo trabalho vive.
No sistema de manufatura, cada trabalhador realiza apenas parte do
trabalho necessrio elaborao de um determinado produto. Este, para estar
completo, depende do trabalho do conjunto de indivduos no processo pro-
dutivo.
O parcelamento das tarefas leva diminuio do tempo de trabalho
necessrio para se elaborar um determinado produto, levando, conseqente-
mente, a um aumento da produo e, portanto, a uma maior valorizao do
capital.
O parcelamento das tarefas leva ainda: desqualificao do trabalho
(o trabalho da manufatura, por ser parcelar, exige menor qualificao do tra-
balhador e, conseqentemente, menor aprendizado do que no artesanato), com
a conseqente reduo do valor da fora de trabalho; e especializao das
ferramentas, que se vo adaptando s funes parcelares.
Na manufatura, o trabalhador transformado em trabalhador parcial,
mas ainda ele, com sua habilidade e rapidez, quem comanda o processo
de trabalho, quem determina o ritmo e o tempo de trabalho socialmente ne-
cessrios para a produo de uma mercadoria.
E nisso esto os limites da manufatura, que vo constituir srios en-
traves ao desenvolvimento do capital: em primeiro lugar, embora o trabalho
seja desqualificado, ainda o trabalhador com a ferramenta quem elabora o
172
produto e esse trabalhador especializado ainda necessita de um longo perodo
de aprendizagem, o que lhe d fora ante o capital; em segundo lugar, como
a manufatura tem sua base no elemento subjetivo, no trabalhador, ela est
restrita pelo limite fsico, orgnico, desse, que impede que a produtividade
do trabalho aumente incessantemente.
Como conseqncia dessas limitaes, a manufatura no conseguiu eli-
minar o artesanato e o sistema domstico, e teve de coexistir com eles em
determinados setores da produo, contribuindo inclusive para fortalec-los,
na medida em que os instrumentos de produo empregados pela manufatura
eram produzidos de forma artesanal.
Por todas essas razes, "o processo de acumulao de capital manufa-
tureiro no tem meios de regular o prprio mercado de trabalho e este vai
ser controlado atravs de legislao" (O liveira, 1977, p. 23), tanto no que
diz respeito disciplina, como tambm no que diz respeito regulao de
salrios e jornada de trabalho (os prolongamentos da jornada de trabalho
marcam o perodo manufatureiro).
O sistema fabril
Diante de circunstncias favorveis, como o interesse cada vez maior
no aumento da produo e as limitaes impostas pela manufatura a essa
expanso, a especializao das ferramentas (decorrente do parcelamento das
tarefas executadas pelo trabalhador) criou condies para o surgimento da
mquina, uma combinao de ferramentas simples, que, por sua vez, favo-
receu a ocorrncia do que veio a ser denominado revoluo industrial, no
sculo XVIII, na Inglaterra.
A ferramenta foi retirada das mos do trabalhador e passou a fazer
parte da mquina, rompendo-se a unidade entre o trabalhador parcelar e sua
ferramenta, existente na manufatura.
A mquina, na medida em que permite a substituio da fora motriz
humana por novas fontes de energia no processo de produo (inicialmente
o vapor, posteriormente o gs e a eletricidade), libera o processo produtivo
dos limites do organismo humano, o que possibilita um grande aumento da
produo.
Com a introduo da mquina, elimina-se a necessidade, seja de tra-
balhadores adultos e resistentes, seja de operrios especializados e hbeis,
uma vez que o operrio nada mais tem a fazer seno vigiar e corrigir o
trabalho da mquina. H, assim, uma maior desqualificao do trabalho do
operrio, que no mais precisa passar por uma longa aprendizagem para exer-
cer sua funo: como conseqncia, torna-se possvel a utilizao de mo-
de-obra no qualificada (principalmente mulheres e crianas).
173
Na produo mecanizada (sistema fabril), o trabalhador perde o controle
do processo de trabalho. ele quem se adapta ao processo de produo (e
no mais o contrrio, como acontecia na manufatura). A mquina determina
o ritmo do trabalho e responsvel pela qualidade do produto. Tambm a
quantidade de produtos e o tempo de trabalho necessrio elaborao de um
produto deixam de ser determinados pelo trabalhador.
A produo mecanizada elimina o artesanato, o sistema domstico e a
manufatura, onde quer que aparea.
O sistema fabril, com siias mquinas movidas a vapor e a diviso do trabalho,
podia fabricar os produtos com muito mais rapidez e mais barato do que os
trabalhadores manuais. Na competio entre trabalho mecanizado e trabalho
manual, a mquina tinha de vencer. E venceu - milhares "de pequenos mestres
manufatores e independentes" (independentes porque eram donos dos instru-
mentos do meio de produo) decaram situao de jornaleiros, trabalhando
por salrio. (Huberman, 1979, pp. 177-178)
O PENSAMENTO NO PERODO DE TRANSIO
As consideraes anteriores reportam-se aos fundamentos econmicos
do perodo que estamos denominando transio para o capitalismo. Um re-
gime social, porm, no se compe apenas desses fundamentos.
A cada modo de produo corresponde no somente um sistema de relaes
de produo, como tambm um sistema de direito, de instituies e de formas
de pensamento. Um regime social em decadncia serve-se precisamente deste
direito, dessas instiUiies e desses pensamentos j adquiridos, para opor-se
com todas as suas foras s inovaes que ameaam sua existncia. Isto pro-
voca a luta das novas classes, das classes ascendentes, contra as classes diri-
gentes que ainda acham-se no poder e determina o carter revolucionrio da
ao e do pensamento que animam estas lutas. (Vilar, 1975, p. 47)
A colocao de Vilar aponta para o fato de que, na luta entre camadas
sociais pelo poder poltico, as idias, os pensamentos e o conhecimento j
produzidos tambm sero utilizados pelas camadas dirigentes como instru-
mentos para manter o estado de coisas que lhes traz vantagens, ou deter
eventuais avanos da camada ascendente. Na medida em que o regime social
entra em processo de decadncia, h a tendncia de substituio das idias
a ele relacionadas por outras mais condizentes com o momento ento vivido.
Numa fase inicial do perodo de transio, a rejeio das idias, da
imagem do universo e das maneiras de pensar feudais gerou um certo vazio
intelectual, uma vez que no foi imediatamente seguida pelo surgimento de
uma nova imagem do universo, deixando sem respostas muitos dos problemas
174
levantados. Bernal (1976a) considera essa fase inicial fundamentalmente des-
trutiva, na medida em que a preocupao central foi a destruio da sntese
aristotlica; mas afirma que, embora no se tenha, nessa fase, encontrado
soluo para a maioria dos problemas levantados, abriu-se caminho para
sua soluo durante a grande luta de idias do momento posterior.
Essa espcie de vazio intelectual, que se sucedeu demolio da viso
de mundo medieval, levou a um perodo impregnado de misticismo, de su-
persties grosseiras, de credulidade meio cega, de crena irracional na magia.
Mas,
se essa credulidade do "tudo possvel" o reverso da medalha, tambm
existe um anverso. Esse anverso a curiosidade sem fronteiras, a acuidade de
viso e o esprito de aventura que conduzem s grandes viagens de descobri-
mentos (...) que enriquecem prodigiosamente o conhecimento dos fatos e ali-
mentam a curiosidade pelos fatos, pela riqueza do mundo, pela variedade e
multiplicidade das coisas. (Koyr, 1982, p. 48)
Na nova viso de mundo, que veio a substituir a viso medieval, o
homem, no seu sentido mais genrico, era a preocupao central. As relaes
Deus-homem, que eram enfatizadas pelo teocentrismo medieval, foram subs-
titudas pelas relaes entre o homem e a natureza. Isso significava, com
relao ao conhecimento, a valorizao da capacidade do homem de conhecer
e transformar a realidade. Foi proposta uma cincia mais prtica, que pudesse
servir ao homem, e que teve em Francis Bacon (1561-1626) seu maior de-
fensor, em contraposio ao saber contemplativo da Idade Mdia, poca de
predomnio da Igreja e da nobreza feudal.
As crescentes necessidades prticas, geradas pela ascenso da burgue-
sia, aliadas ao desenvolvimento da crena na capacidade do conhecimento
para transformar a realidade, foram responsveis pelo interesse no desenvol-
vimento tcnico.
importante notar que - diferentemente do que ocorre em nossos dias,
em que a cincia e tcnica j no so mais separveis e "a produo no s
determina a cincia, como esta se integra na prpria produo, como sua
potncia espiritual ou como uma fora produtiva direta" (Vazquez, 1977,
p. 223) - , na maior parte do perodo de transio, as inovaes tcnicas
ocorreram em funo de necessidades prticas e no como decorrncia do
desenvolvimento cientfico. Todavia, as exigncias de incremento da produ-
o material, relacionadas ao surgimento e ascenso da burguesia, impulsio-
naram a constituio e o progresso da cincia natural. Segundo Vazquez
(1977), a poca moderna aquela em que as exigncias que se apresentam
cincia adquirem grande amplitude e um carter mais rigoroso.
175
Para Bernal (1976a), no final do perodo de transio ao capitalismo,
os interesses dos governos e das classes dominantes no comrcio, navegao,
manufatura e agricultura levaram a realizaes culminantes na cincia: aqui,
portanto, j "se faz um esforo organizado e consciente para utilizar a cincia
para fins prticos" (p. 447).
O humanismo subjacente proposta de uma cincia mais prtica esteve
presente tambm nas artes e na filosofia e foi incentivado tanto pela burgue-
sia como pelo desenvolvimento do absolutismo. Era interessante para a bur-
guesia uma renovao de valores, de forma que estes representassem melhor
seus interesses que os at ento vigentes. Para a monarquia, essa renovao
tambm era interessante, desde que representasse aproximar de si maior n-
mero possvel de pessoas. A contraposio de valores que o perodo abrigou
(antropocentrismo e teocentrismo; f e razo; cincia contemplativa e cincia
prtica) significou, na realidade, uma luta entre camadas sociais pelo poder.
O s valores por elas assumidos representavam interesses concretos, que era
conveniente defender. A burguesia precisava destruir os obstculos para seu
desenvolvimento, representados pela Igreja, que atacava prticas capitalistas,
mas que, por outro lado, retinha riquezas importantes para o incremento eco-
nmico do perodo. Esta uma das razes que se encontram na origem do
movimento da Reforma protestante. O utra razo foi o fato de os reis, uma
vez fortalecidos, no quererem dividir seu poder com o Papa. Alm disso,
os camponeses, que desejavam pr fim servido, viam com simpatia o
movimento da Reforma; da mesma forma, viam com simpatia esse movi-
mento os nobres, interessados nas riquezas que a Igreja concentrava por
quaisquer que fossem os mtodos.
A Reforma protestante questionou as idias religiosas que estavam na
base do poder temporal da Igreja e provocou a diviso do mundo cristo. A
Igreja reorganizou-se por meio da Contra-Reforma e reafirmou todos os dog-
mas catlicos. Segundo Chau (1984), a expresso mais alta e mais eficiente
da Contra-Reforma foi a Companhia de Jesus, objetivando a ao pedaggi-
co-educativa para fazer frente escolaridade protestante. Alm disso, a Igreja
passou a enfatizar o direito divino dos reis, fortalecendo a tendncia dos
novos estados nacionais monarquia absoluta de direito divino.
no quadro da Contra-Reforma, como renovao do catolicismo para combate
ao protestantismo, que a inquisio toma novo impulso e se, durante a Idade
Mdia, os alvos privilegiados do inquisidor eram as feiticeiras e os magos,
alm das heterodoxias tidas como heresias, agora o alvo privilegiado do Santo
O fcio sero os sbios: Giordano Bruno queimado como herege, Galileu
interrogado e censurado pelo Santo O ficio, as obras dos filsofos e cientistas
catlicos do sculo XVII passam primeiro pelo Santo O fcio antes de receberem
176
o direito publicao e as obras dos pensadores protestantes so sumariamente
colocadas na lista das obras de leitura proibida (O Index). (Chau, 1984, p. 68)
Foi nesse contexto que surgiu a chamada cincia moderna, no sculo
XVII, com Galileu (1564-1642), que precisou suplantar inmeros obstculos
para ser instaurada. Foi necessrio derrubar a viso de mundo proposta por
Aristteles, reinterpretada pelos telogos medievais e oficialmente em vigor.
A dissoluo do Cosmo significa a destruio de uma idia, a idia de um
mundo de estrutura finita, hierarquicamente ordenado, de um mundo qualita-
tivamente diferenciado do ponto de vista ontolgico. Essa idia substituda
pela idia de um Universo aberto, indefinido e at infinito, unificado e gover-
nado pelas mesmas leis universais, um universo no qual todas as coisas per-
tencem ao mesmo nvel do Ser, contrariamente concepo tradicional que
distinguia e opunha os dois mundos do Cu e da Terra. (Koyr, 1982, p. 155)
O Universo visto por Aristteles era esttico, com seres caminhando
para um fim determinado e dispostos de acordo com uma hierarquia bem
definida. Era um mundo fechado e dotado de qualidades no passveis de
mensurao matemtica. A nova viso de mundo, instaurada nesse perodo
de transio, era mecanicista. Galileu e Newton (1642-1727), importantes
construtores dessa nova viso, perceberam as dimenses matemticas e
geomtricas dos fenmenos da natureza e propuseram leis do movimento, leis
essas mecnicas. Descartes (1596-1650) tambm se preocupou com as
leis do movimento e tratou toda a natureza, inclusive o corpo do prprio
homem, seguindo o modelo mecanicista. Hobbes (1588-1679) foi alm, no
que se refere ampliao do campo de abrangncia do modelo mecanicista:
estendeu-o para o prprio conhecimento.
A formulao de uma nova imagem do universo exigia o repensar de
toda a produo de conhecimento, suas caractersticas, suas determinaes,
seus caminhos. Essas consideraes metodolgicas fizeram parte das preo-
cupaes de diversos pensadores do perodo: Galileu, Bacon, Descartes, Hob-
bes, Locke (1652-1704) e Newton.
Aliada ao rompimento das idias do mundo medieval, rompeu-se tam-
bm a confiana nos velhos caminhos para a produo do conhecimento: a
f, a contemplao no eram mais consideradas vias satisfatrias para se
chegar verdade. Um novo caminho, um novo mtodo, precisava ser encon-
trado, que permitisse superar as incertezas. Surgem, ento, duas propostas
metodolgicas diferentes: o empirismo, de Bacon, e o racionalismo, de Des-
cartes. Esses dois autores dedicaram parte de sua obra a discutir o caminho
que conduziria ao verdadeiro conhecimento.
177
Embora no tenham elaborado uma teoria do conhecimento, tambm
Galileu e Newton propuseram, na prtica, caminhos para se chegar verdade,
que se contrapunham queles que vigoravam no perodo feudal.
A utilizao da razo, de dados sensveis e da experincia (em contra-
posio f) so traos que marcam o trabalho dos pensadores desse perodo,
como conseqncia da transferncia da preocupao com as relaes Deus-
homem para a preocupao com as relaes homem-natureza. Esses traos
aparecem, embora com nfases muito diferenciadas, nos trabalhos de Galileu,
Bacon, Descartes, Hobbes, Locke e Newton.
Ainda ligadas preocupao com relao ao conhecimento, situam-se
as consideraes de Descartes e Locke quanto a sua origem. O primeiro
defende a noo de idias inatas como fontes de verdade, enquanto o segundo
se coloca frontalmente contrrio a essa noo, afirmando que todo conheci-
mento provm da experincia sensvel.
Seguindo os novos caminhos traados pelos pensadores que se desta-
caram nesse perodo de transio, foi-se firmando um novo conhecimento,
uma nova cincia, que buscava leis, e leis naturais, que permitissem a com-
preenso do universo. Essa nova cincia - a cincia moderna - surgiu com
o surgimento do capitalismo e a ascenso da burguesia e de tudo o que est
associado a esse fato: o renascimento do comrcio e o crescimento das ci-
dades, as grandes navegaes, a explorao colonial, o absolutismo, as alte-
raes por que passou o sistema produtivo, a diviso do trabalho (com o
surgimento do trabalho parcelar), a destruio da viso de mundo prpria do
feudalismo, a preocupao com o desenvolvimento tcnico, a Reforma, a
Contra-Reforma. A partir de ento, estava aberto o caminho para o acelerado
desenvolvimento que a cincia viria a ter nos perodos seguintes.
178
CAPITULO 9
A RAZO , A EXPERINCIA E A CO NSTRU O
DE UM UNIVERSO GEO MTRICO :
GALILEU GALILEI (1564-1642)
Mas, meus senhores, afinal, se o homem decifra mal o mo-
vimento das estrelas, pode errar, tambm, quando decifra
Galileu Galilei, de Bertolt Brecht
Galileu Galilei nasceu a 15 de fevereiro de 1564, em Pisa. Depois de
alguns estudos iniciais freqentou, por pouco tempo, um monastrio como
novio. Em 1581 matriculou-se na Faculdade de Medicina de Pisa, mas aban-
donou os estudos em 1585, talvez por discordar dos mtodos de ensino do-
minantes, baseados na filosofia aristotlica. Nessa poca seu interesse foi
atrado pela matemtica, a partir da leitura de Euclides
1
e Arquimedes
2
, de-
dicando-se, particularmente, ao estudo de problemas de balstica, hidrulica
e mecnica segundo mtodos matemticos.
Suas concluses sobre o peso especfico dos corpos e sobre centros de
gravidade de slidos causaram admirao e, alm de serem responsveis
pela considerao que Galileu passou a receber, foram responsveis tam-
bm pela sua nomeao como catedratico de matemtica da Universidade de
Pisa, em 1589.
Galileu permaneceu em Pisa at 1592, desenvolvendo estudos e expe-
rincias sobre os movimentos naturais e violentos, tendo em vista chegar
lei da queda dos corpos
3
. Sobre esses estudos escreveu um manuscrito inti-
1 Euclides (circa 300 a.C), grego do perodo helenstico, dedicou-se matemtica, de-
senvolvendo trabalhos de grande valor para a geometria at hoje.
2 Arquimedes (287-212 a.C), tambm grego do perodo helenstico, dedicou-se mate-
mtica e mecnica, dando contribuio significativa ao desenvolvimento da cincia fsica.
Influenciou grandemente Galileu, que o admirava muito.
3 Essa lei, muito importante para a dinmica, foi formulada por Galileu em 1604, sendo
a primeira lei da fsica clssica. Ela envolve dois enunciados: a velocidade de um corpo
que cai aumenta proporcionalmente ao tempo; e a acelerao da queda a mesma para
todos os corpos.
tulado De Motu. dessa poca a histria que se conta a respeito de uma
experincia que Galileu teria feito na torre inclinada de Pisa, na presena de
alunos e professores da universidade, para demonstrar que corpos da mesma
matria tm tempos iguais de queda (independente do peso) no mesmo meio.
Com relao a essa histria, Koyr (1982) a qualifica de mito, levantando,
alm de argumentos histricos e prticos, argumentos tericos:
A afirmao de que "todos os corpos caam com uma velocidade igual", afir-
mao que no havia sido compreendida nem por Baliani, nem por Cabeo,
nem por Renieri, nem por outros, valia, segundo Galileu, para o caso "abstrato
e fundamental" do movimento "no vcuo". Para o movimento no ar, isto ,
no espao cheio, para o movimento que. portanto, no podia ser considerado
absolutamente livre de todos os impedimento visto que teria de vencer a resis-
tncia do ar - pequena, mas de modo algum desprezvel -, era de forma to-
talmente diferente. Galileu explicou-se a esse respeito com toda a clareza
desejvel. Um longo desenvolvimento dos Discorsi que Renieri no tinha lido
- ou no tinha compreendido - dedicado justamente a isso. Assim, em res-
posta carta deste, anunciando-lhe os resultados de suas experincias, Galileu
se limita a remet-lo a sua grande obra, onde havia demonstrado que no
poderia ser de outro modo. (p. 204)
Em 1592 Galileu foi nomeado catedrtico de matemtica da Universi-
dade de Pdua, continuando estudos em fsica e desenvolvendo suas concep-
es sobre a geometrizao dessa rea de investigao. Essa nomeao havia
sido solicitada por ele, provavelmente por trazer vantagens tanto no aspecto
financeiro quanto intelectual, pois essa universidade era mais aberta s novas
orientaes cientficas, mais empricas e mais voltadas pesquisa.
Durante o perodo paduano, Galileu foi obtendo cada vez maior reco-
nhecimento nos crculos acadmicos, intelectuais e aristocrticos de Pdua e
Veneza. Dedicava-se aos estudos da esttica e dava aulas na universidade e
aulas particulares em sua casa. Essas aulas particulares, que permitiam um
aumento de salrio, eram dadas a muitos jovens nobres e estrangeiros, des-
tinados carreira militar e que vinham a Pdua atrados pela universidade.
Essas aulas versavam sobre problemas tcnicos militares relacionados me-
cnica e matemtica. Dentre os escritos dessa poca, destaca-se Le mecha-
niche, em que Galileu trabalhou teoricamente conceitos mecnicos e utilizou
a matemtica para resolver problemas tcnicos.
4 Trata-se de autores da poca de Galileu que afirmaram ter reproduzido essa experincia.
Dentre estes apenas Renieri relata que os dois corpos chegaram em momentos diferentes
ao cho, sendo que o maior teria precedido o menor.
180
De 1600 a 1609, Galileu foi desenvolvendo suas concepes que leva-
ram geometrizao da cincia do movimento e elaborou as duas novas
cincias de que vai tratar mais tarde sua obra Discorsi: o estudo geomtrico
da resistncia dos slidos e o tratado sobre o movimento.
Em meados de 1609 ocorreram fatos que iriam alterar muito a vida e
as preocupaes cientficas de Galileu. Baseado em notcias vagas sobre um
instrumento que permitia ver nitidamente objetos distantes, Galileu elaborou
e desenvolveu um aparelho com essa propriedade: o perspicilli (telescpio).
Galileu fez uso cientfico desse aparelho, transformando-o em um instrumento
para a observao cuidadosa do cu: passou a existir, ento, a possibili-
dade de observar de forma mais clara e precisa os astros j visveis a
olho nu e de passar a ver outros astros e fenmenos at ento ocultos viso
e ao estudo do homem.
Galileu descreveu suas observaes na obra Sidereus nuntius, publica-
da em 1610, que revelou descobertas que podem ser qualificadas como as
mais significativas at ento. Koyr (1979) reproduz trechos do relatrio de
Galileu:
So grandes coisas as que, neste curso tratado, proponho aos olhares e
observao de todos os estudiosos da natureza. Grandes em razo de sua
excelncia intrnseca, como tambm de sua absoluta nobidade, e tambm de-
vido ao instrumento com ajuda do qual elas se tornaram acessveis a nossos
sentidos.
E certamente importante acrescentar ao grande nmero de estrelas fixas que
os homens puderam, at hoje, observar a olho nu, outras estrelas inumerveis,
e oferecer ao olhar seu espetculo, anteriormente oculto: seu nmero ultra-
passa em mais de dez vezes o das estrelas dantes conhecidas.
E coisa magnfica e agradvel vista contemplar o corpo da Lua, distante
de ns quase sessenta semidimetros da Terra, prximo como se estivesse a
uma distncia de apenas duas vezes e meia essa medida. (...)
Qualquer pessoa pode dar-se conta, com a certeza dos sentidos, de que a Lua
dotada de uma superfcie no lisa e polida, mas feita de asperezas e rugo-
sidade, que, tanto como a face da prpria Terra, por toda parte cheia de
enormes ondulaes, abismos profundos e sinuosiades.
Em minha opinio, no resultado modesto haver posto termo s controvrsias
relativas Galxia ou Via Lctea, e ter tornado sua essncia manifesta, no
somente aos sentidos, porm mais ainda ao intelecto; e alm disso, demonstrar
diretamente a substncia daquelas estrelas que todos os astrnomos at esta
data tm chamado de nebulosas, e demonstrar que ela muito diferente do
que at agora se acreditou, ser muito agradvel e belo.
Mas o que supera toda capacidade de admirao, e que em primeiro lugar
me faz chamar a ateno dos astrnomos e filsofos, isto: ou seja, que
descobrimos quatro planetas, nem conhecidos nem observados por ningum
181
antes de ns, os quais tm seus perodos em torno de uma certa grande estrela
conhecida, tal como Vnus e Mercrio fazem evolues em torno do Sol, e
que s vezes avanam, s vezes se retardam em relao a ela, sem que sua
digresso jamais ultrapasse certos limites. Tudo isso foi observado e desco-
berto h alguns dias, por meio dos perspicilli inventados por mim, atravs da
graa divina, que previamente iluminou meu esprito, (pp. 90-91)
Essa descrio foi tanto mais importante por lanar dvidas ao j ques-
tionado edifcio terico aristotlico: a superfcie da Lua rugosa e no per-
feita, como afirmava o princpio aristotlico da incorruptibilidade celeste,
5
Jpiter possua satlites e, assim sendo, a Terra no era o centro de todos os
movimentos naturais; a Via Lctea era formada por milhares de estrelas e o
Sol possua manchas. Essas observaes tendiam a apoiar as convices de
Galileu quanto verdade do sistema astronmico de Coprnico
6
, convices
essas que Galileu j expressava em carta a Kepler , datada de 1597.
Nessa poca, as provas para fundamentar o sistema coperniciano no
eram fortes. O esquema proposto por Tycho Brahe
8
, que tinha rejeitado o
movimento da Terra como incompatvel com a Bblia e com observaes
cotidianas, tinha muitos adeptos, mas o sistema ptolomaico
9
era o mais com-
patvel com Aristteles e ainda era o sistema oficialmente aceito. O sistema
geocntrico, em que a Terra era o centro fixo do Universo, postulado por
Ptolomeu e Aristteles - revestido de interpretaes religiosas e assumido
durante a Idade Mdia -, era a doutrina oficial da Igreja, ainda muito pode-
rosa, defendida ciosamente com o auxlio da Inquisio.
5 Para Aristteles, cu e terra eram realidades qualitativamente diferentes. O cu no
seria passvel de mudana, pois tudo o que fosse a ele referente era composto de uma
substncia perfeita e inaltervel, chamada "quinta-essncia". S poderia haver mudanas
na terra, gua, ar e fogo, que eram matrias "elementares", situadas no mundo sublunar
(a Terra).
6 Nicolau Coprnico (1473-1543) natural de Torun, na Polnia Apesar de ser formado
tambm em medicina e leis, alm de astronomia, notabilizou-se nesta ltima rea ao propor
um sistema astronmico que descrevia a rotao da Terra em torno de seu eixo e o mo-
vimento de translao desta em volta do Sol fixo.
7 Joannes Kepler (1571-1630), astrnomo e matemtico alemo, era coperniciano e de-
fendia a idia de um universo unitrio e regido pelas mesmas leis matemticas. Alm
disso, foi quem descreveu as rbitas dos planetas como elpticas, libertando a astronomia
"da obsesso da circularidade" (Koyr, 1986b, p. 231).
8 Tycho Brahe (1546-1601), astrnomo dinamarqus que adotou um sistema geocntrico
no qual o Sol girava em torno da Terra - fixa - e os planetas giravam em tomo do Sol.
9 Ptolomeu (90-168), grego do perodo helenstico, foi defensor de um modelo cosmol-
gico geocntrico, sendo a Terra - fixa - o centro do Universo.
182
O corria nesse momento a maior radicalizao da luta entre duas con-
cepes de mundo - a heliocntrica e a geocntrica, cada uma com implica-
es determinadas - sendo que optar pela teoria heliocntrica e explicit-la
claramente era uma empresa bastante perigosa.
As implicaes de se ir contra a doutrina oficial parecem ter estado
claras para Galileu, pois Giordano Bruno (1548-1600) havia sido condenado
e efetivamente morto na fogueira, em 1600, por defender idias contrrias
doutrina oficial. Giordano Bruno, segundo Koyr (1982), foi um filsofo que
percebeu que o sistema de Coprnico, pelo qual optou, implicava o abandono
definitivo da idia de um universo estruturado e hierarquicamente ordenado.
Alm disso, segundo o mesmo autor, foi quem proclamou, com grande ou-
sadia, que o universo infinito.
10
O Sidereus nuntins, de Galileu, provocou grande impacto. De um lado,
admirao por parte do pblico culto, de outro lado, speras crticas de fil-
sofos e astrnomos que acusavam o cientista de fraudar o conhecimento por
meio de seu instrumento. Kepler, tendo tomado conhecimento das afirmaes
da obra de Galileu, concordou prontamente com elas.
Galileu queria voltar para Florena e dedicar-se aos estudos astron-
micos. Em 1610 foi, ento, nomeado pelo gro-duque Cosimo II, que era
seu discpulo, para o cargo de matemtico chefe e filsofo do gro-duque de
Toscana e primeiro matemtico da Universidade de Pisa.
Em 1611 Galileu foi para Roma, a fim de defender suas descobertas
das acusaes a elas lanadas. Participou de um certame cientfico, promovido
pelo gro-duque, do qual tomavam parte cardeais da Igreja, inclusive Maffeo
Barberini, posteriormente Papa Urbano VIII. Como resultado dessas discus-
ses, publicou, em 1612, a obra Discorso interno alie cose que stanno in su
Vaqua, que diz respeito mecnica e onde desenvolve princpios de hidros-
ttica.
O livro obteve inesperado sucesso, tendo em vista o assunto que aborda.
Drake (1981) julga que esse interesse do pblico compreensvel devido s
experincias que Galileu descrevia, que eram numerosas, variadas e, sem
exigir equipamento especial, eram atraentes e fceis de serem realizadas. O
comentrio desse estudioso de Galileu levanta uma peculiaridade da atitude
do cientista para com o pblico a quem dirigia seus escritos: no s astr-
10 Esta posio quanto infinitude do Universo no foi assumida com clareza por Galileu.
Diz Koyr (1979): "() No debate sobre a infinitude do universo, o grande florentino, a
quem a cincia moderna deve talvez mais do que a qualquer outro homem, no toma
posio. Jamais nos diz se acredita numa ou noutra das hipteses. Parece no ter-se resol-
vido, ou mesmo que, embora se incline para a infinitude, considera a questo insolvel"
(p. 96).
183
nomos e filsofos, mas tambm o homem comum. Muitas de suas obras
foram escritas em italiano e no em latim, e Galileu insistia na clareza e na
sobriedade. Koyr (1982) afirma sobre o Dilogo, que a obra, escrita em
italiano e apresentando exposio simplificada do sistema de Coprnico, era
dirigida ao homem comum, que necessitava ser conquistado para a causa do
copernicianismo.
Em 1613 Galileu publicou Istoria e dimostrazione intorno alie machie
solari, em que atacou o princpio aristotlico da incorruptibilidade do cu,
defendeu a hiptese de Coprnico e princpios metodolgicos quanto ao papel
do experimento e do raciocnio lgico na construo do conhecimento. De
acordo com Drake (1981), com relao discusso sobre as manchas solares,
Galileu
assumiu a posio de que todos os fenmenos celestes deviam ser interpretados
em termos de analogias terrestres, contra o postulado fundamental de Arist-
teles das diferenas essenciais. Tambm afirmava que no se pode conhecer a
essncia das coisas e que a cincia s se preocupa com as propriedades das
coisas e com fatos observados. Isto significava uma declarao de inde-
pendncia da cincia em relao filosofia, (p. 90)
Posio semelhante com relao independncia da cincia no que diz res-
peito religio seria posteriormente expressa por Galileu.
Essa poca marcou-se pela mudana do tipo de oposio que Galileu
vinha sofrendo: de oposio voltada s suas crticas aos princpios da filosofia
aristotlica, passou-se a denunciar suas convices como contrrias s pala-
vras das Sagradas Escrituras, isto , de oposio filosfica passou-se a opo-
sio religiosa. Galileu tentou apaziguar a polmica defendendo a separao
entre f e cincia: a Igreja seria soberana em assuntos morais e religiosos, e
a cincia basearia a construo do conhecimento na experincia e na razo.
Entre 1613 e 1615 aconteceram alguns fatos que mantiveram acesa a
polmica, apesar de Galileu manter uma posio conciliadora, no preten-
dendo um choque com a Igreja. Mas o sistema de Coprnico ia ganhando
cada vez maior nmero de adeptos.
As autoridades eclesisticas expressaram mais uma vez sua posio
quanto ao sistema coperniciano: o movimento da Terra deveria ser tratado
hipoteticamente, como um artifcio matemtico e no como se fosse real,
caso contrrio, precipitar-se-iam aes oficiais contra os defensores do co-
pernicianismo.
De acordo com Drake (1981), nessa poca se desenvolvia um nervo-
sismo geral entre os intelectuais de Roma, devido s disputas entre catlicos
e protestantes, e uma rea principal de contenda entre os dois lados era a
liberdade de interpretar a Bblia. O significado desse fato era que qualquer
184
nova interpretao catlica tendia a fortalecer a posio protestante: se se
podia fazer uma reinterpretao por que no se poderiam fazer vrias?
Apesar desse contexto, Galileu, em 1616, escreveu para Alessandra,
cardeal O rsini, sua teoria das mars, que envolvia o princpio da mobilidade
da Terra. As proposies copernicianas foram ento enviadas oficialmente
para o pronunciamento de censores teolgicos, resultando desse processo a
proibio das teses de Coprnico, e Galileu foi impedido, ainda em 1616, de
ensinar, expressar opinies ou elaborar trabalhos que defendessem essa po-
sio. Foram colocadas no Index dos livros proibidos todas as obras que
abordassem como reais os movimentos da Terra e a estabilidade do Sol.
Galileu, apesar de muito discordar dessas medidas, que iam contra todas
as suas convices e lhe cortavam a possibilidade de trabalhar nessas ques-
tes, no encontrando outra alternativa, obedeceu.
Em 1618 escreveu Discorso sulle comete, em resposta a um padre do
Colgio Romano que interpretava o aparecimento de trs cometas de acordo
com a teoria de Tycho Brahe. O que estava subjacente a essa disputa era o
sistema cosmolgico mais correto, mas esse assunto no poderia ser discutido
publicamente depois da proibio de 1616. Esse padre publicou em seguida
uma resposta agressiva a Galileu (sob o pseudnimo de Lothario Sarsi) que,
por sua vez, replicou publicando Saggiatore (essa obra recebeu em portugus
o ttulo O ensaiador), em 1623, obra em tom polmico, conhecida pelo seu
significado enquanto discusso de aspectos metodolgicos da construo de
conhecimento, defendendo os processos lgicos racionais contra o dogmatis-
mo e a autoridade.
Essa obra foi dedicada ao cardeal Maffeo Barberini, que se tornaria o
Papa Urbano VIII nesse mesmo ano. Como Barberini era um homem culto
e esclarecido e admirador de Galileu, provocou neste a esperana de poder
retomar os estudos astronmicos e antigas convices.
Galileu comeou, ento, a preparar a publicao de Dialogo sopra i
due massimi sistemi dei mondo - tolemaico e copernicano (citada apenas
como Dilogo), obra em que defende o sistema coperniciano e explicita o
mtodo experimental. Essa tarefa empreendida entre 1624 e 1630.
A publicao do livro enfrentou muitas dificuldades criadas pelas au-
toridades da Igreja, que deveriam dar sua autorizao. Finalmente a autori-
zao foi dada e a obra publicada em 1632. Banfi (1983) descreveu e inter-
pretou o que ocorreu a seguir
Mas, quando j de todos os lados chegavam assentimentos entusisticos, era
ordenada a suspenso das vendas e Galileu citado perante o tribunal do Santo
O ficio, em Roma. Tinham assim triunfado o tradicionalismo acadmico, o cioso
ortodoxismo, repentinamente reforado pela ira pessoal de Urbano VIII, quer
185
porque suspeitasse de ser evocado sob a figura de Simplcio, o peripattico do
dilogo, quer porque no quisesse, com a tolerncia perante uma obra contrria
no seu contedo aos decretos, reforar a fama de pouca ortodoxia que lhe era
lanada em rosto pelos inimigos de sua poltica antiespanhola e antiimperial.
(pp. 22-23)
Galileu partiu para Roma em janeiro de 1633, onde ficou confinado na
priso do Santo O fcio.
Aps as sesses do processo, foi condenado priso perptua, em junho
de 1633, e obrigado a negar suas teses, retratando-se. Galileu retratou-se e
continuou vivo, mas em priso domiciliar, vigiado constantemente pela In-
quisio, que lhe cerceava os contatos.
Galileu ainda organizou uma obra que foi publicada em Leyden, em
1638: Discorsi interno a due nuove scienze (citada apenas como Discursos
e que recebeu em portugus o ttulo Duas novas cincias), sobre a resistncia
dos materiais e sobre o movimento, retomando seus principais resultados,
antes de morrer, a 18 de janeiro de 1642.
Tem sido admirada a revoluo do conhecimento operada por Galileu
no final do sculo XVI, dando incio cincia moderna, que tem at hoje
as caractersticas gerais estabelecidas nesse perodo, e fornecendo suporte
para a proposta newtoniana que ocorreria no sculo seguinte.
Segundo Koyr (1982), dois traos descrevem e caracterizam a atitude
mental ou intelectual da cincia moderna, da qual Galileu foi expoente: a
destruio da idia de cosmo, que deixa de fazer parte das noes cientficas;
e a geometrizao do espao ou a substituio do espao csmico qualitati-
vamente diferenciado e concreto, pelo espao homogneo e abstrato da geo-
metria euclidiana. A idia de cosmo, at ento erigida, tinha como trao
principal a fsica aristotlica. De acordo ainda com esse autor, as caracters-
ticas mais acentuadas dessa fsica so a crena em "naturezas" qualitativa-
mente definidas; e a crena na existncia de um cosmo que segue princpios
de ordem, mediante os quais o conjunto dos seres reais forma um todo hie-
rarquicamente ordenado. Postula que cada coisa tem seu lugar, segundo sua
natureza, por exemplo, a Terra, imvel no centro do universo "porque por
fora de sua natureza, ou seja, porque ela pesada, deve achar-se no centro",
j que os corpos pesados "se dirigem ao centro porque sua natureza que
para l os impele" (Koyr, 1982, p. 50). A teoria aristotlica parte de fatos
do senso comum e os elabora num edifcio lgico muito bem construdo,
apesar de o contedo utilizado na construo desse edifcio ser falso. Parte
de princpios determinados: a separao entre o cu e a Terra - com a
postulao da perfeio celeste; a teleologia envolta na concepo dos
lugares naturais; a hierarquia do todo ordenado e finito. A sntese aristotlica
186
no-matemtica, na medida em que envolve conceitos qualitativos e no
quantitativos. Essa % sntese que foi defendida por telogos e filsofos na
Europa medieval e renascentista, com suas concepes geocntricas que se
harmonizavam com a interpretao da Bblia aceita na poca.
Koyr (1979 e 1982) atribui a Nicolau de Cusa (1401-1464) a inaugu-
rao do trabalho destrutivo da cosmologia aristotlica, apesar de que, durante
todo o perodo da transio para uma nova cincia, a antiga e a nova forma
de conceber a realidade tenham andado constantemente juntas, at que o
universo hierrquico e fechado de Aristteles fosse substitudo pelo universo
mecnico e infinito de Newton. Ainda de acordo com Koyr, foi Nicolau de
Cusa quem primeiramente colocou no mesmo plano ontolgico a realidade
da Terra e a realidade do cu, e a ele atribuda a qualificao do universo
como infinito, apesar de ter evitado a palavra infinito, usando o termo "in-
trmino", que significa, em ltima anlise, indeterminado (no sentido de no
possuir limites e no estar terminado).
Banfi (1983) descreve Nicolau de Cusa como algum que defende ten-
dncias imanentistas - segundo as quais os conceitos sobre a natureza devem
representar sua autnoma estrutura interna - apesar das bases ainda escols-
ticas de seu pensamento.
J, de acordo com Bernal (1976a), o primeiro e o mais importante
golpe no antigo sistema de pensamento foi desferido por Nicolau Coprnico,
que, inspirado por textos recm-descobertos," props a teoria heliocntrica.
Bernal comenta as controvrsias em torno de Coprnico, como crticas s
suas poucas e no rigorosas observaes, que acaba por propor um sistema
que, na prtica, no era melhor do que aquele que queria destruir, alm da
atribuio de razes mais msticas do que cientficas para suas concepes
- mas conclui pelo seu valor enquanto um persistente esprito inovador.
O ponto central para a derrubada do edifcio aristotlico consistia na
unificao entre o cu e a Terra, isto , em perceber que as leis do movimento
que governavam os fenmenos terrestres governavam tambm os fenmenos
celestes. A construo dessas leis dependia tanto de uma alterao da atitude
intelectual mais geral como de uma alterao conseqente na maneira de
abordar tais fenmenos. Nesse sentido, Tycho Brahe deu um grande passo
ao dar astronomia e cincia em geral algo de absolutamente novo, a saber
um esprito de preciso: preciso na observao dos fatos, preciso nas medidas
e preciso na fabricao dos instrumentos de medida usados na observao.
11 Foi durante o perodo do chamado Renascimento e no perodo subseqente que obras
de filsofos e matemticos gregos comearam a ser publicadas: Ptolomeu, Arquimedes,
Apolnio, etc.
187
(...) O ra, a preciso das observaes de Tycho Bralie que se situa na base
do trabalho de Kepler (...) [que introduziu] a idia de que o universo, em
qualquer de suas partes regido pelas mesmas leis, e por leis de natureza
estritamente matemtica. (Koyr, 1982, p. 51)
Ainda segundo esse autor, apesar de Kepler ter sabido formular leis
para o movimento planetrio, no o soube para os movimentos terrestres, por
no ter conseguido levar at o ponto necessrio a geometria do espao e
chegar nova noo de movimento que da resulta. E esse o ponto em que
Galileu ultrapassou Kepler. Mas Galileu no deu o passo decisivo nessa uni-
ficao, por hesitar em assumir as ltimas conseqncias de sua prpria con-
cepo de movimento: a infinitude do universo.
A fsica moderna (...) considera a lei da inrcia
1
sua lei mais fundamental.
Tem muita razo, pois como diz o belo adgio: "Ignorato moto ignoratur
natura", e a cincia tende a explicar tudo "pelo nmero, pela figura e pelo
movimento". De fato, foi Descartes e no Galileu quem, pela primeira vez,
compreendeu inteiramente o alcance e o sentido disso. Entretanto, Newton no
est totalmente enganado ao atribuir a Galileu o mrito da sua descoberta. Com
efeito, embora Galileu nunca tenha formulado explicitamente o princpio da
inrcia, sua mecnica est, implicitamente, baseada nele. E somente sua he-
sitao em extrair, ou em admitir as ltimas - ou implcitas - conseqncias
de sua prpria concepo de movimento, sua hesitao em rejeitar completa e
radicalmente os dados da experincia em favor do postulado terico que esta-
beleceu com tanto esforo, que o impede de dar esse ltimo passo no caminho
que leva do Cosmo finito dos gregos ao Universo infinito dos modernos. (Koy-
r, 1982, pp. 182-183)
Segundo Bernal (1976a), uma das razes da preocupao de Galileu
com o movimento adveio da necessidade de destruir algumas objees ao
sistema de Coprnico existentes na poca (por exemplo, como era possvel
a Terra ter movimento de rotao sem que se criasse uma ventania colossal
em sentido contrrio; e como que os corpos atirados ao ar no eram dei-
xados para trs) e, assim, justific-lo.
As leis do movimento propostas por Galileu permitiam destruir essas
objees, mostrando que era possvel se entender o movimento da Terra desde
que se desse um tratamento matemtico ao seu estudo, oposto ao tratamento
no-matemtico de Aristteles. Segundo Desanti (1981), "a tradio no
mente quando vai buscar em Galileu a origem de um novo movimento cujo
resultado foi a mecnica clssica" (p. 61).
12 A lei da inrcia implica a concepo do universo como infinito.
o prprio Galileu (1973) quem afirma que "se opor geometria
negar abertamente a verdade" {O ensaiador, p. 106). Ele explicita mais
claramente suas convices com relao a este aspecto ainda em Saggiatore
(O ensaiador), ao indicar a Sarsi que o caminho para a construo do co-
nhecimento estudar a natureza e no se apoiar em autoridades:
Parece-me tambm perceber em Sarsi slida crena que, para filosofar, seja
necessrio apoiar-se nas opinies de algum clebre autor, de tal forma que o
nosso raciocnio, quando no concordasse com as demonstraes de outro,
tivesse que permanecer estril e infecundo. Talvez considere a filosofia como
um livro e fantasia de um homem, como a Ilada e O rlando Furioso, livros em
que a coisa menos importante a verdade daquilo que apresentam escrito.
Sr. Sarsi, a coisa no assim. A filosofia encontra-se escrita neste grande
livro que continuamente se abre perante nossos olhos (isto , o universo), que
no se pode compreender antes de entender a lngua e conhecer os caracte-
res com os quais est escrito. Ele est escrito em lngua matemtica, os ca-
racteres so tringulos, circunferncias e outras figuras geomtricas, sem cujos
meios impossvel entender humanamente as palavras; sem eles ns vagamos
perdidos dentro de um obscuro labirinto, (p. 119)
Galileu, portanto, mostrava no s uma alterao na concepo aristo-
tlica de universo que j vinha sendo questionada, como tambm uma con-
seqente alterao na forma de abordar os fenmenos, demonstrando na pr-
tica a no-validade do postulado aristotlico da impossibilidade de o mundo
fsico ser estudado quantitativamente.
Essa convico de Aristteles expressa na obra de Galileu, Duas
novas cincias (s/d.), construda na forma de dilogo, na qual Simplcio, que
representa as idias aristotlicas, diz a respeito de uma demonstrao mate-
mtica que acabara de ouvir:
Por outra parte, como as consideraes e demonstraes apresentadas at
aqui so coisas matemticas, abstratas e separadas da matria sensvel, pa-
rece-me que, aplicadas ao mundo fsico e natural, no vingariam essas regras.
(p. 48)
Conforme j se havia salientado, a soluo do problema astronmico
implicava a construo de uma nova fsica e essa construo, por sua vez,
demandava a definio do papel da matemtica nela envolvida. Para Arist-
teles, que tinha uma concepo qualitativa dos fenmenos, no cabia recorrer
matemtica para estud-los, mas para Galileu era essencial abandonar con-
ceitos qualitativos, j que estes no se prestavam ao tratamento matemtico
preciso.
Ao realizar uma descrio geomtrica do movimento, Galileu mostrou
a possibilidade de se construir uma fsica matemtica que falasse dos objetos
189
reais e que no fosse apenas um discurso abstrato formalmente correto. Com
relao a esse aspecto, Drake (1981) cita um trecho do Dilogo, no qual
Galileu aborda o assunto:
Quando se aplica uma esfera material a um plano material, em concreto,
aplica-se uma esfera que no perfeita a um plano que no perfeito, e
diz-se que estes no tocam num s ponto. Mas digo-vos que mesmo em abs-
tracto, uma esfera imaterial, que no uma esfera perfeita, pode tocar um
plano imaterial, que no perfeitamente liso num s ponto, mas sobre parte
de sua superfcie - assim, o que acontece aqui, em concreto, acontece do
mesmo modo em abstracto.
Na verdade, seria novidade para mim se a contabilidade em nmeros abstrac-
tos no correspondesse a moedas de ouro e prata concretas, ou a mercadorias.
Tal como um contabilista, que deseja que os seus clculos tratem de acar,
seda e l, tem de descontar caixas, fardos e embrulhos o filsofo-gemetra,
quando quer reconhecer em concreto os efeitos que provou em abstracto, tem
de deduzir os obstculos materiais; e se consegue fazer isso, asseguro-vos que
as coisas materiais no esto menos de acordo do que os clculos aritmticos.
Os erros, ento, residem no na abstrao ou no concreto, mas num guarda-
livros, que, no compreende como se faz o balano dos seus livros, (p. 87)
A matematizao , portanto, um dos aspectos metodolgicos funda-
mentais propostos por Galileu. Escreveu esse cientista no dilogo entre Sim-
plcio, Sagredo e Salviati, em Duas novas cincias (s/d):
Sagredo - O que podemos dizer, Sr. Simplcio? No devemos confessar que a
geometria o mais poderoso instrumento para estimular o espirito e prepar-lo
adequadamente para raciocinar e indagar? E no tinha Plato razo ao exigir
que seus alunos tivessem, antes de mais nada, um conhecimento slido das
matemticas. Eu havia compreendido perfeitamente a propriedade da alavanca
e como, medida que aumenta ou diminui seu comprimento, cresce ou diminui
o momento da fora e da resistncia. Apesar disso, na soluo do presente
problema estava enganado e no pouco, mas infinitamente.
Simplicio - Comeo realmente a compreender que a lgica, ainda que seja
um itistrumento indispensvel para regrar nosso raciocnio, no alcana, no
que se refere a estimular a mente para a inveno, grandeza da geometria.
Sagredo - Parece-me que a lgica nos ensina a conhecer se os raciocnios e
as demonstraes j efetuadas e alcanadas procedem de modo conclusivo;
no acredito, porm, que ela nos ensine a encontrar os raciocnios e as de-
monstraes conclusivas (...). (p. 110)
O utro fundamento do mtodo empregado por Galileu constitui-se no
uso da observao e da experimentao para a construo do conhecimento.
Com relao observao, sua importncia pode ser ilustrada pelo fato
de Galileu ter construdo um telescpio, utilizando-o como instrumento cien-
tfico para observao.
190
Segundo Koyr (1979), a obra de Galileu, O mensageiro celeste (Si-
dereus nuntius), representou um papel decisivo para o desenvolvimento pos-
terior da cincia astronmica, j que, depois de o cientista ter feito uma
descrio do telescpio e mostrado os resultados de suas observaes, aquela
cincia ficou extremamente ligada evoluo de seus instrumentos. "Poder-
se-ia dizer que no s a astronomia, como tambm a cincia como tal, en-
traram, com a inveno de Galileu, numa nova fase de seu desenvolvimento,
a fase que poderamos chamar de instrumental" (p. 92).
Galileu considerava a observao e a experincia requisitos metodol-
gicos muito importantes para a construo da cincia.
13
Estas tinham em vista
buscar dados numricos que pudessem expressar os fenmenos fsicos, busca
essa dirigida por suas concepes tericas.
Segundo Koyr (1982), quando os historiadores da cincia moderna
descrevem seu carter emprico e concreto, em oposio ao carter abstrato
e livresco da cincia clssica e medieval, no esto apresentando um quadro
falso. Ressalta que o empirismo da cincia moderna repousa na experimen-
tao. Mas ressalta tambm a estreita ligao existente entre experimentao
e elaborao de uma teoria: so interdeterminadas, sendo que o desenvolvi-
mento da preciso e o aperfeioamento da teoria aumentam a preciso e o
aperfeioamento das experincias cientficas. "Com efeito, se uma experin-
cia cientfica - como Galileu to bem exprimiu - constitui uma pergunta
formulada natureza, claro que a atividade cujo resultado a formulao
dessa pergunta funo da elaborao da linguagem na qual essa atividade
se exprime" (Koyr, 1982, p. 272). Isso quer dizer que ao fazer experimen-
taes Galileu j havia feito opes com relao aos conceitos tericos que
dirigiram suas investigaes: os conceitos matemticos.
13 Segundo Koyr (1982), alm das experincias reais, Galileu realizava experincias ima-
ginrias, porque as experincias reais, mesmo hoje, implicam, freqentemente, a necessi-
dade de complexa e custosa aparelhagem e dificuldades de realizao, sendo que na ex-
perincia imaginria se podia operar com objetos teoricamente perfeitos.
191
CAPITULO 10
A INDUO PARA O CONHECIMENTO
E O CONHECIMENTO PARA A VIDA PRTICA:
FRANCIS BACON (1561-1626)
Mas aqueles dentre os mortais, mais animados e interessados,
no no uso presente das descobertas j feitas, mas em ir mais
alm; que estejam preocupados, no com a vitria sobre os ad-
versrios por meio de argumentos, mas na vitria sobre a na-
tureza, pela ao; no em emitir opinies elegantes e provveis,
mas em conhecer a verdade deforma clara e manifesta; esses,
como verdadeiros filhos da cincia, que se juntem a ns, para,
deixando para trs os vestbulos das cincias, por tantos palmi-
lhados sem resultado, penetrarmos em seus recnditos domnios.
Bacon
No perodo compreendido entre a metade do sculo XVI e a metade
do sculo XVII, em que se foi consolidando na Inglaterra a passagem do
catolicismo ao protestantismo (mais especificamente, ao anglicanismo), esse
pas passou por um perodo de grandes mudanas no sistema produtivo; a
rpida expanso industrial transformou-o na maior potncia protestante da
poca, com grande fora poltica e centro dos conflitos culturais que acom-
panharam o surgimento dos novos tempos.
Nesse perodo viveu Francis Bacon, que, influenciado pelo esprito de
seu tempo, defendia a aplicao da cincia indstria, a servio do progresso.
Compreendeu a importncia do conhecimento nesses novos tempos e afirmou
repetidas vezes que "saber poder".
Bacon foi um jurista e ocupou altos cargos pblicos, desempenhando
intensa atividade poltica. Foi um defensor da monarquia absoluta, embora
fosse contrrio censura de opinio.
Apesar de ter estado sempre no centro da vida pblica, dedicou grande
parte de seu tempo a refletir sobre o conhecimento e sobre a melhor forma
de coloc-lo a servio do homem. No descobriu qualquer nova lei, no
elaborou uma teoria prpria em qualquer ramo de investigao; em vez disso,
props uma forma para se chegar a novas teorias, um mtodo que, a seu ver,
possibilitaria a construo de um conhecimento correto dos fenmenos.
Bacon entendia que o bem-estar do homem dependia do controle cien-
tfico obtido por ele sobre a natureza, o que levaria facilitao da sua vida.
Assim, julgava imprescindvel o domnio do homem sobre a natureza, a partir
do conhecimento de suas leis. Isso o mostram os trechos que se seguem,
retirados do Novum organum , sua mais conhecida obra, parte de A grande
instaurao, um amplo projeto que no chegou a completar.
(...) a nossa disposio de investigar a possibilidade de realmente estender
os limites do poder ou da grandeza do homem e tornar mais slidos os seus
fundamentos. (Novum organum, I, afor. 116)
Em primeiro lugar, parece-nos que a introduo de notveis descobertas ocupa
de longe o mais alto posto entre as aes humanas (...).
(...) Mas se algum se dispe a instaurar e estender o poder e o domnio do
gnero humano sobre o universo, a sua ambio (se assim pode ser chamada)
seria, sem dvida, a mais sbia e a mais nobre de todas. Pois bem, o imprio
do homem sobre as coisas se apoia, unicamente, nas artes e nas cincias. A
natureza no se domina, seno obedecendo-lhe. (Novum organum, I, afor. 129)
Esses trechos evidenciam um aspecto fundamental da viso de Bacon:
a verdadeira finalidade da cincia contribuir para a melhoria das condies
de vida do homem; de fato, para Bacon o conhecimento no tem valor em
si, mas sim pelos resultados prticos que possa gerar.
Um outro aspecto importante da viso de Bacon que, para que o
conhecimento cumpra sua finalidade de se colocar a servio do homem, ele
tem que estar fundado em fatos, numa ampla base de observao. Eis o que
ele afirma a esse respeito:
O homem, ministro e intrprete da natureza, faz e entende tanto quanto cons-
tata, pela observao dos fatos ou pelo trabalho da mente, sobre a ordem da
natureza; no sabe nem pode mais. (Novum organum, I, afor. 1)
Resta-nos um nico e simples mtodo, para alcanar os nossos intentos: levar
os homens aos prprios fatos particulares e s suas sries e ordens, afim de
que eles, por si mesmos, se sintam obrigados a renunciar s suas noes e
comecem a habituar-se ao trato direto das coisas. (Novum organum, I, afor. 36)
Aqui se evidencia a tendncia emprica de Bacon: para ele, o homem
tem que entrar em contato com a natureza, se deseja conhec-la. O pe-se a
1 Essa obra, em seus dois livros, composta de um conjunto de aforismos, que so
proposies acerca do homem, da natureza, do conhecimento e da relao entre esses
elementos.
194
qualquer idia predeterminada da natureza e acha que seu conhecimento s
se dar pela via emprica e experimental
2
e no pela via especulativa.
necessrio que faamos aqui uma observao: embora Bacon defenda
que o conhecimento deva ser aplicvel vida do homem, ele no prope
que cada conhecimento particular tenha que ter utilidade imediata; o con-
junto do saber que deve estar voltado para atender s necessidades do homem.
Isso fica claro quando Bacon faz uma distino entre experimentos que tra-
zem frutos e experimentos que trazem luz sobre importantes problemas te-
ricos (e que mais tarde acabam por trazer tambm conseqncias prticas):
(...) a esperana de um ulerior progresso das cincias estar bem fundamen-
tada quando se recolherem e se reunirem na histria natural muitos experi-
mentos que em si no encerram qualquer utilidade, mas que so necessrios
na descoberta das causas e dos axiomas. A esses experimentos costumamos
designar por luciferos, para diferenci-los dos que chamamos de frutferos.
{Novum organum, I, afor. 99)
A partir da defesa que fez da utilidade do conhecimento, Bacon preo-
cupou-se com as noes falsas que, segundo ele, impediam os sbios de
alcanar a verdade e, conseqentemente, de produzir um conhecimento que
servisse verdadeiramente ao homem, e afirmou a necessidade de um instru-
mento para corrigir essas falsas noes. Para Bacon, so de quatro tipos os
erros que o homem pode cometer ao produzir conhecimento, se seguir seu
impulso natural. A esses erros Bacon chamou de dolos e, a menos que os
homens os compreendam e tomem precaues contra eles, podem constituir-
se em srios obstculos cincia.
O s primeiros so os dolos da tribo, que so falhas inerentes prpria
natureza humana, falhas, tanto dos sentidos quanto do intelecto, comuns a
todos os homens. Segundo Bacon, as percepes so parciais, portanto no
se pode confiar nas informaes fornecidas pelos sentidos, seno quando
corrigidas pela experimentao. De acordo com Bacon, "os sentidos julgam
somente o experimento e o experimento julga a natureza e a prpria coisa"
{Novum organum, I, afor. 50). Da mesma forma como os sentidos, tambm
o intelecto humano est sujeito a falhas, uma das quais a tendncia a gene-
ralizar a partir de casos favorveis, sem atentar para as instncias negativas.
2 Segundo Farrington (1971), Bacon utiliza a expresso "mtodo experimental" em sen-
tido amplo, compreendendo qualquer interferncia intencional na natureza, o que inclui
todos os processos industriais, as artes e os ofcios associados agricultura e manufatura.
195
Nas palavras de Bacon,
o intelecto humano tem o erro peculiar e perptuo de mais se mover e excitar
pelos eventos afirmativos que pelos negativos, quando deveria rigorosa e sis-
tematicamente atentar para ambos. Vamos mais longe: na constituio de todo
axioma verdadeiro, tm mais fora as instncias negativas. (Novum organum,
I, afor. 46)
O s segundos erros so os dolos da caverna, que so distores que
se podem interpor no caminho da verdade, em funo de caractersticas in-
dividuais do estudioso. Essas distores so decorrentes de sua histria de
vida, de seu ambiente, de sua formao, de seus hbitos, das leituras que
faz, de seu estado de esprito no momento em que se pe a buscar um de-
terminado conhecimento, e o faro abordar seu objeto de estudo a partir de
um prisma determinado.
O terceiro tipo de dolos so os dolos do foro, que so falhas prove-
nientes do uso da linguagem e da comunicao entre os homens. As palavras
que usamos limitam nossa concepo das coisas, porque pensamos sobre as
coisas a partir das palavras que temos para exprimi-las. As palavras assumem
o significado que o uso corrente da linguagem acaba por lhes imprimir e que
, geralmente, muito vago, impreciso ou parcial. Quando se tenta precis-las
para fazer com que correspondam mais fielmente ao que se encontra na na-
tureza, esbarra-se numa grande resistncia imposta pelo uso que vulgarmente
se fez delas ao longo do tempo. Como as palavras constituem o meio pelo
qual se trocam as idias, o uso de palavras vagas, de palavras sem corres-
pondncia com qualquer aspecto do real, acaba por gerar inmeras contro-
vrsias em torno de nomes. Para garantir uma comunicao eficiente em
cincia, seria necessrio dotar as palavras de resultados de experincias,
porque as prprias definies no fornecem uma soluo satisfatria, uma
vez que tambm elas so compostas de palavras.
Por ltimo, h os dolos do teatro, que so distores introduzidas no
pensamento advindas da aceitao de falsas teorias, de falsos sistemas filo-
sficos. Aqui, Bacon faz severas crticas a vrias escolas filosficas, parti-
cularmente de Aristteles e ao que chama de seus seguidores modernos,
os escolsticos. Entre as crticas que faz esto as de dogmatismo, infecundi-
dade e esterilidade para a produo de resultados prticos, que beneficiem a
vida do homem. Critica tambm o fato de esses filsofos elaborarem teorias
sobre a natureza que saem de suas cabeas, em vez de relacionarem-se com
a natureza por meio da experimentao antes de conclurem algo sobre ela.
(...) Aristteles estabelecia antes as concluses, no consultava devidamente
a experincia para estabelecimento de suas resolues e axiomas. E tendo, ao
seu arbtrio, assim decidido, submetia a experincia como a uma escrava para
196
conform-la s suas opinies. Eis porque est a merecer mais censuras que
os seus seguidores modernos, os filsofos escolsticos, que abandonaram to-
talmente a experincia. (Novum organum, I, afor. 63)
Segundo Bacon, a razo da estagnao das cincias est na utilizao
de mtodos que barram o seu progresso: no partem dos sentidos ou da
experincia, mas da tradio, de idias preconcebidas e se abandonam aos
argumentos. O caminho correto para o avano das cincias estaria na reali-
zao de grande nmero de experincias ordenadas, das quais seriam retirados
os axiomas e, a partir destes, propor-se-iam novos experimentos. Essa idia
se explicita na comparao que Bacon faz entre o mtodo correntemente
utilizado nas cincias e o mtodo por ele proposto:
S h e s pode haver duas vias para a investigao e para a descoberta da
verdade. Uma, que consiste no saltar-se das sensaes e das coisas particu-
lares aos axiomas mais gerais e, a seguir, descobrirem-se os axiomas inter-
medirios a partir desses princpios e de sua inamovvel verdade. Esta a
que ora se segue. [Aqui se explicita a critica de Bacon forma de proceder
que, partindo de algumas observaes esparsas e assistemticas, algumas sen-
saes, prope princpios gerais.] A outra, que recolhe os axiomas dos dados
dos sentidos e particulares, ascendendo continua e gradualmente at alcanar,
em ltimo lugar, os princpios de mxima generalidade. Este o verdadeiro
caminho, porm ainda no instaurado. [Aqui, a proposta de Bacon: construo
gradual de princpios gerais a partir de e baseada em grande nmero de
observaes particulares.] (Novum organum, I, afor. 19)
Tanto uma como a outra via partem dos sentidos e das coisas particulares e
terminam nas formulaes da mais elevada generalidade. Mas imenso aquilo
em que discrepam. Enquanto que uma perpassa na carreira pela experincia
e pelo particular, a outra a se detm deforma ordenada, como cumpre. Aque-
la, desde o incio, estabelece certas generalizaes abstratas e inteis; esta se
eleva gradualmente quelas coisas que so realmente as mais comuns na na-
tureza. (Novum organum, I, afor. 22)
A diferena entre as duas propostas de mtodo no est, necessaria-
mente, no recurso, ou no, experincia, mas na forma como se recorre a
ela, no peso e na amplitude que a ela se d.
Ao mtodo que props, Bacon deu o nome de induo e s.obre ele
afirma ainda o seguinte:
Na constituio de axiomas por meio dessa induo, necessrio que se pro-
ceda a um exame ou prova: deve-se verificar se o axioma que se constitui
adequado e est tia exata medida dos fatos particulares de que foi extrado,
se no os excede em amplitude e latitude, se confinnado com a designao
de novos fatos particulares que, por seu turno, iro servir como uma espcie
197
de garantia. Dessa forma, de um lado, ser evitado que se fique adstrito aos
fatos particulares j conhecidos; de outro, que se cinja s sombras ou formas
abstratas em lugar de coisas slidas e determinadas na sua matria. Quando
esse procedimento for colocado em uso, teremos um motivo a mais para fundar
as nossas esperanas. (Novum organum, I, afor. 106)
A induo , pois, um processo de eliminao, que nos permite separar
o fenmeno que buscamos conhecer e que se apresenta misturado com
outros fenmenos na natureza de tudo o que no faz parte dele. Esse
processo de eliminao envolve no s a observao, a contemplao do
fluxo natural dos fenmenos, como tambm a execuo de experincias em
larga escala, isto , a interferncia intencional na natureza e a avaliao dos
resultados dessa interferncia. Caberia ainda ao processo indutivo multiplicar
e diversificar as experincias, alterando as condies de sua realizao, re-
peti-las, ampli-las, aplicar os resultados; verificar as circunstncias em que
o fenmeno est presente, circunstncias em que est ausente e as possveis
variaes do fenmeno.
Esse ltimo ponto, alis, gerou a diviso que Bacon faz das experincias
em trs ndices: o ndice de presena, no qual seriam registradas todas as
condies sob as quais se produz o fenmeno que se busca entender; o ndice
de ausncia, que conteria as condies sob as quais o fenmeno estudado
no se verifica; e, finalmente, o ndice de graduao, contendo registros das
condies sob as quais o fenmeno varia.
A partir dessa proposta de Bacon, fica clara a diferena que existe entre
a induo conforme ele a define e aquela utilizada por Aristteles: esta ltima
se limita ao registro das condies em que se verifica o fenmeno cuja com-
preenso se busca e desconsidera as outras duas situaes mencionadas por
Bacon. Como diz Brhier (1977a),
fcil ver em que essa operao difere da induo de Aristteles, que se faz
por enumerao simples. Aristteles enumerava todos os casos em que deter-
minada circunstncia (...) acompanhava o fenmeno (...) cuja causa buscava.
Limitava-se apenas aos casos anotados por Bacon em seu ndice de presena:
a utilizao de experincias negativas , nesse domnio, a verdadeira descoberta
de Bacon. (pp. 40-41)
De acordo com esse mesmo autor, a induo indica-nos o que deve ser
excludo do fenmeno que estamos estudando; no nos indica, porm, em
que momento as excluses terminam, de forma que novos fatos poderiam
nos obrigar a novas excluses. O resultado da induo , portanto, provisrio.
Para se chegar a um resultado definitivo, Bacon prope o uso de "au-
xlios mais poderosos" razo, dentre os quais inclui os "fatos privilegiados"
ou "instncias prerrogativas", que se refeririam a fenmenos mais provveis
198
de esclarecer de forma definitiva o objeto de estudo. Bacon menciona uma
srie de 27 desses "fatos privilegiados". Entretanto, ainda segundo Brhier,
nenhum dos fatos mencionados garante a comprovao definitiva de uma
afirmao; eles apenas permitem constatar que ela no foi contraditada at
dado momento. S as negaes so comprovadas.
Com relao ao apelo a "fatos privilegiados" para a concluso defini-
tiva acerca de dado objeto de estudo,
embora com freqncia [Bacon] d a impresso de que no confia em que
sero coroadas de xito as investigaes que prope, ele nos faz acreditar que
a interpretao da natureza no a empresa desesperanada que as filosofias
anteriores quiseram fazer parecer. (Farrington, 1971, p. 131)
Tambm segundo Farrington, no que diz respeito possibilidade ou
no de se chegar verdade, problema que muito preocupava a filosofia,
Bacon considerava ser essa uma questo que teria de ser respondida na pr-
tica, comprovando-se e no apenas discutindo. Era, portanto, uma questo
pela qual se poderia terminar e no uma questo da qual se devesse partir.
Dessa forma, Bacon dava uma resposta histrica e no lgica ao problema
da verdade.
De outra parte, os antigos filsofos gregos, aqueles cujos escritos se perderam,
colocaram-se, muito prudentemente, entre a arrogncia de sobre tudo se poder
pronunciar e o desespero da acatalepsia . Verberando com indignadas queixas
as dificuldades da investigao e a obscuridade das coisas (...) perseveraram
em seus propsitos e no se afastaram da procura dos segredos da natureza.
Decidiram, assim parece, no debater a questo de se algo pode ser conhecido,
mas experiment-lo. (Novum organum, I, Prefcio)
3 Literalmente, incompreensibilidade; estado resultante do princpio ctico de dvida
possibilidade da verdade, Nova Academia, Arcesilau (316-241 a.C.) e seus discpulos.
199
CAPITULO 11
A DVIDA CO MO RECURSO E A GEO METRIA
CO MO MO DELO : REN DESCARTES (1596-1650)
E, notando que esta verdade: eu penso, logo existo, era to
firme e to certa que todas as mais extravagantes suposies
dos cticos no seriam capazes de a abalar, julguei que podia
aceit-la, sem escrpulo, como o primeiro
princpio da Filosofia que procurava.
Descartes
Sculo XVI: poca em que as antigas crenas e atitudes dominantes
na Idade Mdia encontram-se abaladas, incitando a construo de um corpo
de conhecimentos que soluciona a insatisfao frente as concepes geradas
no perodo precedente. Nessa perspectiva, o homem desse sculo parte em
busca de novas descobertas e revive o conhecimento da filosofia grega e
oriental. Toda essa atividade acaba por gerar, por um lado, novos conheci-
mentos acerca do mundo e, por outro, a incerteza em virtude da destruio
do antigo (destruio da unidade poltica, religiosa, das certezas da f e do
conhecimento). De acordo com Koyr (1986a), "(...) o homem sente-se per-
dido num mundo que se tornou incerto. Mundo onde nada seguro. E onde
tudo possvel" (p. 25), havendo, pois, um campo frtil para o desenvolvi-
mento do ceticismo em relao possibilidade do conhecimento cujo repre-
sentante principal Montaigne. Ainda segundo Koyr, nesse contexto que
surgem trs "sadas" para a busca de certezas: a f, a experincia e a razo,
posies defendidas, respectivamente, por Charron, Bacon e Descartes.
Ren Descartes, filho de conselheiro do rei no parlamento da Bretanha,
nasce em 1596 em La Haye, na Frana. Educado em um colgio jesuta, em
1618 ingressa na vida militar, servindo sob o comando de Maurcio de Nas-
sau; deixa a carreira militar em 1620. Parte para Estocolmo em 1649 a convite
da rainha Cristina da Sucia, que apreciava ter em sua presena sbios, es-
critores e artistas. Morre, poucos meses aps sua chegada, a 11 de fevereiro
de 1650.
Diferentemente do ceticismo identificado na poca, Descartes acredita
na possibilidade de conhecer e de chegar a verdades. Isso s possvel pela
recuperao da razo: por meio de recursos metodolgicos, prope a utiliza-
o adequada da razo, de forma a obter idias claras e distintas (verdades
indubitveis), ponto de partida para alcanar novas verdades tambm indu-
bitveis. crena na razo, Descartes chega por meio de um processo em
que, usando a dvida como procedimento metdico, estende-a a tudo o que
o cerca.
O caminho que Descartes percorre para chegar s primeiras verdades
evidentes, base de todo seu sistema, o que se segue: ao duvidar de tudo,
chega certeza de que um ser pensante, de que Deus existe, de que existem
o seu prprio corpo e os corpos dos quais tem sensaes.
Partindo da regra de que no se deve ter por certo nada que no seja
claro e distinto, Descartes passa a duvidar da existncia de todas as coisas,
particularmente do que proveniente dos sentidos. Essa dvida s no pode
atingir o prprio pensamento, cuja existncia fica evidente pelo fato de a
dvida ocorrer. "Penso, logo existo": Descartes chega aqui concluso de
que um ser pensante e, portanto, existe.
Passando a refletir sobre a dvida, percebe-a como uma imperfeio se
comparada ao conhecimento. Busca, ento, a origem da idia de perfeio
nele presente, superior a ele prprio, ser imperfeito, e conclui que deve advir
de algo perfeito, existente fora dele: Deus.
Para Descartes "(...) impossvel que a idia de Deus que em ns
existe no tenha o prprio Deus por causa" {Meditaes, Resumo).
da existncia de Deus que provm a fora das idias claras e distintas.
Deus esse que, sendo bom e perfeito, no permitiria que o homem se enga-
nasse acerca dessas idias. Se temos idias das coisas exteriores e de que
nos chegam por meio dos sentidos porque tanto nosso corpo quanto essas
coisas existem, tendo sido criados por Deus.
Apoiadas na existncia de Deus, as idias claras e distintas passam a
ser o critrio do conhecimento: justificam no s a possibilidade de conhecer
como tambm se constituem em ponto de partida para a busca de novas
certezas.
Assim, a primeira verdade indubitvel qual chega Descartes, e da
qual deriva outras, a da existncia do pensamento humano. Da decorre um
segundo princpio, o da existncia de Deus, obtido a partir da anlise de que
o homem, ser imperfeito, consegue ter a idia da perfeio.
Na existncia de Deus, Descartes fundamenta a possibilidade do co-
nhecimento verdadeiro, ao qual se chegaria por meio da razo. A concluso
da existncia de Deus no poderia apoiar-se em provas cosmolgicas, j que
202
estas deveriam ter por base a existncia do prprio mundo, certeza que no
considerava ser possvel aceitar ainda. Portanto, a aceitao da existncia de
Deus derivada da primeira verdade clara e distinta qual chegou: "Eu
penso, logo existo ".
A noo da existncia de Deus faz parte da metafsica, conhecimento
que deveria servir de suporte a todas as demais cincias que constituam o
que Descartes denominava a verdadeira filosofia. Para evidenciar como ima-
ginava a constituio da filosofia que daria ao homem o conhecimento de
todas as coisas necessrias vida, Descartes usa a imagem de uma rvore,
identificando a metafsica com as razes, a fsica com o tronco, e a mecnica,
a medicina e a moral com os galhos. Da instaurao dessa filosofia e do
desenvolvimento dessas reas de conhecimento resultariam, para o homem,
certezas acerca de como se conduzir na vida, como conservar a sade e como
proceder para desenvolver novas tcnicas.
A nfase que d razo no significa a opo por um conhecimento
contemplativo, mas sim por um mtodo nico para buscar verdades que fos-
sem principalmente teis ao homem, possibilitando o controle sobre o mundo.
E com esse objetivo que escreve suas obras e publica as concluses, acerca
do mundo fsico e do funcionamento do corpo humano, obtidas a partir de
seu mtodo.
O trecho a seguir, retirado do Discurso do mtodo, mostra que a noo
do conhecimento, como algo que possibilita o controle da natureza, est pre-
sente na obra de Descartes.
Pois elas [noes gerais relativas fsica] me fizeram ver que possvel
chegar a conhecimentos que sejam muito teis vida, e que, em vez dessa
filosofia especulativa que se ensina nas escolas, se pode encontrar uma outra
prtica, pela qual, conhecendo a fora e as aes do fogo, da gua, do ar,
dos astros dos cus e de todos os outros corpos que nos cercam, to distin-
tamente como conhecemos os diversos misteres de nossos artfices, poderamos
empreg-los da mesma maneira em todos os usos para os quais so prprios,
e assim nos tornar como que senliores e possuidores da natureza. (Discurso
do mtodo, VI) -,
Se a dvida foi o ponto de partida para que Descartes chegasse a esses
primeiros princpios do qual deriva sua filosofia, o modelo de raciocnio que
utilizou para chegar at eles foi o da matemtica, pelas certezas e evidncias
que possibilita. Descartes preocupa-se em descobrir verdades da mesma for-
ma que, na matemtica, pode-se identificar uma incgnita a partir da desco-
berta de relaes.
As regras metodolgicas de Descartes indicam o caminho que o indi-
vduo deve percorrer para chegar a verdades; nesse sentido, as regras cons-
203
tituem-se em "exerccio" do processo de descoberta que, segundo Brhier
(1977a), "(...) consistiria, antes de tudo, em levar o esprito posse de alguns
esquemas, que permitiriam saber, ante o problema novo, de quantas verdades
e de que verdades depende sua soluo" (p. 61).
As regras metodolgicas de Descartes evidenciam, por outro lado, a
necessidade de ordenao, que tambm est presente no raciocnio matem-
tico. De acordo com Koyr (1986a),
(...) esta a essncia do pensamento matemtico, desse pensamento para o
qual "razo" mais no significa que proporo ou relao; proporo ou relao
que, por si mesmas, estabelecem uma ordem, e por si mesmas se desenvolvem
em srie. E so as leis deste pensamento que as regras do Discurso nos ensinam,
pelo menos as trs ltimas (...). (p. 54)
Descartes enuncia quatro preceitos metodolgicos no Discurso do m-
todo:
O primeiro era o de jamais acollier alguma coisa como verdadeira que eu
no conhecesse evidentemente como tal; isto , de evitar cuidadosamente a
precipitao e a preveno, e de nada incluir em meus juzos que no se
apresentasse to clara e to distintamente a meu esprito, que eu no tivesse
nenhuma ocasio de p-la em dvida.
O segundo, o de dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em
tantas parcelas quantas possveis e quantas necessrias fossem para melhor
resolv-las.
O terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, comeando pelos
objetos mais simples e mais fceis de conhecer, para subir, pouco a pouco,
como por degraus, at o conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo
uma ordem entre os que no se precedem naturalmente uns aos outros. E o
ltimo, o de fazer em toda parte enumeraes to completas e revises to
gerais, que eu tivesse a certeza de nada omitir. (Segunda parte, pp. 45-46)
Assim, a nfase na dvida e no modelo matemtico de raciocnio re-
flete-se nas regras metodolgicas por ele propostas, meio pelo qual a razo
chegaria a certezas claras e distintas, evitando os erros; em outras palavras,
o mtodo o "mecanismo" que assegura o emprego adequado da razo nas
suas duas operaes intelectuais fundamentais: a intuio e a deduo.
A intuio consiste numa apreenso de evidncias indubitveis que no
so extradas da observao de dados por meio dos sentidos. Tais evidncias
so frutos do esprito humano, da razo, sobre as quais no paira qualquer
dvida.
A deduo consiste no processo por meio do qual se chega a conclu-
ses, a partir de certas verdades-princpios. As verdades (concluses) so
derivadas das verdades-princpios, estando a elas ligadas intrinsecamente. As-
204
sim, o principal aspecto da deduo a idia de que as verdades indubitveis
guardam entre si uma relao de necessidade, ou seja, uma decorre necessa-
riamente da outra.
As idias claras e distintas, aspecto central do pensamento cartesiano,
encontram-se ligadas noo de inato. Para Descartes, o conjunto de idias
claras e distintas a que chegou (a certeza da existncia de Deus, da alma que
pensa, da extenso corprea e das coisas exteriores), acrescido das idias
matemticas, existem no prprio indivduo. O inatismo das idias matemti-
cas fica evidente no seguinte trecho:
(...) quando percebemos pela primeira vez em nossa infncia uma figura trian-
gular traada sobre o papel, tal figura no nos pde ensinar como era neces-
srio conceber o tringulo geomtrico, posto que no representava melhor do
que um mal desenho representa uma imagem perfeita. Mas, na medida em que
a idia verdadeira do tringulo j estava em ns, e que nosso esprito
podia conceb-la mais facilmente do que afigura menos simples ou mais com-
posta de um tringulo pintado da decorre que, tendo visto esta figura
composta, no a tenhamos concebido ela prpria, mas antes o verdadeiro
tringulo (...). Assim, certamente, no poderamos jamais conhecer o tringulo
geomtrico atravs daquele que vemos traado sobre o papel, se nosso esprito
no recebesse a sua idia de outra parte. (Objees e Respostas, 543, p. 208)
A importncia que Descartes atribuiu" matemtica revela-se em dois
aspectos de seu pensamento: um deles, como j se viu, o fato de que adota
o raciocnio matemtico como modelo para chegar a novas verdades; o outro
aspecto o de que Descartes v o mundo de forma matematizada.
As noes matemticas esto presentes na concepo da matria - que
para ele extenso, isto , tem comprimento, largura, espessura; ao explicar
os fenmenos, Descartes no se detm, portanto, nas suas qualidades sens-
veis (cor, odor, som...), mas procura buscar sua essncia que, segundo sua
concepo, matemtica.
De acordo com Koyr (1986a):
exclui da cincia, recorde-se, tudo o que no era "idia clara", o que quer
dizer, para ele, qualquer idia "abstrata" do sensvel, qualquer idia com sua
marca. S claro, quer dizer, inteiramente acessvel ao esprito, aquilo que a
inteligncia concebe sem nenhum concurso da imaginao e dos sentidos. O
que, praticamente, quer dizer: s claro o que matemtico ou, pelo menos,
matematizvel. (p. 78)
Ao dizer "matemtico", Descartes tem como referncia a geometria, e isso
fica claro no s em seu conceito de matria - que vista como comprimento,
largura e espessura - como em sua concepo de movimento. Este , para
Descartes, exclusivamente geomtrico; no envolvendo a noo de tempo,
205
so consideradas apenas a trajetria, a direo e a posio. Sendo encarado
como translao no espao - passagem dos corpos de um lugar a outro -, o
movimento considerado como entrechoque de corpos, j que Descartes ad-
mite a diviso da matria e no aceita o espao vazio ou vcuo.
No havendo espao vazio no universo e sendo o movimento a passa-
gem dos corpos de um lugar a outro, medida que um corpo se choca com
outro, passa parte de seu movimento a este segundo. Conseqentemente, a
quantidade de movimento existente no universo, como um todo, fixa,
sempre a mesma, j que, quando um corpo perde certa quantidade de movi-
mento, esta transferida, em igual proporo, quele com o qual se choca.
Ao explicar os fenmenos pelas noes de extenso e movimento, e este
como entrechoque de corpos, Descartes apresenta uma viso mecnica de
mundo.
De acordo com Koyr (1986a), a noo aristotlica de mundo - um
universo finalista, hierarquizado, em que cada coisa tem sua funo e seu
lugar e onde a Terra o centro - destruda por Descartes, que pe em seu
lugar
(...) extenso sem limites e sem fim ou matria sem fim nem limites: para
Descartes, estritamente a mesma coisa. E movimento sem tom nem som,
movimentos sem finalidade nem fim. Deixa de haver lugares prprios para as
coisas: todos os lugares com efeito eqivalem perfeitamente; todas as coisas,
de resto, se eqivalem igualmente. So todas apenas matria e movimento. E
a terra j no est no centro do mundo. No h centro. No h "mundo". O
Universo no est ordenado para o homem: no est sequer "ordenado".
2
No
existe escala humana, existe escala do esprito. o mundo verdadeiro, no
o que os nossos sentidos infiis e enganadores nos mostram: aquele que
a razo pura e clara que no se pode enganar reencontra em si mesma,
(pp. 67-68)
A explicao mecnica do mundo vai ser identificada, no pensamento
de Descartes, no s em relao ao mundo fsico, como em relao a senti-
mentos do prprio homem. Por exemplo, na sua obra As paixes da alma,
Descartes descreve
o movimento do sangue e dos espritos do amor. (...) Essas observaes, e
muitas outras que seria demasiado longo relacionar, deram-me motivo para
1 Para Descartes, com efeito, a distino entre o espao e a matria que o encheria um
erro baseado na substituio da razo pela imaginao. A extenso cartesiana, geometria
retificada, , ao mesmo tempo, espao e matria.
2 A estrutura do mundo no implica qualquer finalidade e no se explica para um fim.
Resulta das leis matemticas do movimento.
206
julgar que, quando o entendimento se representa qualquer objeto de amor, a
impresso que tal pensamento efetua no crebro conduz os espritos animais,
pelos nervos do sexto par, aos msculos situados em torno dos intestinos e do
estmago, da forma requerida a levar o suco dos alimentos, que se converteu
em sangue novo, a passar prontamente ao corao sem se deter no fgado, e,
sendo a impelido com mais fora do que o em outras partes do corpo, a
entrar no corao com maior abundncia e excitar nele um calor maior por
ser mais grosso do que aquele que j foi rarefeito muitas vezes ao passar e
repassar pelo corao; o que o faz enviar tambm espritos ao crebro cujas
partes so mais grossas e mais agitadas que de ordinrio; e esses espritos,
fortalecendo a impresso que o primeiro pensamento do objeto amvel nele
ocasionou, obrigam a alma a deter-se nesse pensamento; e nisso que consiste
a paixo do amor. {As paixes da alma, art 102)
O mecanicismo de Descartes s no se estende ao pensamento, e a
explicao disso pode ser encontrada na distino que faz entre a alma e o
corpo humanos.
E, embora talvez (ou, antes, certamente, como direi logo mais) eu tenha um
corpo ao qual estou muito estreitamente conjugado, todavia, j que, de um
lado, tenho uma idia clara e distinta de mim mesmo, na medida em que sou
apenas uma coisa pensante e inextensa, e que de outro, tenho uma idia distinta
do corpo, na medida em que apenas uma coisa extensa e que no pensa,
certo que este eu, isto minha alma, pela qual eu sou o que sou, inteira e
verdadeiramente distinta do meu corpo e que ela pode ser ou existir sem ele.
{Meditao sexta, 17)
Como se pode observar, ao distinguir corpo e esprito, Descartes atribui
um valor diferente para cada um deles. Ao caracteriz-los, aponta que o corpo
humano se identifica com os demais corpos do universo: extenso, movi-
menta-se e pode ser explicado mecanicamente. J a alma ou esprito a
essncia do ser humano e, diferentemente dos outros corpos, inextensa e in-
divisvel. Ao descrever as funes de cada um desses elementos (corpo e alma),
Descartes afirma que certas experincias humanas se do devido unio
deles; o caso, por exemplo, das sensaes (luz, som, cheiro, gosto...), das
emoes (clera, alegria, amor...) e dos apetites (comer, beber). Assim, pela
participao do corpo nas emoes humanas (embora denomine-as paixes
da alma), que Descartes as descreve de forma mecnica, como se pode ob-
servar no exemplo apresentado envolvendo sua explicao do amor.
3 Embora utilize o termo "esprito", Descartes refere-se a partculas corpreas pequenas
que se movimentam rapidamente. (N. do A.)
207
alma cabe pensar, o que envolve entendimento (responsvel pelo
conhecimento) e vontade ( qual esto ligados o desejar, o negar, o duvidar).
alma que cabe, ento, a principal funo na produo de conhecimento:
desvendar o que as coisas so. A isto se chegar, segundo Descartes, por
meio da razo, nico elemento que, pelo mtodo cartesiano, capaz de chegar
a leis ou princpios gerais acerca das coisas. Dos princpios gerais pode-se,
ento, deduzir efeitos ou decorrncias, que se constituem em novos conhe-
cimentos, ou novas verdades claras e evidentes. Segundo Descartes, s pela
razo se poderia chegar a essas verdades porque os principais atributos da
matria (a extenso e o movimento) no podem ser percebidos pelos sentidos,
ao contrrio de propriedades que, para serem identificadas, precisam de sua
participao, como a cor, o som, etc. Assim, segundo Koyr (1986b), Des-
cartes, ao contrrio de Galileu, no se pergunta sobre como a natureza ou
se comporta, mas sim sobre qual o curso que a natureza deve seguir. Isso
revela sua postura quanto causalidade que entendida como a conexo
necessria entre fatos, em que um a razo da ocorrncia de outro. No
entanto, em vez de observar a natureza e partir em busca das causas dos
fenmenos com os dados de observao, assume que a elaborao de relaes
causais se dar por dedues racionais em que, partindo-se de princpios
gerais, se chegaria s suas decorrncias ou efeitos.
experincia (observao e experimentao) caberia, portanto, o papel
de confirmar as possveis "suposies" deduzidas dos princpios gerais. Alm
disso, tambm aos sentidos que cabe o conhecimento da existncia das
coisas, assim como o papel de "desempate", ou seja, dentre todos os efeitos
possveis de se deduzir das leis gerais da natureza, a experincia que auxilia
na verificao de quais os que efetivamente se realizam. Para Descartes, por-
tanto, a experincia acaba tendo de se subordinar razo, na medida em que
se restringe, praticamente, a uma funo comprobatria. A superioridade do
papel da razo em relao ao da experincia fica expressa em vrios trechos
de sua obra como no que se segue: "Pois , ao que me parece, somente ao
esprito, e no ao composto de esprito e corpo, que compete conhecer a
verdade (essncia e natureza) dessas coisas" {Meditao sexta, 27).
Se, por meio da razo, chegamos verdadeira essncia das coisas, se
o mtodo proposto propicia o uso adequado da razo no caminho da desco-
berta das idias claras e distintas, e se Deus bom e verdico, o que impri-
miria confiana a tais idias, como explicaria Descartes o erro, muitas vezes
cometido pelo homem?
do uso inadequado do mtodo ou mesmo do desprezo a seu uso que
decorre o engano. Este advm do prprio homem, quando no usa de forma
208
adequada as faculdades do esprito, expandindo a vontade alm dos limites
da compreenso. Sendo o entendimento finito e a vontade infinita, esta pode
ultrapassar os limites do conhecimento claro na busca precipitada da verdade,
acabando por fazer com que se assuma, como verdadeiras, noes ainda con-
fusas. Segundo Beyssade (1983), a partir dessa concepo nota-se que "()
a liberdade do homem intervm, aqui, com a possibilidade dum bom ou mau
uso. Procurando a causa do erro, Descartes desenvolve a sua concepo de
liberdade" (p. 45).
Quando se duvida j se est exercendo a liberdade, que pode ou no
recusar verdades claras e evidentes. Para que a vontade seja corretamente
exercida deve, portanto, submeter-se ao entendimento, caso contrrio incor-
re-se em erro. O entendimento como guia fornece o critrio que possibilita
distinguir o verdadeiro do falso e assim fazer uma escolha. A vontade, exis-
tente na alma humana, exercendo sua liberdade, que pode nos desvencilhar
do erro e nos levar a atingir a verdade.
Se em relao ao conhecimento do mundo Descartes prope que se
deva partir de certezas, no que se refere moral o mesmo no ocorre. Nesse
campo, em que em dado momento as certezas podem no ser possveis, Des-
cartes coloca a necessidade de partir de alguns preceitos, ainda que proviso-
riamente.
4
Estes deveriam nortear a ao do homem enquanto no se tivesse
constitudo a filosofia que esclarecesse tal ao. considerando a necessidade
de viver da melhor forma possvel que Descartes defende que, no que diz
respeito prtica da vida, no deve pairar a irresoluo, propondo, assim,
uma "moral provisria".
Como guia da ao moral humana, Descartes prope trs mximas. A
primeira consiste em pautar-se nas opinies mais moderadas dos mais sen-
satos entre os quais se vive, alm de seguir as leis e costumes do pas e
adotar "(...) a religio em que Deus me concedeu a graa de ser instrudo
desde a infncia" (Discurso do mtodo, Terceira parte). Na segunda, indica
que se deve agir com deciso, mesmo que diante de uma opinio duvidosa.
Considerando o fato de que a vida exige muitas vezes urgncia nas aes,
Descartes recomenda que: "(...) quando no est em nosso poder discernir
as opinies mais verdadeiras, devemos seguir as mais provveis" (idem).
Em relao a essas opinies provveis, Descartes coloca que, uma vez tendo
se decidido por elas, deve-se agir como se fossem verdadeiras. Na terceira,
4 Embora Descartes tenha proposto estas mximas inicialmente com um sentido provi-
srio, elas acabaram por ter um carter definitivo j que, apesar de retomar suas preocu-
paes sobre a moral, no final de sua vida, no as reformulou.
209
prope que no se deve desejar nada que a razo mostre ser impossvel obter,
modificando antes "(...) os meus desejos do que a ordem do mundo" (idem).
interessante perceber que, se em relao produo de conhecimento
Descartes apresenta uma posio de questionamento revelada na regra meto-
dolgica da dvida, em relao moral apresenta uma postura conformista.
Diz Descartes:
De resto, peo-vos aqui que lembreis de que, no tocante s coisas que a von-
tade pode abranger, sempre estabeleci grande disposio entre a prtica da
vida e a contemplao da verdade. Pois, no que concerne prtica da vida,
tanto faz que eu pense ser preciso seguir apenas as coisas que conhecemos
mui claramente, como, ao contrrio, que eu sustente que nem sempre se deve
contar com o mais verossmil, sendo preciso algumas vezes, entre muitas coisas
completamente desconhecidas e incertas, escolher uma e se lhe apegar, e em
seguida, crer nela no menos firmemente, enquanto no virmos razes em
contrrio, do que se a tivssemos escolhido por razes certas e mui evidentes,
como j expliquei no Discurso do mtodo. Mas, onde se trata to-somente da
contemplao da verdade, quem jamais negou que preciso suspender o jul-
gamento em relao s coisas obscuras e que no sejam assaz distintamente
conhecidas? {Objees e Respostas, p. 173)
Num plano semelhante encontram-se as verdades da f, que, como as
mximas morais, so separadas das opinies submetidas dvida. Em ambos
os campos, no entanto, no se elimina o papel da razo: na moral, a razo
justifica agir diante de uma possvel incerteza; na religio, a razo que nos
convence de que as verdades da f nos so reveladas por Deus.
210
CAPITULO 12
O MECANICISMO ESTENDE-SE
DO MUNDO AO PENSAMENTO :
THO MAS HO BBES (1588-1679)
A luz dos espritos so as palavras perspcuas, mas primeiro
limpas por meio de exatas definies e purgadas de toda a
ambigidade. A razo o passo, o aumento da cincia, o ca-
minho e o beneficio da humanidade o fim
Hobbes
Hobbes viveu na Inglaterra em um perodo marcado por uma srie de
disputas e conturbaes polticas causadas pelo embate das foras parlamen-
taristas, que propugnavam uma monarquia parlamentar, e das foras da no-
breza absolutista, que propugnavam o governo de um s homem com poderes
absolutos. Boa parte de sua obra e de sua vida esteve ligada a questes
envolvidas em tais disputas, das quais participou como pensador ativo que
defendia as idias absolutistas, o que lhe valeu revezes e perodos de exlio.
Ao lado das preocupaes polticas, Hobbes desenvolveu um vivo in-
teresse pela filosofia. Manteve contato com Francis Bacon (de quem foi se-
cretrio) e Galileu (a quem visitou), filsofos e cientistas que respeitava como
produtores de conhecimento e de quem assumiu alguns pressupostos; e com
Descartes (por meio de cartas e de amigos comuns) com quem manteve dis-
cordncias. Elaborou um sistema no qual o estudo da sociedade e as propostas
polticas associavam-se ao estudo e s propostas sobre o processo de produo
de conhecimento.
Hobbes acreditava que todos os seres eram corporais, que o corpo era
sujeito de toda ao e que todo corpo existia sempre em movimento. Afir-
mava que
Nenhum homem duvida da verdade da seguinte afirmao: quando uma coisa
est imvel, permanecer imvel para sempre, a menos que algo a agite. Mas
no to fcil aceitar esta outra, que quando uma coisa est em movimento,
permanecer eternamente em movimento, a menos que algo a pare, muito
embora a razo seja a mesma, a saber, que nada pode mudar por si s.
(Leviat, p. 11)
Com isso Hobbes, diferentemente de Descartes, queria dizer que o princpio
dos corpos era o movimento e no o repouso, e que estes apenas quando
pressionados por foras externas paravam. No entanto, isso colocava a ques-
to de como os corpos eram postos em movimento e a esse respeito afirmava
que
(...) aquele que de qualquer efeito que v ocorrer infira a causa prxima e
imediata desse efeito, e depois a causa dessa causa, e mergulhe profundamente
na investigao das causas, dever finalmente concluir que necessariamente
existe (como at os filsofos pagos confessavam) um primeiro motor. Isto ,
uma primeira e eterna causa de todas as coisas, que o que os homens
significam com o nome de Deus. {Leviat, p. 66)
A noo de movimento dos corpos abarcou, tambm, aqueles que apa-
rentemente se encontravam em repouso e, para Hobbes, os homens os supu-
nham parados porque
(...) avaliam, no apenas os outros homens, mas todas as outras coisas, por
si mesmos, e, porque depois do movimento se acham sujeitos dor e ao can-
sao, pensam que todo o resto se cansa do movimento e procura naturalmente
o repouso, sem meditarem se no consiste em qualquer outro movimento este
desejo de repouso que encontram em si prprios. (Leviat I, p. 11)
Assim, a noo de movimento estendeu-se para todos os corpos: aqueles que
tinham um movimento aparente, como os "corpos animados", e aqueles que
no tinham um movimento aparente, como os "corpos inanimados". Como
decorrncia dessa concepo, Hobbes passa a assumir que os corpos tinham
uma espcie de movimento, no perceptvel ao olho, que era "interno" a
eles.
Para explicar o movimento, Hobbes recorreu noo de esforo (co-
natus). Referindo-se ao papel que essa noo desempenhou no pensamento
de Hobbes, Brhier (1977a) afirma que:
(...) a noo mais importante para ele a de conatus ou esforo, que se refere
diretamente s suas preocupaes (...) define o conatus como o "movimento
que tem lugar atravs da longitude de um ponto do tempo". (...) no duvidoso
que tenha empregado de comeo, essa noo de conatus, para descrever os
movimentos do ser vivo: "Esse movimento, em que consistem prazer e dor
(...) uma solicitao ou provocao para aproximar-se do que agrada, ou
retirar-se do que desagrada. Tal solicitao o esforo (endeavour, conatus)
ou comeo interno do movimento animal". (...) E, generalizando tal noo,
admite que "o peso o agregado de todos os esforos pelos quais todos os
pontos de um corpo sustentado pelo prato de uma balana tendem para baixo",
(p. 135)
212
Para compreender o pensamento de Hobbes sobre o universo deve-se
necessariamente considerar as noes de corpo, corpo em movimento e de
movimento que envolve a ao de uma fora externa ao corpo; todas essas
noes foram bsicas para a construo de uma concepo mecanicista de
movimento. E, da mesma maneira que a noo de conatus explicava tanto
o movimento dos corpos inanimados como dos corpos animados, entre eles o
homem, a concepo de movimento mecnico tambm abrangia corpos ina-
nimados e animados, estendendo-se at a explicao do processo de conhe-
cimento humano.
O conhecimento era possvel porque, para Hobbes, os homens eram
capazes de ter sensao, imaginao e entendimento. O mecanismo pelo qual,
a partir das sensaes, chegava-se imaginao ou pensamento sobre os
objetos ou fenmenos aos quais estes se referiam, envolvia, na realidade,
processos, segundo Hobbes, comuns aos animais e ao homem como indivduo
e como espcie. Nesse sentido essas capacidades eram naturais espcie
humana e serviam de base a todo o conhecimento produzido pelo homem.
A sensao era, para Hobbes, um processo mecnico, baseado nas no-
es de movimento e de seres corporais. Nesse processo, os objetos sensveis
afetavam os rgos sensoriais de forma que se produzisse, nos seres vivos,
a sensao, que era algo que vinha do objeto, mas que no se confundia
com ele.
A causa da sensao o corpo exterior, ou objeto, que pressiona o rgo
prprio de cada sentido, ou de forma imediata, como no gosto e tato, ou de
forma mediata, como na vista, no ouvido, e no cheiro; a qual presso, pela
mediao dos nervos, e outras cordas e membranas do corpo, prolongada
para dentro em direo ao crebro e corao, causa ali uma resistncia, ou
contrapresso, ou esforo do corao, para se transmitir; cujo esforo, porque
para fora, parece ser de algum modo exterior. E a esta aparncia, ou iluso,
que os homens chamam sensao; e consiste, no que se refere viso, numa
luz, ou cor figurada,- em relao ao ouvido, num som, em relao ao olfato,
num cheiro, em relao lngua e paladar, num sabor, e, em relao ao resto
do corpo, em frio, calor, dureza, macieza, e outras qualidades, tantas quantas
discernimos pelo sentir. Todas estas qualidades denominadas sensveis esto
no objeto que as causa, mas so muitos os movimentos da matria que pres-
sionam nossos rgos de maneira diversa. Tambm em ns, que somos pres-
sionados, elas nada mais so do que movimentos diversos (pois o movimento
nada produz seno o movimento). (...) E do mesmo modo que pressionar, es-
fregar, ou bater nos olhos faz supor uma luz, e pressionar o ouvido produz
um som, tambm os corpos que vemos ou ouvimos produzem o mesmo efeito
pela sua ao forte, embora no observada Porque se essas cores e sons
estivessem nos corpos, ou objetos que os causam, no podiam ser separados
deles, como nos espelhos e nos ecos por reflexo vemos que eles so, nos
213
quais sabemos que a coisa que vemos est num lugar e a aparncia em outro.
E muito embora, a uma curta distncia, o prprio objeto ideal parece con-
fundido com a aparncia que produz em ns, mesmo assim o objeto uma
coisa, e a imagem ou iluso uma outra. De tal modo que, em todos os casos,
a sensao nada mais do que a iluso originria, causada (como disse) pela
presso, isto , pelo movimento das coisas exteriores nos nossos olhos, ouvidos
e outros rgos a isso determinados. (Leviat, pp. 9-10)
A imaginao ou pensamento referia-se ao processo que ocorria na
ausncia do objeto causador da sensao e, nesse sentido, dependia dela.
Quando um corpo est em movimento, move-se eternamente (a menos que algo
o impea), e seja o que for que o faa, no o pode extinguir totalmente num
s instante, mas apenas com o tempo e gradualmente, como vemos que acon-
tece com a gua, pois, muito embora o vento deixe de soprar as ondas con-
tinuam a rolar durante muito tempo ainda. O mesmo acontece naquele
movimento que se observa nas partes internas do homem, quando ele v, sonha
etc, pois aps a desapario do objeto, ou quando os olhos esto fechados,
conservamos ainda a imagem da coisa vista, embora mais obscura do que
quando a vemos. E a isto que os latinos chamam de imaginao, por causa
da imagem criada pela viso, e aplicam o mesmo termo, ainda que indevida-
mente, a todos os outros sentidos. Mas os gregos chamam-lhe fantasia, que
significa aparncia, e to adequado a um sentido como a outro. A imaginao
nada mais , portanto, seno uma sensao diminuda, e encontra-se nos ho-
mens, tal como em muitos outros seres vivos, quer estejam adormecidos, quer
estejam despertos. {Leviat, p. 11)
A descrio desses dois processos bsicos, dos quais dependeriam todo
o conhecimento humano, mostra como Hobbes estendeu a concepo de mo-
vimento mecnico ao conhecimento. Nos dois processos o movimento pro-
vocado por um agente externo (por exemplo, um objeto), que, atuando sobre
uma parte do organismo (por exemplo, os rgos do sentido), passa a produzir
uma srie de deslocamentos, sempre mantidos da mesma forma (por exemplo,
a presso por diversas vias chega ao crebro). Essa mesma concepo de
movimento sustentou, tambm, a descrio que Hobbes apresentou para as
denominadas cadeias de pensamentos ou imaginaes, momento seguinte do
processo de conhecer.
Por conseqncia, ou cadeia de pensamentos, entendo aquela sucesso de um
pensamento a outro, que se denomina (para se distinguir do discurso em pa-
lavras) discurso mental.
Quando o homem pensa seja no que for, o pensamento que se segue no
to fortuito como poderia parecer. No qualquer pensamento que se segue
indiferentemente a um pensamento. Mas, assim como no temos uma imagi-
nao da qual no tenhamos tido antes uma sensao, na sua totalidade ou
214
em parte, do mesmo modo no temos passagem de uma imaginao para outra
se no tivermos tido previamente o mesmo nas nossas sensaes. A razo disto
a seguinte: todas as iluses so movimentos dentro de ns, vestgios daqueles
que foram feitos na sensao; e aqueles movimentos que imediatamente se
sucedem uns aos outros na sensao continuam tambm juntos depois da sen-
sao. Assim, aparecendo novamente o primeiro e sendo predominante, o outro
segue-o, por coerncia da matria movida, maneira da gua sobre uma
mesa lisa, que, quando se empurra uma parte com o dedo, o resto segue
tambm. Mas porque na sensao de uma mesma coisa percebida ora se su-
cede uma coisa ora outra, acontece no tempo que ao imaginarmos alguma
coisa no h certeza do que imaginaremos em seguida. S temos a certeza de
que ser alguma coisa que antes, num ou noutro momento, se sucedeu quela.
(Leviat, p. 16)
Hobbes dividiu essas cadeias de pensamento em dois tipos: as cadeias
livres quando os pensamentos pareciam no ter uma direo determinada e
as cadeias reguladas quando os pensamentos eram regidos por uma finalidade.
Estas ltimas, por sua vez, dividiam-se em outros dois tipos:
(...) uma, quando a partir de um efeito imaginado, procuramos as causas, ou
meios que o produziram, e esta espcie comum ao homem e aos outros
animais; a outra quando, imaginando seja o que for, procuramos todos os
possveis efeitos que podem por essa coisa ser produzidos ou, por outras pa-
lavras, imaginamos o que podemos fazer com ela, quando a tivermos. Desta
espcie s tenho visto indcios no homem, pois se trata de uma curiosidade
pouco provvel na natureza de qualquer ser vivo que no tenha outra paixo
alm das sensuais, como por exemplo a fome, a sede, a lascvia e a clera.
{Leviat, p. 21)
Esse ltimo tipo de cadeia era condio para produo de conhecimento
cientfico, na medida em que possibilitava a previso. Entretanto, o conhe-
cimento cientfico no se resumia nem se contundia com as sensaes ou
com o pensamento ou imaginao, embora no pudesse deles prescindir. O
processo de produo de conhecimento cientfico era eminentemente um pro-
cesso lgico e racional, s possvel aos homens e, propriamente, comeava
no momento em que se encerrava o processo iniciado na sensao e terminado
na imaginao ou pensamento.
Antes, porm, de introduzir a discusso sobre o conhecimento cientfico
importante apontar o papel que Hobbes atribua linguagem, que para ele
era prpria do homem e requisito necessrio para a cincia.
O uso geral da linguagem consiste em passar nosso discurso mental para um
discurso verbal, ou a cadeia de nossos pensamentos para uma cadeia de pa-
lavras. E isto com duas utilidades, uma das quais consiste em registrar as
conseqncias de nossos pensamentos, os quais, podendo escapar de nossa
215
memria e levar-nos deste modo a um novo trabaltio, podem ser novamente
recordados por aquelas palavras com que foram marcados. De maneira que
a primeira utilizao dos nomes consiste em servirem de marcas, ou notas de
lembrana. Uma outra utilizao consiste em significar, quando muitos usam
as mesmas palavras (pela sua conexo e ordem), uns aos outros aquilo que
concebem, ou pensam de cada assunto, e tambm aquilo que desejam, temem,
ou aquilo por que experimentam alguma paixo. E devido a esta utilizao
so chamados sinais. (Leviat, p. 21)
Assim, para Hobbes, a linguagem ao mesmo tempo que absoluta-
mente necessria para o processo de produo de conhecimento, no deveria
passar de um instrumento para representar o pensamento. A caracterizao
que fazia da linguagem e o papel que atribua a ela na produo de conhe-
cimento tm lhe valido o adjetivo de nominalista
1
. Seu nominalismo ex-
plicitado na ntima relao que estabelecia entre linguagem e critrio de ver-
dade e entre linguagem e cincia. Para Hobbes,
(...) o verdadeiro e o falso so atributos da linguagem, e no das coisas. E
onde no houver linguagem, no h nem verdade nem falsidade. Pode haver
erro, como quando esperamos algo que no acontece, ou quando suspeitamos
algo que no aconteceu, mas em nenhum destes casos se pode acusar um
homem de inveracidade.
Vendo ento que a verdade consiste na adequada ordenao de nomes em
nossas afirmaes, um homem que procurar a verdade rigorosa deve lembrar-
se de que coisa substitui cada palavra de que se serve, e coloc-la de acordo
com isso; de outro modo ver-se- enredado em palavras; como uma ave em
varas enviscadas: quanto mais lutar, mais se fere. (...) na correta definio
de nomes reside o primeiro uso da linguagem, o qual consiste na aquisio
de cincia; e na incorreta definio, ou na ausncia de definies, reside o
1 Nominalismo e realismo so duas concepes filosficas opostas que permeiam dife-
rentes momentos da histria da filosofia; essas concepes referem-se questo da exis-
tncia do geral e do particular. Entre outros, so apontados como pensadores realistas
Parmnides, Plato, Aristteles e como nominalistas, os esticos, Guilherme de O ccam,
Hobbes. O debate nominalismo/realismo toma um maior destaque na Idade Mdia quando
a defesa do realismo, baseada em Plato e Aristteles, estava intimamente ligada defesa
do pensamento religioso. O realismo afirma que os fenmenos gerais tm existncia real.
Tais fenmenos teriam existncia autnoma, isto , independentemente dos fenmenos
particulares nos quais eles aparecem. O nominalismo defende que o que tem existncia
real e concreta so os fenmenos singulares. O fato de a nossa linguagem estar repleta de
termos, palavras gerais no significa que exista o fenmeno geral, nomeado pela palavra,
independentemente dos fenmenos particulares nos quais esse geral aparece. A concepo
de Hobbes sobre a linguagem o que mais diretamente o vincula a concepes nomina-
listas. A palavra no representa uma existncia concreta de algo do mundo. A linguagem
seria apenas uma maneira de expressar nossos pensamentos.
216
primeiro abuso, do qual resultam todas as doutrinas falsas e destitudas de
sentido (...). A sensao e a imaginao naturais no esto sujeitas a absurdos.
A natureza em si no pode errar; e medida que os homens vo adquirindo
uma abundncia de linguagem, vo-se tornando mais sbios ou mais loucos
do que habitualmente. {Leviat, p. 23)
Assim, percebe-se que, para Hobbes, o conhecimento cientfico depen-
dia das sensaes e da imaginao ou pensamentos, material sobre o qual se
construa o conhecimento. Dependia, tambm, da linguagem, instrumento ne-
cessrio para a representao desse material. Instrumento necessrio, mas no
suficiente, j que a cincia devia buscar explicaes, buscar descobrir as
relaes causais entre os fenmenos de forma que se pudesse saber como e
quando ocorreriam. Era pelo uso da razo que se chegava a tais relaes. O s
raciocnios compunham-se de nomes que eram associados para formar as
proposies, e de proposies que se ordenavam e que eram compostas como
se fossem operaes aritmticas, mas que, em ltima instncia, advinham das
sensaes, ou das impresses dos objetos sensveis nos homens.
Sobre o raciocnio, Hobbes afirmava:
Quando algum raciocina, nada mais faz do que conceber: uma soma total, a
partir da adio de parcelas, ou conceber um resto a partir da subtrao de
uma soma por outra; o que (se for feito com palavras) conceber da conse-
qncia dos nomes de todas as partes para o nome da totalidade, ou dos nomes
da totalidade e de uma parte, para o nome' da outra parte. {Leviat, p. 27)
Para Hobbes, essa concepo de raciocnio aplicava-se no apenas
lgica ou geometria, mas a todas as reas do conhecimento, incluindo a
reas como a poltica e o estabelecimento de leis. Para ele, sempre que o
objeto do conhecimento permitisse a "adio ou subtrao", permitiria a cin-
cia, porque o objeto poderia ser submetido razo. A razo fica reduzida,
em Hobbes, s operaes que possibilitam reproduzir o pensamento.
I
(...) podemos definir (isto , determinar) que coisa significada pela palavra
razo, quando a contamos entre as faculdades do esprito. Pois razo, neste
sentido, nada mais do que o clculo (isto , adio e subtrao) das conse-
qncias de nomes gerais estabelecidos para marcar e significar nossos pen-
samentos. Digo marcar quando calculamos para ns prprios, e significar
quando demonstramos ou aprovamos nossos clculos para os outros homens.
(Leviat, p. 27)
Parece assim que, para Hobbes, o conhecimento cientfico dependia de
processos que eram habilidades naturais espcie humana, mas no exclu-
sivos do homem, como a sensao e o pensamento, e de processos, como o
raciocnio e a linguagem, que eram possibilidades contidas apenas nos ho-
mens, mas que precisavam ser desenvolvidas. A cincia dependia, assim, de
217
todos esses elementos para constituir-se e a est, talvez, a razo pela qual
se atribuem a Hobbes os eptetos de empirista e de racionalista.
Associados aos processos de sensao e pensamento e de raciocnio e
linguagem, Hobbes distinguia dois tipos de conhecimento e afirmava:
Por aqui se v que a razo no nasce conosco como a sensao e a memria,
nem adquirida apenas pela experincia, como a prudncia, mas obtida com
esforo, primeiro atravs de uma adequada imposio de nomes, e em segundo
lugar atravs de um mtodo bom e ordenado de passar dos elementos, que
so nomes, a asseres feitas por conexo de um deles com o outro, e da
para os silogismos, que so as conexes de uma assero com outra, at
chegarmos a um conhecimento de todas as conseqncias de nomes referentes
ao assunto em questo, e a isto que os homens chamam cincia E enquanto
a sensao e a memria apenas so conhecimento de fato, o que uma coisa
passada e irrevogvel, a cincia o conhecimento das conseqncias e a
dependncia de um fato em relao a outro, pelo que, a partir daquilo que
presentemente sabemos fazer, sabemos como fazer qualquer outra coisa quan-
do quisermos, ou tambm, em outra ocasio. Porque quando vemos como
qualquer coisa acontece, devido a que causas, e por que maneira, quando
causas semelhantes vierem ao nosso poder, sabemos como faz-las produzir
os mesmos efeitos. (Leviat, p. 30)
Hobbes desenvolveu uma concepo de homem que estava associada
e que deu origem sua concepo poltica e s suas propostas sobre governo
e Estado. Dois aspectos marcam sua concepo: ao formular sua proposta
poltica procurou fundament-la filosoficamente e procurou argumentar a fa-
vor da necessidade de um Estado governado por um monarca absolutista e
laico. Isso lhe valeu o atributo de filsofo da poltica e o fez passar para a
histria como defensor, que era, do absolutismo como forma de organizar o
Estado.
Hobbes afirmava que no "estado natural" todos os homens seriam
iguais porque:
A natureza fez os homens to iguais, quanto as faculdades do corpo e do
espirito que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais
forte de corpo, ou de espirito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando
se considera tudo isto em conjunto, a diferena entre um e outro homem no
suficientemente considervel para que qualquer um possa com base nela
reclamar qualquer beneficio a que outro no possa tambm aspirar, tal como
ele. (...) Desta igualdade quanto capacidade deriva a igualdade quanto
esperana de atingirmos nossos fins. Portanto, se dois homens desejam a mes-
ma coisa, ao mesmo tempo que impossvel ela ser gozada por ambos, eles
tornam-se inimigos. E no caminho para seu fim (que principalmente sua
218
prpria conservao, e s vezes apenas seu deleite) esforam-se por se destruir
ou subjugar um ao outro. (Leviat, pp. 74-75)
O homem estava sujeito, segundo Hobbes, a trs grandes causas de
discrdias, poder-se-ia pens-las como trs caractersticas humanas dadas pela
natureza, as quais associava trs objetivos: a busca do lucro, a busca da
segurana e a busca da reputao eram as finalidades humanas bsicas s
quais se associavam a competio, a desconfiana e a glria. A busca desses
objetivos era responsvel pela guerra e destruio, que Hobbes suponha ine-
rentes ao homem vivendo em estado natural.
Com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem
sem um poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encon-
tram naquela condio a que se chama guerra; e uma guerra que de todos
os homens contra todos os homens. (Leviat, p. 75)
Havia, para Hobbes, duas leis fundamentais da natureza que eram a
garantia da sobrevivncia do homem. A primeira lei levava o homem a buscar
a paz por todos os meios que possusse, mesmo que esse meio fosse a guerra.
A segunda levava-o a abrir mo de todos os seus direitos desde que todos
os homens fizessem o mesmo. Era possvel abrir mo dos prprios direitos,
ou renunciando a eles (e ento pouco importava quem passasse a det-
los), ou transferindo-os para algum. Nesse caso, o homem obrigava-se a
manter esse direito, no anulando ou impedindo que esse se exercesse por
aquele que o recebera. A justia, a gratido, a complacncia, a piedade, a
eqidade eram tambm leis naturais que deviam ser respeitadas e que decor-
riam da transferncia de poder. A essa transferncia, que significava tambm
garantia de sobrevivncia e que se fazia, portanto, necessria ao homem,
Hobbes chamava "contrato social". O "contrato social" era visto, ento,
como a base da constituio do Estado:
Diz-se que um Estado foi institudo quando uma multido de homens concor-
dam e pactuam, cada um com cada um dos outros, que a qualquer homem ou
assemblia de homens a quem seja atribudo pela maioria o direito de repre-
sentar a pessoa de todos eles (ou seja, de ser seu representante), todos sem
exceo, tanto os que votaram a favor dele como os que votaram contra ele,
devero autorizar todos os atos e decises desse homem ou assemblia de
homens, tal como se fossem seus prprios atos e decises, a fim de viverem
em paz uns com os outros e serem protegidos dos restantes homens.
E desta instituio do Estado que derivam todos os direitos e faculdades da-
quele ou daqueles a quem o poder soberano conferido mediante o consen-
timento do povo reunido. {Leviat, p. 107)
E, embora pudesse pensar diferentes formas de organizao do Estado
e, assim, diferences maneiras de organizao do poder, Hobbes, como j se
219
afirmou, defendeu como sendo dentre elas a melhor (sem ser, no entanto, a
nica possvel) a monarquia absolutista. Esta no era, nem deveria ser, uma
monarquia de direito divino, e Hobbes posicionava-se contrariamente a toda
ingerncia da Igreja sobre o Estado, embora chegasse a fazer uso dos Evan-
gelhos para defender tal forma de organizao poltica. Para Hobbes, um
Estado poderia ser "institudo", quando uma multido, por meio de um pacto,
escolhia seu(s) governante(s), ou poderia ser "adquirido", pela fora. Em
qualquer dos casos, reconhecia a legitimidade do soberano e afirmava que
este possua os mesmos poderes.
(...) os direitos e conseqncias da soberania so os mesmos em ambos os
casos. Seu poder no pode, sem seu consentimento, ser transferido para ou-
trem; no pode alien-lo; no pode ser acusado de injria por qualquer de
seus sditos; no pode por eles ser punido. E juiz do que necessrio para
a paz, e juiz das doutrinas; o nico legislador, e supremo juiz das contro-
vrsias, assim como dos tempos e ocasies da guerra e da paz; a ele que
compete a escolha dos magistrados, conselheiros, comandantes, assim como
todos os outros funcionrios e ministros; ele quem determina as recompensas
e castigos, as honras e as ordens. (Leviat, p. 122)
O pensamento de Hobbes, ao mesmo tempo que guarda relaes com
outros pensadores de seu tempo, sem dvida, guarda relaes, tambm, com
as condies histricas em que viveu.
Bacon e Hobbes so pensadores que rompem com a vinculao entre
f e razo. Hobbes afirma que tudo material (corpo e alma), que tudo
mecnico, e estabelece a primazia da razo, esta tambm transformada em
puro mecanismo. E aqui se distancia de Descartes que considerava mecnico
e material apenas o corpo, atribuindo alma um estatuto imaterial indispensvel
produo de conhecimento. Entretanto, os trs pensadores aproximavam-se na
valorizao que emprestavam cincia como o caminho para transformao e
aprimoramento da vida humana. A noo de inrcia, aprendida de Galileu, per-
mitiu a Hobbes afirmar que tudo - conhecimento, homem, sociedade, natureza
- est submetido a leis mecnicas determinadas. A separao entre f e razo
lhe permitiu defender um Estado laico, sua viso determinista e mecanicista de
mundo lhe permitiu defender um Estado forte e absolutista.
As preocupaes de Hobbes com a poltica e as questes que aborda
so coerentes com a Inglaterra de seu tempo: um perodo de mudanas, que
exigia um Estado centralizado, capaz de criar as condies para desenvolver
o modo de produo nascente. O sistema econmico nascente, ao exigir um
novo modo de organizao poltica, necessitava, tambm, de uma nova jus-
tificativa para sua organizao. O pensamento de Hobbes, comprometido com
a nova ordem, no podia usar como justificativa o velho referencial da tra-
dio moral ou religiosa, substituiu-o, ento, pelo referencial filosfico.
220
CAPITULO 13
A EXPERINCIA CO MO FO NTE DAS IDIAS,
AS IDIAS CO MO FO NTE DO CO NHECIMENTO :
JO HN LO CKE (1632-1704)
No parecia pequena vantagem aos que pretendiam ser mes-
tres e professores consider-lo como princpio dos princpios
que - princpios no devem ser questionados. Uma vez esta-
belecida esta doutrina, isto , que h princpios inatos, situou
seus adeptos com a necessidade de receber certas doutrinas
sem discusso, desviando-os do uso de suas prprias razes
e julgamentos, e levando-os a acreditar e confiar nelas sem
exame posterior.
Locke
Suas principais obras filosficas foram publicadas j aps a metade de
sua vida e, talvez, pelo menos em parte, esse fato possa ser explicado por
sua participao ativa na vida poltica inglesa. Defendeu o liberalismo e a
monarquia parlamentarista, posies que podem estar relacionadas com sua
origem social burguesa.
No se pode estranhar seu ativo interesse e participao na vida pblica,
dado que esse foi um sculo no qual dificilmente poderia algum se eximir
de atuar e opinar sobre as muitas e srias questes polticas, econmicas e
religiosas que, ento, dividiam a Inglaterra. Foi um sculo marcado pela as-
censo da burguesia e por sua constante luta com a monarquia absolutista
na tentativa de construir um Estado e uma forma de organizao poltica que
atendessem a seus interesses. Locke foi, sem dvida, um dos mentores e
divulgadores do liberalismo, concepo filosfica que se associa aos interes-
ses burgueses.
Uma marca de seu pensamento filosfico foi a preocupao com o que
possibilitava e no que constitua o processo de produo de conhecimento -
o estudo do entendimento humano. Preocupao que parece vinculada a suas
idias polticas e conseqente tentativa de desvendar objetivamente os pro-
cessos envolvidos na vida pblica e, assim, ser capaz de criticar as noes
religiosas que, ento, justificavam no apenas o poder absoluto do rei, mas
tambm as perseguies e o fanatismo religioso.
Sua formao mdica, seu interesse pela pesquisa na rea, alm de seu
contato com homens como Boyle e Sydenham,
1
talvez sejam parcialmente
responsveis por sua vinculao ao empirismo - sua nfase na experincia
e nos dados sensveis.
Duas preocupaes centrais marcaram o trabalho de Locke: a negao
da existncia de idia e princpios inatos na mente ou esprito humano (o
que o levou a desenvolver uma teoria sobre o processo pelo qual se chega
a conhecer) e a justificao do liberalismo enquanto filosofia poltica e en-
quanto forma de governo, que tinha como base a noo de que a propriedade
era um direito inalienvel dos homens.
Locke afirmava que tudo que conhecemos, que todas as idias que
temos, eram formadas no esprito e que no eram inatas. Em defesa dessas
proposies, criticava os vrios argumentos que sustentavam o inatismo. Cri-
ticava primeiramente o argumento de que a concordncia universal seja prova
da existncia de princpios inatos, j que, segundo ele, para demonstrar a
ocorrncia de idias inatas, seria preciso demonstrar que tais idias eram
universais, o que poderia ser facilmente negado se se olhasse, por exemplo,
para as crianas que no tm qualquer desses princpios e s os adquirem
com o tempo, ou para outros povos que jamais desenvolveram idias como
a de Deus.
Locke criticava tambm o argumento de que essas idias s se revela-
vam pelo uso da razo, ou seja, que as idias inatas estariam impressas na
mente, mas s seriam reconhecidas quando se desenvolvesse a razo. Segun-
do Locke, esse argumento poderia ser rejeitado porque h manifestao do
uso da razo antes que se reconheam as idias inatas. Alm disso, se o uso
da razo fosse necessrio para o reconhecimento de uma idia inata no se
teria como distinguir uma idia inata de uma no inata (isto , no se teria
como distinguir as idias inatas das idias que so deduzidas a partir
delas), ou seria necessrio supor todas as idias como inatas. Argumentava
ainda que supor a existncia de idias inatas no reconhecidas at que se
fizesse uso da razo implicaria "() afirmar que os homens, ao mesmo tempo
as conhece e no as conhece" (Locke, Ensaio acerca do entendimento hu-
mano, I, I, 9).
1 Boyle, "(...) repudiando a teoria aristotlica dos quatro elementos (gua, ar, terra e
fogo), foi o primeiro a formular o moderno conceito de elementos qumicos"; Sydenham
"() revolucionou a medicina clnica, abandonando os dogmas de Galeno (130-200) e
outras hipteses especulativas e baseando o tratamento das doenas na observao emprica
dos pacientes" (Martins, C. E. e Monteiro, J. P., 1978, p. VII).
222
Finalmente contra o argumento de que se algumas idias eram eviden-
tes, claras e distintas para o homem, ento, eram inatas, afirmava que isso
apenas demonstrava que estas se referiam a experincias realmente existentes
nos homens, quando de sua relao com o mundo que os circundava - sua
capacidade de ter sensaes.
Ilustra a crtica de Locke aos princpios e idias inatas a argumentao
que desenvolveu para negar que os princpios "o que , " e " impossvel
para uma mesma coisa ser e no ser" so inatos.
"O que , " e, " impossvel para uma mesma coisa ser e no ser" no so
universalmente aceitas. Mas, o que pior, este argumento da anuncia uni-
versal, usado para provar princpios inatos, parece-me uma demonstrao de
que tal coisa no existe, porque no h nada passvel de receber de todos os
homens um assentimento universal. Comearei pelo argumento especulativo,
recorrendo a um dos mais gloriflcados princpios da demonstrao, ou seja,
qualquer coisa que , ' e " impossvel para a mesma coisa ser e no ser",
por julg-los, dentre todos, os que mais merecem o titulo de inatos. Esto,
ademais, a tal ponto com a reputao firmada de mximas universalmente
aceitas que, indubitavelmente, seria considerado estranho que algum tentasse
coloc-las em dvida. Apesar disso, tomo a liberdade para afirmar que estas
proposies se encontram bem distantes de receber um assentimento universal,
pois no so conhecidas por grande parte da humanidade. (...) evidente que
no s todas as crianas, como os idiotas, no possuem delas a menor apre-
enso ou pensamento. Esta falha suficiente para destruir o assentimento
universal que deve ser necessariamente concomitante com todas as verdades
inatas, parecendo-me quase uma contradio afirmar que h verdades impres-
sas na alma que no so percebidas ou entendidas, j que imprimir, se isto
significa algo, implica apenas fazer com que certas verdades sejam percebidas.
Supor algo impresso na mente sem que ela o perceba parece-me pouco inte-
ligvel. Se, portanto, as crianas e os idiotas possuem almas, possuem mentes,
dotadas destas impresses, devem inevitavelmente perceb-las, e necessaria-
mente conhecer e assentir com estas verdades; se, ao contrrio, no o fazem,
tem-se como evidente que essas impresses no existem. Se estas noes no
esto impressas naturalmente, como podem ser inatas? E se so noes im-
pressas, como podem ser desconhecidas? (...) Penso que ningum jamais negou
que a mente seria capaz de conhecer vrias verdades. Afirmo que a capacidade
inata, mas o conhecimento adquirido. (Locke, Ensaio acerca do entendimento
humano, I, I, 4 e 5)
Se o conhecimento era adquirido, tornava-se ento necessrio discutir
que processos permitiriam ao homem adquiri-lo.
O conhecimento era constitudo, para Locke, de idias e estas diziam
respeito ou a objetos externos ou a operaes internas da mente. As idias
derivavam da experincia, tanto interna como externa.
223
Todas as idias derivam da sensao ou reflexo. Suponhamos, pois, que a
mente , como dissemos, um papel branco, desprovida de todos os caracteres,
sem quaisquer idias; como ela ser suprida? De onde lhe provm este vasto
estoque, que a ativa e que a ilimitada fantasia do homem pintou nela com
uma variedade quase infinita? De onde apreende todos os materiais da razo
e do conhecimento? A isso respondo, numa palavra, da experincia. Todo o
nosso conhecimento est nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o pr-
prio conhecimento. Empregada tanto nos objetos sensveis externos como nas
operaes internas de nossas mentes, que so por ns mesmos percebidas e
refletidas, nossa observao supre nossos entendimentos com todos os mate-
riais do pensamento. Dessas duas fontes de conhecimento jorram todas as
nossas idias, ou as que possivelmente teremos. (Locke, Ensaio acerca do
entendimento humano, II, I, 2)
As idias que se constituam a partir dos objetos do mundo exterior ao
homem, Locke denominava idias de sensao.
O objeto da sensao uma fonte das idias. Primeiro, nossos sentidos, fami-
liarizados com os objetos sensveis particulares, levam para a mente vrias e
distintas percepes das coisas, segundo os vrios meios pelos quais aqueles
objetos os impressionaram. Recebemos, assim, as idias de amarelo, branco,
quente, frio, mole, duro, amargo, doce e todas as idias que denominamos de
qualidades sensveis. Quando digo que os sentidos levam para a mente, en-
tendo com isso que eles retiram dos objetos externos para a mente o que lhes
produziu estas percepes. A esta grande fonte da maioria de nossas idias,
bastante dependente de nossos sentidos, dos quais se encaminham para o en-
tendimento, denomino sensao. (Locke, Ensaio acerca do entendimento hu-
mano, II, I, 3)
As idias que diziam respeito s operaes da mente humana, Locke
d o nome de idias de reflexo.
As operaes de nossas mentes consistem na outra fonte de idias. Segundo,
a outra fonte pela qual a experincia supre o entendimento com idias a
percepo das operaes de nossa prpria mente, que se ocupa das idias
que j lhe pertencem. Tais operaes, quando a alma comea a refletir e a
considerar, suprem o entendimento com outra srie de idias que no poderia
ser obtida das coisas externas, tais como a percepo, o pensamento, o duvi-
dar, o crer, o raciocinar, o conhecer, o querer e todos os diferentes atos de
nossas prprias mentes. Tendo disso conscincia, observando esses atos em
ns mesmos, ns os incorporamos em nossos entendimentos como idias dis-
tintas, do mesmo modo que fazemos com os corpos que impressionam nossos
sentidos. Toda gente tem esta fonte de idias completamente em si mesma; e,
embora no a tenha sentido como relacionada com os objetos externos, pro-
vavelmente ela est e deve propriamente ser chamada de sentido interno. Mas,
224
como denomino a outra de sensao, denomino esta de reflexo: idias que
se do ao luxo de serem tais apenas quando a mente reflete acerca de suas
prprias operaes. (Locke, Ensaio acerca do entendimento humano, II, I, 4)
Pode-se concluir que, para Locke, esses dois tipos de idias eram as
nicas fontes de todo o entendimento humano; assim, o entendimento era,
em ltima instncia, referente a um mundo de coisas sensveis e de operaes
mentais que tinham existncia objetiva.
Locke tambm classificava as idias em simples e complexas. As idias
simples, fossem idias de sensao, idias de reflexo ou idias de sensao
e reflexo, eram, sempre, idias que a mente passivamente adquiria, a partir
de objetos a ela externos (mesmo que fossem suas operaes). Tais idias
eram claras e distintas. Era a partir de tais idias simples que a mente humana
(por meio de soma, de comparao, de relaes que nelas descobria) desen-
volvia outras idias - as idias complexas. Estas implicavam um trabalho
ativo do esprito humano, por meio do qual era possvel constituir novas
idias.
Para Locke, a caracterstica fundamental das idias simples que estas
no podiam ser formadas ou destrudas pela mente humana; enquanto as
idias complexas, embora formadas, em ltima instncia, de idias simples,
eram fruto de um ato voluntrio da mente humana.
Estas idias simples, os materiais de todo o nosso conhecimento, so sugeridas
ou fornecidas mente unicamente pelas duas vias acima mencionadas: sen-
sao e reflexo. Quando o entendimento j est abastecido de idias simples,
tem o poder para repetir, comparar e uni-las numa variedade quase infinita,
formando vontade novas idias complexas. Mas no tem o poder, mesmo o
esprito mais exaltado ou entendimento aumentado, mediante nenhuma rapidez
ou variedade do pensamento, de inventar ou formar uma nica nova idia
simples na mente, que no tenha sido recebida pelos meios antes mencionados;
nem pode qualquer fora do entendimento destruir as idias que l esto,
sendo o domnio do homem neste pequeno mundo de seu entendimento seme-
lhante ao do grande mundo das coisas visveis; donde seu poder, embora
manejado com arte e percia, no vai alm de compor e dividir os materiais
que esto ao alcance de sua mo; mas de nada pode quanto feitura da
menor partcula de nova matria, ou na destruio de um tomo do que j
existe. Semelhante inabilidade ser descoberta por quem tentar modelar em
seu entendimento alguma idia que no recebera atravs dos sentidos dos
objetos externos, ou mediante a reflexo das operaes de sua mente acerca
deles. Gostaria que algum tentasse imaginar um gosto que jamais impressio-
nou seu paladar, ou tentasse formar a idia de um aroma que nunca cheirou;
quando puder fazer isso, concluirei tambm que um cego tem idias das cores,
225
e um surdo noes reais dos diversos sons. (Locke, Ensaio acerca do enten-
dimento humano II, II, 2)
Mediante esta faculdade de repetir e unir suas idias, a mente revela grande
poder para variar e multiplicar os objetos de seus pensamentos de modo in-
finito e muito alm do que lhe foi fornecido pela sensao ou reflexo, embora
tudo isto continue limitado pelas idias simples recebidas daquelas duas fontes
e que constituem os materiais fundamentais para posteriores composies. (...)
Tendo, contudo, adquirido as idias simples, a mente deixa de se limitar pela
mera observao do que lhe oferecido externamente, passando, mediante seu
prprio poder, a reunir as idias que possui para formar idias complexas
originais, pois jamais foram recebidas assim unidas. (Locke, Ensaio acerca
do entendimento humano II, XII, 2)
Dessa forma, a distino estabelecida por Locke entre idias simples e
complexas evidencia a necessidade de se considerar o sujeito para se com-
preender o processo de produo de conhecimento. Entretanto, a presena do
sujeito no se esgota nos atos voluntrios que levam formao de idias
complexas. Para Locke, qualquer conhecimento do mundo exterior era de-
corrente desse mundo (das qualidades dos objetos e fenmenos que o com-
punham) e das caractersticas dos sentidos humanos ao apreender o mundo.
Tais caractersticas, ao mesmo tempo que permitiam o conhecimento, eram
limites do prprio conhecimento, j que, para Locke, no se podia afirmar
que o homem conhecia tudo que havia nos objetos, mas apenas aquilo que
seus sentidos (internos ou externos) lhe permitiam.
(...) se a humanidade tivesse sido feita apenas com quatro sentidos, as quali-
dades que constituiriam os objetos do quinto sentido ficariam to distantes da
nossa observao, imaginao e concepo, como deve estar no momento algo
pertencente ao sexto, stimo ou oitavo sentido. Consistir, porm, em indes-
culpvel presuno supor que tais sentidos no possam pertencer a outras
criaturas, situadas em outras partes deste vasto e estupendo universo. E, se o
homem no se assentar orgulhosamente no topo de todas as coisas, mas, pelo
contrrio, refletir acerca da imensido desta construo, e sobre a enorme
variedade manifestada nesta pequena e desprezvel poro que lhe acessvel,
deve ser levado a pensar em que em outras manses do universo existem
outros e diferentes seres inteligveis, de cujas faculdades ele tem to pouco
conhecimento ou apreenso quanto um verme preso na gaveta de uma escri-
vaninha tem dos sentidos ou entendimento de um homem '(...). (Locke, Ensaio
acerca do entendimento II, II, 3)
No s as caractersticas dos sentidos humanos levam a considerar o
sujeito. A distino que Locke estabelece entre as qualidade dos corpos con-
duz tambm a destacar o papel do sujeito no processo de produo de co-
nhecimento.
226
Locke afirma a existncia de trs tipos de qualidades nos corpos: as
qualidades primrias ou originais, as secundrias ou sensveis e os poderes.
Qualidades primrias dos corpos. Qualidades assim consideradas nos corpos
so, Primeiro aquelas que so inseparveis do corpo, em qualquer estado que
esteja; e tais que com todas as alteraes e mudanas que ele sofra, com toda
a fora que possa ser usada sobre ele, ele constantemente mantm (...). Tome
um gro de trigo, divida-o em duas partes; cada parte ainda tem solidez,
extenso, figura e mobilidade: divida-o de novo e ele ainda retm as mesmas
qualidades; e ento divida-o mais e mais, at que as partes se tornem insen-
sveis; elas devem reter ainda, cada uma todas essas qualidades (...). Estas
eu chamo qualidades originais ou primrias do corpo, que eu penso podemos
observar produzir idias simples em ns, a saber, solidez, extenso, figura,
movimento ou repouso, e nmero.
Qualidades secundrias dos corpos. Em segundo lugar, qualidades tais que na
verdade nada so nos prprios objetos a no ser o poder para produzir vrias
sensaes em ns por meio de suas qualidades primrias, isto , pela massa,
figura, textura, movimento de suas partes insensveis, como cores, sons, gostos
etc. Estas eu chamo de qualidades secundrias. A estas pode ser acrescentado
um terceiro tipo (...). (Locke, An essay concerning human understanding, II,
VIII, 9-10, em Hutchins, 1980)
Em terceiro lugar, o poder que de qualquer corpo, por conta da constituio
particular de suas qualidades primrias, de fazer uma tal mudana na massa,
figura, textura e movimento de um outro corpo, de modo a faz-lo operar em
nossos sentidos diferentemente do modo como o fazia antes. Assim o sol tem
um poder de fazer a cera branca, e o fogo de fazer o chumbo fluido. Estas
so usualmente chamadas poderes.
As primeiras delas, como foi dito, eu penso que podem ser adequadamente
chamadas de qualidades reais, originais, ou primrias; porque elas esto nas
prprias coisas, seja quando so percebidas ou no: e de suas diferentes
modificaes que dependem as qualidades secundrias.
As outras duas so apenas poderes de agir diferentemente sobre outras coisas:
poderes que resultam de diferentes modificaes destas qualidades primrias.
(Locke, An essay concerning human understanding II, VIII, 23, em Hutchins,
1980)
Deve-se destacar que, apesar de Locke afirmar qualidades primrias
que eram intrnsecas e inerentes aos corpos, considerava, tambm, como j
foi dito, que o conhecimento era, num certo sentido, limitado pelo aparato
sensorial de que dispunha o homem. a partir da, que se pode entender
Brhier (1977a), quando conclui que Locke tem menos confiana nas quali-
dades primeiras dos objetos do que autores como Descartes, ou seja, que
Locke, num certo sentido, desconfiaria de que as prprias qualidades prim-
rias fossem qualidades que poderiam ser assim percebidas em decorrncia
dos sentidos dos homens.
227
Apesar da desconfiana, ou melhor, da impossibilidade de se descobrir
a substncia da matria, e, portanto, apesar da impossibilidade de demonstrar
de maneira clara e distinta que esta existia, Locke defendia que no se podia,
por isso, afirmar a inexistncia da matria e conclua, assim, que o mundo
material existia. O mesmo raciocnio valia para o esprito:
(...) por ser evidente que, no havendo da matria outra idia ou noo exceto
a de algo em que as inmeras qualidades sensveis que afetam nossos sentidos
subsistem, e por supor uma substncia em que pensamento, conhecimento,
dvida, poder de movimento etc. subsistem, adquirimos uma noo to clara
da substncia do esprito como da do corpo. Uma suposta (sem saber o que
ela ) o substratum das idias simples derivadas do exterior, e a outra (com
a mesma ignorncia acerca do que ela ) o substratum destas operaes que
experienciamos dentro de ns mesmos. E claro, pois, que a idia de substncia
corporal na matria est to distante de nossas concepes e apreenses como
a da substncia espiritual, ou esprito; por conseguinte, por no termos ne-
nhuma noo de substncia do esprito, no podemos concluir pela sua no
existncia; do mesmo modo e por razo semelhante no podemos negar a
existncia do corpo, j que to racional afirmar que no existe corpo, porque
no possumos idia clara e distinta da substncia da matria, como afirmar
que no existe esprito, porque no temos idia clara e distinta da substncia
do esprito. (Locke, Ensaio acerca do entendimento humano, II, XXIII, 5)
V-se, portanto, que Locke afirmava a existncia do objeto do conhe-
cimento, quer seja a existncia de corpos exteriores ao homem, quer seja a
existncia da mente humana. Afirmava, ainda, a possibilidade de o homem
conhecer. Finalmente, o conhecimento tinha, para Locke, limites que eram
dados pelos sentidos que apreendem seus objetos (mundo exterior ou opera-
es da mente) e, pode-se dizer, que era limitado, tambm, pelo objeto, j
que toda e qualquer idia dele dependia.
Era a idia que estabelecia, para Locke, a relao entre o mundo real
e o conhecimento. O conhecimento, embora pudesse se referir a objetos do
mundo exterior, constitua-se basicamente de idias, tanto no sentido de que
seu produto se traduzia nelas como no sentido de que era delas que se com-
punha.
Parece-me, pois, que o conhecimento nada mais que a percepo da conexo
e acordo, ou desacordo e rejeio, de quaisquer de nossas idias. Apenas nisto
ele consiste. Onde se manifesta esta percepo M conhecimento, e onde ela
no se manifesta, embora possamos imaginar, adivinhar ou acreditar, nos en-
contramos distantes do conhecimento. De fato, quando sabemos que branco
no preto, o que fazemos alm de perceber que estas duas idias no con-
cordam? (Locke, Ensaio acerca do entendimento humano, IV, I, 2)
228
O acordo ou desacordo entre as idias podiam ser de quatro tipos:
identidade, relao, coexistncia e existncia real.
Suponho que estes quatro tipos de acordo ou desacordo contm todo o co-
nhecimento que possumos, ou de que somos capazes. J que todas as inves-
tigaes que podemos fazer a respeito de quaisquer de nossas idias, tudo o
que sabemos ou podemos afirmar a respeito de uma delas o que , ou no
, o mesmo com alguma outra; que isto coexiste ou nem sempre coexiste com
alguma outra idia no mesmo objeto; que isto tem estado ou aquela relao
com alguma outra idia; ou que isto tem uma existncia real fora da mente.
Assim, "azul no amarelo" identidade. "Dois tringulos sobre bases iguais
entre duas paralelas so iguais" relao. "Ferro suscetvel de impresses
magnticas" coexistncia. "Deus " existncia real. (Locke, Ensaio acerca
do entendimento humano, IV, I, 7)
A percepo do acordo ou desacordo entre as idias podia ocorrer, para
Locke, por trs vias: intuitiva, demonstrativa e sensitiva. O conhecimento
intuitivo seria obtido pela simples comparao entre idias e seria sempre
certo e imediato. O conhecimento demonstrativo exigiria o uso das idias
intermedirias para que se pudesse avaliar o acordo ou desacordo entre as
idias; tais idias intermedirias seriam as provas nas quais se fundamentaria
cada passo da demonstrao. O conhecimento demonstrativo seria, nesse sen-
tido, menos seguro que o intuitivo.
Finalmente, o conhecimento sensitivo seria obtido da percepo ime-
diata de um objeto particular, e seria seguro, mas consistiria apenas num
conhecimento particular.
0 conhecimento, como foi dito, baseando-se na percepo do acordo ou de-
sacordo de quaisquer de nossas idias, resulta disso que, primeiro, no pode-
mos ter conhecimento alm do que temos idias. (...) Segundo, que no
podemos ter nenhum conhecimento alm do que podemos ter percepo deste
acordo ou desacordo. Esta percepo sendo: 1. Seja pela intuio, seja pela
imediata comparao de quaisquer duas idias, ou 2. Pela razo, examinando
o acordo ou desacordo de duas idias, pela interveno de algumas outras;
ou 3. Pela sensao, percebendo a existncia de coisas particulares. (Locke,
Ensaio acerca do entendimento humano, IV, III, 1 e 2)
Portanto, para Locke, o conhecimento dependia sempre da clareza das
idias que o compunham. Entretanto, apesar de idias claras e distintas serem
condio necessria para a clareza do conhecimento, no eram condio su-
ficiente.
(...) nosso conhecimento consistindo na percepo do acordo ou desacordo de
duas idias quaisquer, sua clareza ou obscuridade consiste na clareza ou obs-
curidade desta percepo, e no na clareza ou obscuridade das prprias
229
idias; como, por exemplo, um homem que tem idias to claras dos ngulos
de um tringulo, e da igualdade de dois retos, como qualquer matemtico no
mundo, pode ainda ter apenas uma percepo muito obscura de seu acordo,
e deste modo ter um conhecimento muito obscuro dele. Mas idias que, por
causa de sua obscuridade ou por outro motivo, so confundidas no podem
ocasionar nenhum conhecimento claro e distinto, porque, na medida em que
quaisquer idias so confusas, a mente no pode igualmente perceber clara-
mente se concordam. Ou, para exprimir a mesma coisa de um modo menos
suscetvel ao equvoco: quem no tiver idias determinadas s palavras que
usa no pode formar proposies delas, de cuja verdade possa ter segurana.
(Locke, Ensaio acerca do entendimento humano, IV, II, 15)
O fato de Locke definir o conhecimento como relao entre idias co-
locava uma questo sobre a realidade do conhecimento, ou seja, colocava a
pergunta de quanto e se o conhecimento refletia o mundo real. o prprio
Locke quem responde:
E evidente que a mente no sabe as coisas imediatamente, mas apenas pela
interveno das idias que tem delas. Nosso conhecimento, portanto, revela-se
real apenas enquanto houver conformidade entre as nossas idias e a realidade
das coisas. (Locke, Ensaio acerca do entendimento humano, IV, IV, 3)
Colocava-se para Locke, a partir da, a questo de saber como a mente
percebia a concordncia das idias com as coisas. A essa pergunta respondia
que, no que concernia as idias simples, no poderia haver dvidas sobre tal
correspondncia, j que a mente no podia criar tais idias por si s. Para
responder essa questo, no que diz respeito as idias complexas, Locke passa
a considerar o conhecimento cientfico. Sua anlise culmina com a distino
entre dois tipos de cincia, as cincias demonstrativas e as cincias experi-
mentais.
Como foi visto, embora todo conhecimento fosse, em ltima instncia,
baseado em idias simples, consideradas representativas das coisas, e, neste
sentido, no fosse meramente imaginao ou fantasia, era tambm formado
de idias complexas. Tais idias eram formadas segundo um de dois proces-
sos: ou pelo pareamento constante com os objetos, na forma como existem
fora do esprito humano (na realidade), ou pela comparao entre idias;
comparao essa efetuada nas mentes dos homens e, portanto, sem neces-
sidade de pareamento com o mundo exterior. Nesse caso, as idias complexas
no dependiam diretamente da existncia externa dos fenmenos a que diziam
respeito, e a sua veracidade dependia nica e exclusivamente das relaes
estabelecidas entre elas. Enquanto, no primeiro caso, as idias complexas
dependiam das coisas tais como existiam, e a sua veracidade dependia, alm
230
da relao entre as idias, da relao entre as idias e as coisas s quais se
referiam.
Locke, a partir da, supunha que o conhecimento de cincias como as
matemticas e a moral era um conhecimento demonstrativo, no qual as re-
laes que eram estabelecidas (entre idias) no dependiam, para serem cor-
retas e seguras, da comparao com coisas externas mente.
No duvido que ser facilmente admitido que o nosso conhecimento das ver-
dades matemticas no apenas evidente, mas sim conhecimento real, e no
uma simples viso vazia de vs e insignificantes quimeras do crebro; no
obstante, se bem considerarmos, verificaremos que isto deriva apenas de nos-
sas prprias idias. O matemtico considera a verdade e propriedades per-
tencentes ao retngulo ou ao crculo apenas como esto na idia em sua
prpria mente. Pois possvel que jamais tenha descoberto qualquer uma
delas existindo matematicamente, isto , exatamente verdadeira, em sua vida.
Mas ainda o conhecimento que ele tem de quaisquer verdades ou propriedades
pertencentes a um crculo, ou a outra figura matemtica qualquer, , contudo,
verdadeiro e evidente, mesmo as coisas reais existindo. Porque as coisas reais
no se encontram mais relacionadas, nem destinadas para serem pensadas
por quaisquer destas proposies, do que as coisas que realmente concordam
com estes arqutipos em sua mente. verdadeiro para a idia de tringulo
que seus trs ngtdos sejam iguais a dois retos? Isto verdadeiro tambm
com respeito a um tringulo, seja onde for que realmente exista Por mais que
outra figura exista, no exatamente correspondente idia de um tringulo
em sua mente, no estando, em absoluto, relacionada com esta proposio.
E, portanto, est seguro que todo o seu conhecimento referente a tais idias
importa em conhecimento real. (...) E daqui decorre que o conhecimento moral
to capaz de certeza real como o matemtico. Com efeito, a certeza apenas
a percepo de acordo ou desacordo de nossas idias, e a demonstrao nada
mais que a percepo de tal acordo, pela interveno de outras idias ou
meios. Por conseguinte, nossas idias morais, como as matemticas, sendo
elas mesmas arqutipos, e idias to adequadas e completas, todo o acordo
ou desacordo que descobrirmos nelas produzir conhecimento real, do mesmo
modo que nas figuras matemticas. (Locke, Ensaio acerca do entendimento
humano, IV, IV, 6 e 7)
Por outro lado, supunha, tambm, o conhecimento das coisas externas
ao homem (que tinham existncia e substncia prpria). No entanto, essas
no eram completamente cognoscveis para o homem, e o seu conhecimento
sempre dependeria da relao entre idias, mas tambm do quanto essas subs-
tncias eram conhecidas e, nesse sentido, dependeria sempre das relaes que
era possvel estabelecer com as prprias coisas. Por isso, esse conhecimento
no era to certo e seguro como o anterior, mas, apenas, mais ou menos
231
provvel e, nesse caso, Locke estava possivelmente fazendo referncia s
cincias da natureza.
(...) h outro tipo de idias complexas que, sendo referidas a arqutipos ex-
ternos, podem diferir deles, e assim nosso conhecimento acerca deles pode
estar prximo de ser real. Tais so nossas idias de substncias que, consis-
tindo numa coleo de idias simples, supostamente tiradas dos trabalhos da
natureza, podem ainda variar delas por ter mais ou diferentes idias unidas
a elas do que se encontram nas prprias coisas. Por isso, sucede que elas
podem, e freqentemente o fazem, no se conformar exatamente s prprias
coisas. (...) A razo disto baseia-se no desconhecimento da constituio real
desta substncia da qual nossas idias simples dependem, constituindo real-
mente a causa da rigorosa unio de algumas delas entre si e da excluso de
outras, havendo pouqussimas nas quais podemos nos assegurar que so ou
no inconsistentes em natureza, alm do que a experincia e a observao
sensveis alcanam. Nisto, portanto, funda-se a realidade de nosso conheci-
mento a respeito das substncias: todas as nossas idias complexas delas de-
vem ser semelhantes, e somente delas, como so formadas das simples, como
se descobriu que coexistem na natureza. E nossas idias, sendo assim verda-
deiras, embora no talvez cpias muito exatas, so, no obstante, os objetos
reais do conhecimento na medida em que temos algum. Estas (como j foi
mostrado) no alcanam muito longe, mas, na medida em que o conseguirem,
continuaro ainda a ser conhecimento real. (Locke, Ensaio acerca do enten-
dimento humano, IV, IV, 11 e 12)
Ao lado dessas reflexes sobre o processo de produo de conhecimen-
to, era tambm preocupao de Locke a filosofia poltica. A propriedade, o
governo e a sociedade foram temas importantes para Locke, e a sua posio
com relao a esses temas implicava e decorria de uma determinada viso
de homem. Como Hobbes, Locke tambm partiu da noo de que o homem
tinha caractersticas naturais que lhe eram prprias enquanto espcie e uni-
versais a todos. Supunha que traos humanos bsicos eram a liberdade, a
igualdade e a racionalidade.
Para bem compreender o poder poltico e deriv-lo de sua origem, devemos
considerar em que estado todos os homens se acham naturalmente, sendo este
um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes as aes e regular-lhes as
posses e as pessoas conforme acharem convenientes, dentro dos limites da lei
da natureza, sem pedir permisso ou depender da vontade de qualquer outro
homem.
Estado tambm de igualdade, no qual recproco qualquer poder e jurisdio,
ningum tendo mais do que qualquer outro; nada havendo de mais evidente
que criaturas da mesma espcie e da mesma ordem, nascidas promiscuamente
a todas as mesmas vantagens da natureza e ao uso das mesmas faculdades,
232
tero tambm de ser iguais umas s outras sem subordinao ou sujeio; a
menos que o senhor de todas elas, mediante qualquer declarao manifesta
de sua vontade, colocasse uma acima de outra, conferindo-lhe, por indicao
evidente e clara, direito indubitvel ao domnio e soberania. (Locke, Segundo
tratado sobre o governo, II, 4)
Se os homens nasciam iguais, todos eles deviam ter direitos iguais, e
direitos que lhes assegurassem a sobrevivncia (o direito a se alimentar, se
vestir, etc.)- Tais direitos eram intimamente ligados noo de propriedade:
assim, tudo aquilo que assegurasse aos homens a satisfao de suas neces-
sidades bsicas devia ser apropriado por ele.
Deus, que deu o mundo aos homens em comum, tambm lhes deu a razo
para que a utilizassem para maior proveito da vida e da prpria convenincia.
Concedeu-se a terra e tudo quanto ela contm ao homem para sustento e
conforto da existncia. E embora todos os frutos que ela produz naturalmente
e todos os animais que alimenta pertenam Humanidade em comum, con-
forme produzidos pela mo espontnea da natureza; contudo, destinando-se
ao uso dos homens, deve haver necessariamente meio de apropri-los de certa
maneira antes de serem utilizados ou de se tornarem de qualquer modo be-
nficos a qualquer indivduo em particular. O fruto ou a caa que alimenta o
ndio selvagem, que no conhece divisas e ainda possuidor em comum, deve
ser dele e de tal maneira dele, isto , parte dele, que qualquer outro no possa
mais alegar qualquer direito queles alimentos, antes que lhe tragam qualquer
beneficio para sustentar-lhe a vida. (Locke, Segundo tratado sobre o governo,
V, 26)
Associada noo da criao do homem por Deus, estava a noo de
que o homem, para satisfazer suas necessidades, devia trabalhar. A partir da,
Locke estabeleceu o trabalho como um direito de todo homem, ao qual as-
sociava o direito propriedade da terra que era um instrumento de trabalho
necessrio.
Quando se olha para o momento histrico em que Locke estabeleceu
tais noes, duas consideraes merecem ser feitas. Em primeiro lugar o
imenso avano que significou a concepo de que o trabalho era um direito
humano, um direito de todos os homens. Em segundo lugar a relao dessa
concepo com um momento de transio para um novo modo ,de produo:
o capitalismo que exigiria uma ideologia do trabalho, na qual os homens
considerassem a venda da fora de trabalho como um direito e no como
uma explorao.
Sendo agora, contudo, a principal matria da propriedade no os frutos da
terra e os animais que sobre ela subsistem, mas a prpria terra, como aquilo
que abrange e comigo leva tudo o mais, penso ser evidente que a tambm a
233
propriedade se adquire como nos outros casos. A extenso de terra que um
homem lavra, planta, melliora, cultiva, cujos produtos usa, constitui a sua
propriedade. Pelo trabalho, por assim dizer, separa-a do comum. Nem lhe
invalidar o direito dizer que qualquer outro ter igual direito a essa extenso
de terra, no sendo possvel, portanto, aquele apropriar-se ou fech-la sem o
consentimento de todos os membros da comunidade - todos os homens. Deus,
ao dar o mundo em comum a todos os homens, ordenou-lhes tambm que
trabalhassem; e a penria da condio humana assim o exigia. Deus e a
prpria razo lhes ordenavam dominar a Terra, isto , melhor-la para be-
neficio da vida e nela dispor algo que lhes pertencesse, o prprio trabalho.
Aquele que, em obedincia a esta ordem de Deus, dominou, lavrou e semeou
parte da terra, anexou-lhe por esse meio algo que lhe pertencia, a que nenhum
outro tinha direito, nem podia, sem causar dano, tirar dele. (Locke, Segundo
tratado sobre o governo, V, 32)
Mais uma vez, como Hobbes, Locke assumia que o homem passava a
viver em sociedade a partir de seu estado natural. Ambos viam a pas-
sagem do estado natural sociedade como a garantia necessria dos direitos
naturais, e para ambos, essa passagem era feita por meio do contrato social.
No entanto, o tipo de governo ideal a ser estabelecido por esse contrato era
diferente para cada um deles. Enquanto Hobbes defendia a necessidade de
um governo forte e absoluto para manter a ordem entre os homens, garan-
tindo-lhes a sobrevivncia, Locke defendia um governo em que os homens,
pela sua participao, garantissem seus direitos.
Sendo os homens, conforme acima dissemos, por natureza, todos livres, iguais
e independentes, ningum pode ser expulso de sua propriedade e submetido
ao poder poltico de outrem sem dar consentimento. A maneira nica em vir-
tude da qual uma pessoa qualquer renuncia liberdade natural e se reveste
dos laos da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas e jun-
tar-se e unir-se em comunidade para viverem com segurana, conforto e paz
umas com as outras, gozando garantidamente das propriedades que tiveram
e desfrutando de maior proteo contra quem quer que no faa parte dela.
Qualquer nmero de homens pode faz-lo, porque no prejudica a liberdade
dos demais; ficam como estavam na liberdade do estado de natureza. Quando
qualquer nmero de homens consentiu desse modo em constituir uma comu-
nidade ou governo, ficam, de fato, a ela incorporados e formam um corpo
poltico no qual a maioria tem o direito de agir e resolver por todos.
Quando qualquer nmero de homens, pelo consentimento de cada indivduo,
constituiu uma comunidade, tornou, por isso mesmo, essa comunidade um cor-
po, com o poder de agir como um corpo, o que se d to-s pela vontade e
resoluo da maioria. Pois o que leva qualquer comunidade a agir sendo
somente o consentimento dos indivduos que a formam, e sendo necessrio ao
que um corpo para mover-se em um sentido, que se mova para o lado para
234
o qual o leva a fora maior, que o consentimento da maioria, se assim no
fosse, seria impossvel que agisse ou continuasse a ser um corpo, uma comu-
nidade, que a aquiescncia de todos os indivduos que se juntaram nela con-
cordou em que fosse; dessa sorte todos ficam obrigados pelo acordo
estabelecido pela maioria. E portanto, vemos que, nas assemblias que tm
poderes para agir mediante leis positivas, o ato da maioria considera-se como
sendo o ato de todos e, sem dvida, decide, como tendo o poder de todos pela
lei da natureza e da razo. (Locke, Segundo tratado sobre o governo, VIII,
95 e 96)
E, aprofundando a questo das razes pelas quais homens naturalmente
livres e soberanos renunciariam a esta liberdade para viver sob um contrato
social, Locke, mais uma vez, reafirma o direito propriedade, atribuindo
sociedade o carter de sua guardi.
Se o homem no estado de natureza to livre, conforme dissemos, se senhor
absoluto de sua prpria pessoa e posses, igual ao maior e a ningum sujeito,
por que abrir ele mo dessa liberdade, por que abandonar o seu imprio
e sujeitar-se- ao domnio e controle de qualquer outro poder? Ao que bvio
responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a fruio do
mesmo muito incerta e est constantemente exposta invaso de terceiros
porque, sendo todos reis tanto quanto ele, todo homem igual a ele, e na maior
parte pouco observadores da eqidade e da justia, a fruio da propriedade
que possui nesse estado muito insegura, muito arriscada. Estas circunstn-
cias obrigam-no a abandonar uma condio que, embora livre, est cheia de
temores e perigos constantes; e no sem razo que procura de boa vontade
juntar-se em sociedade com outros que esto j unidos, ou pretendem unir-se,
para a mtua conservao da vida, da liberdade e dos bens a que chamo de
"propriedade". (Locke, Segundo tratado sobre o governo, K, 123)
Desde que a reunio em sociedade tinha como objetivo primordial a
preservao da propriedade, ela deveria garantir um conjunto de condies
ausentes no estado de natureza. Assim, caberia comunidade de homens,
que se colocava sob um governo, prover aquilo que antes faltava.
(...) no estado de natureza: primeiro falta uma lei estabelecida, firmada, co-
nhecida, recebida e aceita mediante o consentimento comum (...) em segundo
lugar falta um juiz conhecido e indiferente com autoridade para resolver quais-
quer dissenes, de acordo com a lei estabelecida (...) em terceiro lugar (...)
falta, muitas vezes, poder que apoie e sustente a sentena quando justa, dando-llie
a devida execuo. (Locke, Segundo tratado sobre o governo, IX, 124, 125 e 126)
Assim fica claro que, para Locke, o governo dependia do assentimento
da maioria dos homens, e apenas regulamentava direitos que eram naturais
do homem, tanto o de liberdade quanto, e principalmente, o de propriedade.
235
Fica claro, tambm, por que no poderia ter concordado com a possibilidade
de que o governante tivesse direito divino, j que era um igual aos homens
que governava; ou com a possibilidade de que legislasse sobre as crenas e
religies humanas, j que seu poder era apenas temporal e, desde que as
religies no interferissem nos direitos universais dos homens, no caberia
a ningum decidir sobre as opes individuais de cada e qualquer homem.
Com suas concepes sobre poltica, Locke, de certa forma, torna-se o
arauto do liberalismo. Com sua defesa do homem livre como indivduo e,
ao mesmo tempo, atado por um contrato social que escolheu e que deve,
portanto, respeitar; com sua defesa da propriedade privada edo trabalho como
direitos dos homens; com sua defesa da igualdade, em princpio, de todos
os homens, Locke responde a uma de suas grandes preocupaes: a preocu-
pao com os problemas polticos de seu tempo.
Deve-se ressaltar que as preocupaes polticas e filosficas no cami-
nharam, em Locke, separadamente. Sua filosofia parece marcada pela busca
de soluo para problemas prticos. Talvez por isso sua filosofia nunca tenha
sido puramente especulativa. Mesmo quando se considera que um pensador
marcado por uma grande preocupao com o entendimento humano e com
quais seriam seus limites e possibilidades, Locke se afasta de uma metafsica
especulativa, quando busca nos dados da experincia e nos modelos cient-
ficos de seu tempo a resposta questo sobre o entendimento humano. a
partir da que nega a possibilidade de se conhecerem essncias, que afirma
as idias como decorrentes da experincia e, principalmente, que afirma a
experincia como dado essencial do entendimento humano, como ponto de
partida das idias e do conhecimento.
A experincia erigida, assim, em critrio e base do conhecimento.
Ao enfatizar dessa forma a experincia, Locke a um s tempo afasta-se do
cartesianismo e prepara a chamada filosofia crtica de Hume. Afasta-se do
racionalismo cartesiano e o nega por destronar a pura reflexo como critrio
de verdade e por introduzir em seu lugar, como critrio e fonte do conheci-
mento, a experincia do mundo sensvel e as idias que da decorrem; idias
que no so idias inatas. Prepara uma filosofia crtica e centrada no problema
do conhecimento ao anunciar a impossibilidade do conhecimento de verdades
essenciais, ao reduzir o conhecimento cientfico ao conhecimento dos fen-
menos pela via da percepo, e ao erigir a experincia em critrio de verdade
do conhecimento humano.
236
CAPITULO 14
O UNIVERSO INFINITO E SEU
MO VIMENTO MECNICO E UNIVERSAL:
ISAAC NEWTO N (1642-1727)
Mas at aqui no fui capaz de descobrir a causa dessas pro-
priedades da gravidade a partir dos fenmenos, e no cons-
truo nenhuma hiptese; pois tudo que no deduzido dos
fenmenos deve ser chamado uma hiptese; e as hipteses,
quer metafsicas ou fsicas, quer de qualidades ocultas ou me-
cnicas, no tm lugar na filosofia experimental.
Newton
No ano de 1642, em Woolsthorpe, nascia Newton, filho de um pequeno
proprietrio rural de Lincolnshire, Inglaterra. Estudou na Universidade de
Cambridge, doutorando-se em 1668; a trabalhou desde 1669, quando, com
26 anos, se tornou catedrtico, cargo que ocupou por 25 anos. Foi membro
do Parlamento ingls como representante de Cambridge, diretor da Casa Real
da Moeda; em 1699 foi eleito membro da Academia Francesa de Cincias e
ocupou a presidncia da Royal Society - de que era membro desde 1672 -
de 1703 at sua morte no ano de 1727, em Kensington.
Newton, com suas descobertas, contribuiu para o avano do conheci-
mento em diferentes reas: matemtica - com o clculo diferencial e integral
e o binmio que leva o seu nome; astronomia - mecnica celeste; ptica -
teoria corpuscular da luz e a demonstrao de que a luz branca composta
de luzes de muitas cores, cada uma com um ndice especfico de refrao;
mecnica - leis do movimento dos corpos. Inventou, tambm, um telescpio
de reflexo, no qual as estrelas eram vistas num espelho parablico e que
permitia superar limitaes do telescpio construdo com lentes. A amplitude
e fecundidade de suas realizaes colocam-no em lugar mpar na histria da
cincia.
A ampla repercusso de suas descobertas, de sua maneira de pensar no
mundo e, principalmente, de sua mecnica celeste pde ser percebida j no
incio do sculo XVIII. A genialidade de seus estudos foi reconhecida por
seus contemporneos. Em 1705 recebeu o ttulo de Cavaleiro do Reino, ou-
torgado pela rainha; o escritor ingls Alexandre Pope (1688-1744) dedicou-
lhe o verso que serviu de epitfio ao tmulo de Newton na abadia de
Westminster: "A Natureza e as suas leis escondiam-se na noite. Deus
disse: 'Faa-se Newton', e tudo fez-se luz".
1
O matemtico francs Joseph
Louis Lagrange (1736-1813) resume a admirao que Newton provocou afir-
mando que: s existe uma lei do universo e foi Newton quem a descobriu.
Em diversos pases, a filosofia cartesiana foi substituda pela de Newton,
tendo Voltaire, segundo Brhier (1977b), assinado 1730 como a data de seu
triunfo definitivo.
Uma das contribuies mais importantes de Newton e que imprimiu
uma marca no modo de fazer cincia a partir de ento foi a intensa relao
entre a matemtica e a experimentao. Burtt (1983), Bernal (1976b) e Bro-
nowski e Mazlich (1988) apontam Newton como herdeiro e propulsor desses
dois campos frteis da investigao, com a necessidade da matemtica sempre
se moldar experincia. Isso significava que quaisquer de suas especulaes
acerca da natureza deveriam ser transformadas em frmulas precisas e pas-
sveis de observao.
Burtt (1983) aponta a importncia das idias de Newton tanto para o
homem comum quanto para o estudioso. De um ponto de vista mais popular,
ele afetou o pensamento dos homens em geral ao conquistar o cu, na medida
em que props um sistema geral de mecnica que permitia explicar tanto o
comportamento da matria na Terra quanto os movimentos dos fenmenos
celestes. Do ponto de vista de
Um estudioso da histria da cincia fsica [ele] atribuir a Newton uma outra
importncia que o homem comum mal pode apreciar. Ele ver no gemo ingls
uma figura primordial na inveno de certos instrumentos cientficos neces-
srios a frteis evolues posteriores, tais como o clculo infinitesimal. Ele
encontrar em Newton a primeira formulao clara da unio entre os mtodos
experimental e matemtico, que se consubstanciou em todas as descobertas
subseqentes da cincia exata. Ele notar, em seu pensamento, a separao
entre as pesquisas cientficas positivas e as interrogaes a respeito da causa
ltima. E, mais importante, talvez, do ponto de vista do cientista mais exato,
Newton foi o homem que tomou termos vagos como fora e massa e deu-lhes
significados precisos como contnuos quantitativos, de tal modo que, atravs
de seu uso, os fenmenos principais da fsica tomaram-se redutveis ao trata-
mento matemtico, (p. 23)
1 Conforme Burtt (1983, p. 23).
238
A descoberta de um mtodo matemtico, o clculo infinitesimal
2
ou
das fluxes, que possibilitava converter princpios fsicos em resultados quan-
titativos, verificveis pela observao, e, reciprocamente, chegar aos princ-
pios fsicos a partir da observao, foi extremamente importante para as pro-
posies de Newton. Segundo Bernal (1976b),
Usando-o, possvel determinar a posio de um corpo em qualquer momento
dado, sabendo a relao entre essa posio e a sua velocidade ou mudana de
velocidade em qualquer momento outro dado. Por outras palavras: uma vez
conhecida a lei da fora, possvel calcular o caminho, (p. 482)
At a poca de Newton, o avano no conhecimento de como o cu se
comportava podia ser representado pelos pensamentos de Nicolau Coprnico
(1473-1543), Galileu Galilei (1564-1642) e Johannes Kepler (1571-1630).
Nicolau Coprnico, no princpio de sculo XVI, demonstrou os dois
movimentos que os planetas possuem sobre si mesmos e em torno do Sol e
questionou o dogma de ser a Terra o centro do Universo. Kepler, trabalhando
com os dados do astrnomo dinamarqus Tycho Brahe (1546-1601) e a partir
do sistema de Coprnico, descobriu trs leis do movimento dos planetas. De
modo geral as leis de Kepler propunham que: todos os planetas descrevem
uma rbita elptica, sendo o Sol um dos focos dessa elipse; os planetas per-
correm reas iguais em tempos iguais; e existe uma relao precisa
3
entre o
tamanho da rbita de um planeta e o perodo gasto por ele para completar
uma volta em torno do Sol.
O trabalho de Galileu avana na direo de estabelecer uma verdadeira
fsica moderna a partir de algumas descobertas e proposies fundamen-
tais. Como aponta Koyr (1982), Galileu admite que o movimento uma
entidade ou um estado to estvel e permanente quanto o estado de repouso;
a conseqncia disso que no h a necessidade de existir uma fora que
atue constantemente sobre qualquer mvel para explicar o seu movimento.
2 Existe uma controvrsia sobre quem teria inventado o clculo infinitesimal: Newton
ou Leibniz. Consta que ambos desenvolveram o mesmo mtodo separadamente. Porm,
segundo Brhier (1977a) e Bernal (1976b), Leibniz nunca usou seu clculo para exprimir
Leis da Natureza, e para Newton, pelo contrrio, o clculo era fundamental para essa
funo.
3 A terceira lei de Kepler diz que os quadrados dos perodos dos planetas (tempo para
completar uma rbita) so proporcionais ao cubo de suas distncias do Sol (P = a ), ou
seja, quanto mais distante o planeta do Sol, mais lentamente se move. Essa lei nos d,
precisamente, a quantidade de tempo necessria para qualquer planeta fazer sua rbita em
torno do Sol (por exemplo: Jpiter tem um perodo orbital de onze anos). Essa lei se
aplicou de forma correta para os planetas Urano, Netuno e Pluto, descobertos bem depois
da morte de Kepler.
239
Admite, ainda, a possibilidade de aplicar leis da geometria ao estudo e aos
movimentos dos corpos, regulares ou no. Ainda que Galileu no tenha enun-
ciado o princpio da Inrcia - fundamental para a compreenso dos fenme-
nos fsicos (o que ser feito por Newton na primeira lei expressa no livro
Princpios matemticos da Filosofia Natural, de 1687) -, os seus estudos
sobre a queda dos corpos produziram avanos significativos nessa direo.
Diz Galileu que o movimento livre de um corpo (sem que nenhuma fora
atue sobre ele) se d em linha reta e com velocidade uniforme.
Ainda que Galileu pudesse contar com vrios conhecimentos, ele no
chegou a admitir que as rbitas dos planetas pudessem ser do modo proposto
por Kepler. As proposies de Galileu e Kepler no se ajustavam, pois, de
acordo com as leis de Kepler, os planetas deveriam se mover segundo uma
elipse e, conforme Galileu, segundo crculos. Havia necessidade de explicar
qual a fora requerida para transformar os movimentos celestes em elpticos
ou circulares; essa fora deveria ser de tal natureza que explicasse, ainda, o
porqu de os planetas se comportarem tal qual a terceira lei de Kepler.
Newton demonstra que os planetas esto submetidos a dois movimen-
tos; um que inercial (ao longo de uma reta e com velocidade constante) e
outro que exige a participao de uma fora que o mantm na sua rbita.
Essa fora a da gravitao.
As leis do movimento, a definio da fora centrpeta bem como a lei
da gravitao universal, propostas por Newton, desvendam o movimento dos
corpos celestes e a queda de um corpo na superfcie da Terra, explicando as
controvrsias das teorias de Kepler e Galileu, assim como uma srie de fe-
nmenos da natureza. Esses conceitos so assim definidos por Newton:
Axiomas ou leis de movimento.
Lei I
Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme
em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por foras
impressas nele. (...)
Lei
A mudana do movimento proporcional fora motriz impressa, e se faz
segundo a linha reta pela qual se imprime essa fora. (...)
Lei III
A uma ao sempre se ope uma reao igual, ou seja, as aes de dois
corpos um sobre o outro sempre so iguais e se dirigem a partes contrrias.
(...). {Princpios , pp. 14-15)
4 O que aqui est sendo chamado de "Princpios" o livro Princpios matemticos da
filosofia natural de Newton, cuja primeira edio de 1687. (N. do A.)
240
Definio V
A fora centripeta aquela pela qual o corpo atrado ou impelido ou sofre
qualquer tendncia a algum ponto como a um centro.
Assim a gravidade, pela qual o corpo tende ao centro da Terra, a fora
magntica, pela qual o ferro tende ao centro do im, e aquela fora seja qual
for, pela qual os planetas so continuamente afastados dos movimentos reti-
lneos, obrigados a seguir linhas curvas. {Princpios, p. 6)
A lei da gravitao universal pode ser assim enunciada: matria atrai
matria na razo direta do produto de suas massas e na razo inversa do
quadrado das distncias entre elas.
Essas proposies de Newton, observveis e que podem levar a previ-
ses e descobertas, explicavam fenmenos naturais de quaisquer espcies,
sendo, portanto, universais. Brhier (1977b) esclarece que
(...) segundo uma mesma lei que os corpos pesados so atrados para o centro
da Terra, que as massas lquidas dos mares so atradas para a Lua por ao
das mars, que a Luz atrada para a Terra bem como os planetas para o
Sol. A prova de tal identidade da lei repousa unicamente em medidas experi-
mentais, (p. 13)
Com as leis de movimento e, principalmente, da gravitao universal,
Newton no achava ter chegado causa dos fenmenos. Para ele "(...)
suficiente que a gravidade realmente exista, aja de acordo com as leis que
explicamos e que sirva abundantemente para considerar todos os movimentos
dos corpos celestiais e de nosso mar" {Princpios, p. 22) e acrescenta que
devemos primeiro entender bem o fenmeno, olhando a Natureza, para tentar
explicar depois suas causas.
Pois bem sabido que os corpos agem uns sobre os outros pelas atuaes da
gravidade, magnetismo e eletricidade; e estas instncias mostram o contedo
e curso da Natureza, e no tornam improvvel que possam existir outros po-
deres atrativos alm destes. Pois a Natureza constante e conforme a si mes-
ma. Como estas atraes podem ser efetuadas eu no considero aqui. O que
eu chamo de atrao pode ser efetuado por impulso ou por alguns outros
meios desconhecidos para mim. Uso aqui aquela palavra somente para signi-
ficar em geral qualquer fora atravs da qual os corpos tendem um para o
outro, qualquer que seja a causa. Pois devemos aprender dos fenmenos da
Natureza quais corpos se atraem entre si e quais so as leis e propriedades
da atrao, antes de investigar a causa pela qual a atrao efetuada. {ptica,
p. 43)
5 Por exemplo: as mars muito altas ocorrem nos perodos de lua nova e cheia e as
baixas mars nos perodos de quarto-crescente e quarto-minguante. (N. do A.)
241
A noo de movimento, para Newton, quer seja inercial, acelerado ou
gravitacional, requer a existncia de um vcuo real para estar correta. Mesmo
quando, no espao, existe matria, Newton cr num ter - gs extremamente
rarefeito, cuja rarefao ao infinito igual ao vcuo - que no enche com-
pletamente o espao fsico. Um exemplo da existncia desse ter rarefeito ao
infinito (vcuo) a trajetria livre dos cometas que assim ocorre por se
movimentarem onde no h resistncia e, portanto, onde no existe matria.
Nesse aspecto, Newton contrrio a Descartes que prope o espao com-
pletamente cheio. Na sua obra ptica, Newton explica:
(...) para dar lugar aos movimentos regular es e duradouros dos planetas e
cometas necessrio esvaziar os cus de toda a matria, exceto talvez alguns
vapores, exalaes ou ejlvios muito sutis, que se originam das atmosferas da
Terra, planetas e cometas e de tal meio etreo extremamente rarefeito (...).
Um fluido denso pode ser intil para explicar os fenmenos da Natureza, sendo
os movimentos dos planetas e cometas explicados melhor sem ele. Serve so-
mente para perturbar e retardar os movimentos daqueles grandes corpos, e
faz definhar a estrutura da Natureza; e nos poros dos corpos serve somente
para parar os movimentos vibratrios, nos quais o calor e atividade do corpo
consistem. E como ele no tem nenhuma utilidade e impede as operaes da
Natureza, e a faz se definhar, ento no existe nenhuma evidncia de sua
existncia; e, portanto, deve ser rejeitado. {ptica, p. 39)
A noo de vcuo concorre, tambm, para o entendimento do que
matria. Newton atomista e, segundo Ciarke
6
, seu discpulo, se desejarmos
ligar o atomismo filosofia matemtica ser necessrio supor que a matria
tenha uma s natureza, e sempre podemos supor que suas partes tenham a
mesma dimenso e a mesma forma (diferentes formas so devidas s dife-
rentes disposies de suas partculas). A matria possui, assim, uma estrutura
essencialmente granular, ou seja, partculas duras e indivisveis submetidas
constantemente ao de todo um sistema de foras no materiais de ao
e repulso. Quanto s propriedades essenciais da matria, Koyr (1979) sin-
tetizou da seguinte forma: as propriedades essenciais da matria atribudas
por Newton
(...) so quase as mesmas listadas por Henry More, pelos velhos atomistas e
pelos modernos partidrios da filosofia corpuscular: extenso, dureza, impene-
trabilidade, mobilidade. A estas Newton acrescenta - um acrscimo da maior
importncia - a inrcia, no sentido novo da palavra, (p. 165)
6 Samuel Ciarke (1675-1729) era amigo de Newton e trocou uma vasta correspondncia
com Leibniz, defendendo as teorias newtonianas de ataques deste.
242
Newton nos d critrios para determinar se uma propriedade ou no
essencial matria.
As qualidades corporais que no admitem intensificao nem remisso de
graus, e que se verificam dentro da nossa experincia, como pertencentes a
todos os corpos, devem ser julgadas qualidades universais de todos e quaisquer
corpos. (Princpios, Livro III, Hiptese III, p. 18)
Aqui se estabelece uma controvrsia em relao a ser a atrao mtua
propriedade essencial ou no da matria. Koyr (1979) cita os Princpios
para mostrar Newton propondo que a gravitao universal, embora melhor
fundamentada empiricamente do que a impenetrabilidade, poderia no ser
uma propriedade essencial dos corpos, j que uma medida que sofre alte-
rao.
Por fim, como se demonstra universalmente, por experincias e observaes
astronmicas, que todos os corpos que esto prximos da Terra gravitam em
direo Terra, segundo a quantidade da matria que contm; que da mesma
forma a Lua, segundo a quantidade de sua matria, gravita em direo Terra;
que, por outro lado, nosso mar gravita em direo Lua; e que todos os
planetas gravitam uns em direo aos outros; e que os cometas, igualmente,
gravitam em direo ao Sol, devemos, em conseqncia desta regra, concluir
que todos os corpos so dotados de um princpio de gravitao mtua. E esse
argumento em favor da gravitao universal dos corpos, calcado nos fenme-
nos, ser mais forte que o argumento pelo qual conclumos por sua impene-
trabilidade, pois no temos nenhuma experincia, nem nenhuma observao
que nos assegure que os corpos celestes sejam impenetrveis. No que eu
afirme que a gravidade seja essencial aos corpos; pela vis insita no entendo
outra coisa seno sua inrcia, que imutvel. A gravidade desses corpos di-
minui medida que se afastam da Terra. (p. 167)
Em relao a esse aspecto, Brhier (1977b) comenta que
E ento lcito e indispensvel atribuir matria a atrao, cujos coeficientes
so os mesmos, segundo demonstrou Newton, quaisquer que sejam os corpos
considerados. (...) A atrao , portanto, para os newtonianos, propriedade in-
contestvel da matria, ainda que no se possa dar conta disso. (p. 14)
O utra anlise de Newton sobre a matria e sua forma de atrao a
prpria formulao da lei da gravitao universal. Ele no acreditava que a
ao de um corpo sobre outro pudesse se dar distncia, ou seja, quanto
mais distante um corpo do outro, menor a fora de atrao mtua exercida.
Em relao, ainda, a esse aspecto, as teorias newtonianas no colocam a que
tipo de fora, material ou no-material, os fenmenos gravitacionais estavam
submetidos.
243
J foi apontada uma diferena entre o pensamento de Newton e o de
Descartes (a existncia ou no de vcuo). Uma outra diferena importante
reside na explicao a respeito do movimento do mundo. Para Descartes, a
quantidade de movimento no mundo constante devido ao deslocamento de
corpos por entrechoques; para Newton, a quantidade de movimento no
constante, pela prpria inrcia e gravitao universal.
E assim a natureza ser muito conforme a si mesma e muito simples, efetuando
todos os grandes movimentos dos corpos celestes pela atrao da gravidade
que intercede esses corpos, e quase todos os movimentos pequenos de suas
partculas por alguns outros poderes atrativos e repulsivos que intercedem as
partculas. A vis inertiae um princpio passivo segundo o qual os corpos
persistem em seu movimento ou repousam, recebem movimento em proporo
fora que o imprime, e resistem tanto quanto eles so resistidos. Por este
principio isolado nunca poderia ter existido qualquer movimento no mundo.
Algum outro princpio foi necessrio para colocar os corpos em movimento;
e agora que eles esto em movimento, algum outro princpio necessrio para
conservar o movimento. Pois das vrias composies de dois movimentos,
muito certo que no existe sempre a mesma quantidade de movimento no mun-
do (...) o movimento muito mais apto a ser perdido do que apreendido, e
est sempre pronto a degenerar. {ptica, p. 53)
A maneira de Isaac Newton compreender o mundo s ser entendida
melhor se forem apreendidos os seus conceitos de tempo e de espao abso-
luto. Escreve Newton no Esclio dos Princpios:
At aqui s me pareceu ter que explicar os termos menos conhecidos, mos-
trando em que sentido devem ser tomados na continuao deste livro. Deixei,
portanto, de definir, como conhecidssimos de todos, o tempo, o espao, o
lugar e o movimento. Direi, contudo, apenas que o vulgo no concebe essas
quantidades seno pela relao com as coisas sensveis. da que nascem
' certos prejuzos, para cuja remoo convm distinguir as mesmas entre abso-
has e relativas, verdadeiras e aparentes, matemticas e vulgares.
I. O tempo absoluto, verdadeiro e matemtico, flui sempre igual por si mesmo
e por sua natureza, sem relao com qualquer coisa externa, chamando-se
com outro nome "durao"; o tempo relativo, aparente e vulgar certa me-
dida sensvel e externa de durao por meio do movimento (seja exata, seja
desigual), a qual vulgarmente se usa em vez do tempo verdadeiro, como so
a hora, o dia, o ms, o ano.
II. O espao absoluto, por sua natureza, sem nenhuma relao com algo ex-
terno, permanece sempre semelhante e imvel; o relativo certa medida ou
dimenso mvel desse espao, a qual nossos sentidos definem por sua situao
relativamente aos corpos, e que a plebe emprega em vez do espao imvel,
como a dimenso do espao subteirneo, areo ou celeste definida por sua
situao relativamente Terra. Na figura e na grandeza, o tempo absoluto e
244
o relativo so a mesma coisa, mas no permanecem sempre numericamente o
mesmo. Assim, por exemplo, se a Tetra se move, um espao do nosso ar que
permanece sempre o mesmo relativamente, e com respeito terra, ora ser
uma parte do espao absoluto no qual passa o ar, ora outra parte, e nesse
sentido mudar-se- sempre absolutamente.
III. O lugar uma parte do espao que um corpo ocupa, e, com relao ao
espao, absoluto ou relativo. Digo uma parte do espao, e no a situao
do corpo ou a superfcie ambiente. Com efeito, os lugares dos slidos iguais
so sempre iguais, mas as superfcies so quase sempre desiguais, por causa
da dessemelhana das figuras; as situaes, porm, no tm, propriamente
falando, quatttidade, sendo antes afeces dos lugares que os prprios lugares.
O movimento do todo o mesmo que a soma dos movimentos das partes, ou
seja, a translao do todo que sai de seu lugar a mesma que a soma da
translao das partes que saem de seus lugares, e por isso o lugar do todo
o mesmo que a soma dos lugares das partes, sendo, por conseguinte, interno
e achando-se no corpo todo.
IV. O movimento absoluto a translao de um corpo e um lugar absoluto
para outro absoluto, ao passo que o relativo a translao de um lugar
relativo para outro relativo. (Princpios, pp. 8-9)
O que se poderia extrair dessa introduo discusso de tempo e de
espao absoluto, segundo anlise que Koyr (1979) tambm faz, o que se
segue: o tempo e o espao absolutos e matemticos (poderiam ser chamados
inteligveis) so opostos ao tempo e espao do senso comum (sensveis); o
tempo e o espao possuem sua prpria natureza e, portanto, existiro inde-
pendentemente do mundo exterior e material e do movimento dos corpos; o
espao que se move em torno dos corpos o espao relativo (que se move
no espao absoluto junto com o corpo); a ordem das partes do tempo e do
espao imutvel.
Isso garante, no mnimo, a infinitude do universo newtoniano e cor-
robora suas explicaes da mecnica celeste e sistema inercial.
Temos discutido a maneira de Newton entender o mundo e seu movi-
mento, que sintetiza uma nova forma de compreender os fenmenos da na-
tureza: o universo infinito e pode ser conhecido quantitativamente; as leis
so universais e, portanto, abarcam todos os fenmenos da natureza; as ex-
plicaes devem ser causais e no finalistas.
O processo de produzir conhecimento de Newton - derivado e de que
deriva a sua maneira de compreender o mundo - aponta, segundo Brhier
(1977b), para uma outra diferena com Descartes: o mtodo utilizado.
Explicar um fenmeno , para Descartes, imaginar a estrutura mecnica do
qual resultado. Tal modo de explicao expe ao perigo de levar a muitas
solues possveis, j que um mesmo resultado pode ser obtido com mecanis-
245
mos muito diferentes. Newton declarou, iterativamente, que todas as "hipte-
ses" cartesianas, isto , as estruturas mecnicas imaginadas para dar razo a
fenmenos, deviam ser evitadas na filosofia experimental. "Non fingo hypo-
theses", isto "eu no invento nenhuma dessas causas", que, sem dvida,
podem dar conta dos fenmenos, mas que so somente verossmeis. Newton
no admite outra causa seno a que pode ser "deduzida dos prprios fenme-
nos", (p. 13)
Newton ilustra esse aspecto ao se referir causa da fora da gravidade:
Mas at aqui no fui capaz de descobrir a causa dessas propriedades da
gravidade a partir dos fenmenos, e no construo nenhuma hiptese; pois tudo
que no deduzido dos fenmenos deve ser chamado uma hiptese; e as
hipteses, quer metafsicas ou fsicas, quer de qualidades ocultas ou mecnicas,
no tm lugar na filosofia experimental. Nessa filosofia, as proposies par-
ticulares so inferidas dos fenmenos, e depois tomadas gerais pela induo.
Assim foi que a impenetrabilidade, a mobilidade e a fora impulsiva dos cor-
pos, e as leis dos movimentos e da gravitao foram descobertas. E para ns
suficiente que a gravidade realmente exista, aja de acordo com as leis que
explicamos e que sirva abundantemente para considerar todos os movimentos
dos corpos celestiais e de nosso mar. {Princpios, Esclio Geral, p. 22)
A maneira de Newton proceder para chegar s suas proposies poderia
ser assim resumida: partir de fenmenos observveis sem interpor hipteses
a no ser as que podem ser derivadas diretamente dos dados. Ao lado disso,
prope um mtodo de anlise e sntese dos dados da seguinte forma:
Como na matemtica, assim tambm na filosofa natural, a investigao de
coisas difceis pelo mtodo de anlise deve sempre preceder o mtodo de com-
posio. Esta anlise consiste em fazer experimentos e observaes, e em tra-
ar concluses gerais deles por induo, no se admitindo nenhuma objeo
s concluses, seno aquelas que so tomadas dos experimentos, ou certas
outras verdades. Pois as hipteses no devem ser levadas em conta em filosofia
experimental. E apesar de que a argumentao de experimentos e observaes
por induo no seja nenhuma demonstrao de concluses gerais, ainda as-
sim a melhor maneira de argumentao que a natureza das coisas admite,
e pode ser considerada mais forte dependendo da maior generalidade da in-
duo. E se nenhuma exceo decorre dos fenmenos, geralmente a concluso
pode ser formulada. Mas se em qualquer tempo posterior, qualquer exceo
decorrer dos experimentos, a concluso pode ento ser formulada com tais
excees que decorrem deles. Por essa maneira de anlise podemos proceder
de compostos a ingredientes, de movimentos s foras que os produzem; e,
em geral, dos efeitos a suas causas, e de causas particulares a causas mais
gerais, at que o argumento termine no mais geral. Este o mtodo de anlise;
e a sntese consiste em assumir as causas descobertas e estabelecidas como
246
princpios, e por elas explicar os fenmenos que procedem delas, e provar as
explicaes. (ptica, pp. 56-57)
Esse foi um modelo e um critrio de cincia que perdurou por sculos:
hipteses deduzidas dos fenmenos; a observao como critrio para a pro-
duo e aceitao do conhecimento; a possibilidade da quantificao dos fe-
nmenos; a utilizao da anlise e sntese, por meio da induo, para explicar
os eventos naturais.
Existiam, no entanto, alguns fenmenos que no podiam ser explicados
pelas leis propostas por Newton. Por exemplo: a lei da gravitao explicava
por que os planetas continuavam suas rbitas, mas no explicava a origem
do sistema solar e de seu movimento.
(...) nesses espaos, onde no existe ar para resistir a seus movimentos, todos
os corpos se movero com o mximo de liberdade; e os planetas e cometas
prosseguiro constantemente suas revolues em rbitas dadas em espcie e
posio, de acordo com as leis acima explicadas; mas, apesar de tais corpos
poderem, com efeito, continuar em suas rbitas pela simples lei da gravidade,
todavia eles no podem de modo algum ter, em princpio, derivado dessa lei
a posio regular das prprias rbitas.
Os seis planetas primrios so revolucionados em torno do Sol em crculos
concntricos ao Sol, com movimentos dirigidos em direo s mesmas partes
e quase no mesmo plano. Dez luas so revolucionadas em torno da Terra,
Jpiter e Saturno, em crculos concntricos a eles, com a mesma direo de
movimento e quase nos planos das rbitas desses planetas; mas no se deve
conceber que simples causas mecnicas poderiam dar origem a tantos movi-
mentos regalares, desde que os cometas erram por todas as partes dos cus
em rbitas bastante excntricas; pois por essa espcie de movimento eles pas-
sam facilmente pelas rbitas dos planetas e com grande rapidez; e em seus
apogeus, onde eles se movem com o mnimo de velocidade e so detidos o
mximo de tempo, eles recuam s distncias mximas entre si e sofrem, por-
tanto, a perturbao mnima de suas atraes mtuas. Este magnfico sistema
do Sol, planetas e cometas poderia somente proceder do conselho e domnio
de um Ser inteligente e poderoso. E, se as estrelas fixas so os centros de
outros sistemas similares, estes, sendo formados pelo mesmo conselho sbio,
devem estar todos sujeitos ao domnio de Algum; especialmente visto que a
luz das estrelas fixas da mesma natureza que a luz do Sol e que a luz passa
de cada sistema para todos os outros sistemas: e para que os sistemas das
estritas fixas no caiam, devido a sua gravidade, uns sobre os outros, ele
colocou esses sistemas a imensas distncias entre si. (Princpios, Livro III,
pp. 19-20)
Para explicar esse tipo de fenmeno, Newton necessitava de uma me-
tafsica, j que a fsica, at ento, no dava conta de compreend-lo; inter-
punha, portanto, a noo de Deus e sua interferncia no mundo fsico.
247
Para Brhier (1977b),
A mecnica de Newton liga-se a uma teologia. Seu Deus um gemetra e um
arquiteto que soube combinar os materiais do sistema de tal maneira que re-
sultasse um estado de equilibrio estvel e um movimento continuo e peridico,
(p. 12)
Segundo Newton, Deus est na origem de todas as coisas: fez o uni-
verso, o homem, e formou a matria de que as coisas so compostas.
(...) parece provvel para mim que Deus no comeo formou a matria em
partculas movveis, impenetrveis, duras, volumosas, slidas, de tais formas
e figuras, e com tais outras propriedades e em tal proporo ao espao, e
mais conduzidas ao fim para o qual ele as formou; e que estas partculas
primitivas, sendo slidas, so incomparavelmente mais duras do que quaisquer
corpos porosos compostos delas; mesmo to duras que nunca se consomem
ou se quebram em pedaos; nenhum poder comum sendo capaz de dividir o
que Deus, ele prprio, fez na primeira criao. Enquanto as partculas con-
tinuam inteiras, podem compor corpos de uma e mesma natureza e textura em
todas as pocas; mas se elas se consumissem, ou se quebrassem em pedaos,
a natureza das coisas dependentes delas seria mudada. A gua e a terra,
compostas de antigas partculas consumidas, no seriam da mesma natureza
e textura, agora, da gua e terra compostas de partculas inteiras no comeo.
E, portanto, aquela Natureza pode ser duradoura, as mudanas de coisas cor-
preas devem ser colocadas somente nas vrias separaes e novas associa-
es e movimentos dessas partculas permanentes; corpos compostos so
suscetveis de se quebrar, no no meio de partculas slidas, mas onde aquelas
partculas so juntadas, e se tocam em uns poucos pontos. {ptica, pp. 54-55)
Deus, alm de ter criado todas as coisas, colocou-as tambm em ordem
e em movimento. Uma vez em movimento, o mundo newtoniano permane-
ceria assim durante muito tempo, segundo leis prprias, mas no para sempre:
depois de um longo perodo, pela resistncia da frico dos planetas no ter
em que se movem, ocorreria um decrscimo na velocidade dos corpos celestes
e estes perderiam a fora; o mundo, portanto, no uma mquina automotora,
cabendo a Deus corrigir as perturbaes e recuperar o.movimento perdido.
Ora, com a ajuda desses princpios, todas as coisas materiais parecem ter
sido compostas das partculas duras e slidas acima mencionadas, variada-
mente associadas na primeira criao pelo consellio de um agente inteligente.
Pois convinha Aquele que as criou coloc-las em ordem. E se Ele assim fez,
no-filosfico procurar por qualquer outra origem do mundo, ou pretender
que este deveria se originar a partir de um caos pelas leis da Natureza; apesar
de que, uma vez sendo formado, ele pode continuar por essas leis durante
muitas pocas. Pois, enquanto os cometas se movem em rbitas muito excn-
248
tricas em todos os modos de posies, um destino cego no poderia nunca
fazer todos os planetas se moverem de uma e mesma maneira em rbitas
concntricas, algumas irregularidades inconsiderveis excetuadas, que podem
ter se originado das aes mtuas dos cometas e planetas entre si e que estaro
prontas a aumentar, at que esse sistema requeira uma reforma. {ptica,
pp. 55-56)
Para Newton, Deus criou todas as coisas uniformemente e est presente
em todas elas e em qualquer lugar. A maneira como o mundo se apresenta
, portanto, vontade e escolha do Criador.
(...) Tal maravilhosa uniformidade no sistema planetrio deve ter permitido o
efeito da escolha. E assim deve a uniformidade nos corpos dos animais, tendo
eles geralmente um lado direito e um esquerdo formados de modo igual, e em
ambos os lados de seus corpos duas pernas atrs, e dois braos, ou duas
pernas, ou duas asas na frente sobre seus ombros, e entre seus ombros um
pescoo que alcana uma espinha dorsal, e uma cabea sobre ele; e na cabea
duas orelhas, dois olhos, um nariz, uma boca e uma lngua, situados de ma-
neira igual. Tambm a primeira inveno dessas partes muito artificiais dos
animais, os olhos, ouvidos, crebro, msculos, corao, pulmes, barriga,
glndidas, laringe, mos, asas, bexigas natatrias, culos naturais e outros
rgos dos sentidos e movimento; e o instinto das bestas e insetos no pode
ser o efeito de nada alm do que a sabedoria e habilidade de um agente
sempre vivo, poderoso, que, estando em todos os lugares, mais capaz por
Sua vontade de mover os corpos em Seu sensrio uniforme ilimitado, e desse
modo formar e reformar as partes do Universo, do que ns somos capazes,
por nossa vontade, de mover as partes de nossos prprios corpos. E ainda
assim no devemos considerar o mundo como corpo de Deus, ou as vrias
partes dele como partes de Deus. Ele um Ser uniforme, destitudo de rgos,
membros ou partes, e eles so suas criaturas subordinadas a Ele, e subser-
vientes a Sua vontade; e Ele no mais a alma deles do que a alma do homem
a alma das espcies de coisas levadas atravs dos rgos dos sentidos at
o lugar de sua sensao, onde ele as percebe por meio de sua presena ime-
diata, sem a interveno de qualquer terceira coisa. Os rgos dos sentidos
no so para capacitar a alma a perceber as espcies de coisas em seu sen-
srio, mas somente para conduzi-las para ali; e Deus no tem necessidade de
tais rgos, estando Ele presente em todos os lugares s prprias coisas. E
desde que o espao divisvel in infinitum e a matria no est necessaria-
mente em todos os lugares, pode-se tambm admitir que Deus capaz de criar
partculas de matria de vrios tamanhos e formas, e em vrias propores
ao espao e tah<ez de diferentes densidades e foras, e, desse modo, variar as leis
da Natureza e fazer mundos de vrias espcies em vrias partes do Universo. Pelo
menos, no vejo nada em contradio com tudo isto. {ptica, p. 56)
249
Para introduzir a discusso da noo de Deus para Newton, foi colocada
a necessidade de explicao de alguns fenmenos que as leis fsicas no
davam conta.
interessante, porm, notar que o Deus newtoniano segue o mesmo
raciocnio das explicaes do mundo de Newton, confirmando Koyr (1979)
que comenta: "O Deus de um filsofo e seu mundo sempre se correspondem"
(p. 100). A ttulo de exemplo poder-se-iam estabelecer algumas relaes entre
a noo de Deus e as explicaes sobre o mundo de Newton.
A matria atua sobre outra matria, proporcionalmente distncia, ou
seja, quanto mais longe um corpo do outro, menor a fora de atrao exercida,
podendo no existir nenhuma; Deus, que atua sobre todas as coisas, est em
toda parte e, portanto, a ao e percepo de cada uma delas se do no
prprio espao em que se situam. Newton no explica, experimentalmente,
a origem dos fenmenos que observa, analisa e matematiza; Deus o Criador
de tudo e, sendo assim, a origem fica dada sem interferir nas leis que so
propostas para os eventos. Newton prope leis universais; igualmente Deus
cria uniformemente todas as coisas. As noes de tempo e espao absoluto
so necessrias para se ter medidas reais dos movimentos; para Newton (se-
gundo Clarke em correspondncia com Leibniz), Deus O nipresente e Eter-
no, isso , o espao e o tempo ilimitado so conseqncias necessrias de
Sua existncia.
Partindo-se das idias de Newton, o universo era, ento, completamente
explicvel.
Ao fim do sculo, o triunfo de Newton era completo. O Deus newtoniano
reinava, supremo, no vazio infinito do espao absoluto, no qual a fora da
atrao universal interligava os corpos estruturados atomicamente do universo
incomensurvel e os fazia moverem-se de acordo com rgidas leis matemticas.
(Koyr, 1979, p. 255)
250
REFERENCIAS
Bacon, F. "Novum organum". In: Bacon. So Paulo, Abril Cultural, 1973,
col. O s Pensadores.
Banfi, A. Galileu. Lisboa, Edies 70, 1983.
Bernal, J. D. Cincia na histria. Lisboa, Livros Horizonte, 1976a, vol. II.
. Cincia na histria. Lisboa, Livros Horizonte, 1976b, vol. III.
Beyssade, M. Descartes. Lisboa, Edies 70, 1983.
Brhier, E. Histria da filosofia. So Paulo, Mestre Jou, 1977a, tomo II, vol. I.
. Histria da Filosofia. So Paulo, Mestre Jou, 1977b, tomo II, vol. II.
Bronowski, J e Mazlich, B. A tradio intelectual do Ocidente. Lisboa, Edi-
es 70, 1988.
Burtt, E. As bases metafsicas da cincia moderna. Braslia, UnB, 1983.
Chau, M. "Filosofia moderna". In: Chau, M. e outros. Primeira filosofia.
So Paulo, Brasiliense, 1984.
Desanti, J. T. "Galileu e a nova concepo da natureza". In: Chtelet, F.
A filosofia do mundo novo. Rio de Janeiro, Zahar, 1981.
Descartes, R. "Discurso do mtodo". In: Descartes. So Paulo, Abril Cul-
tural, 1973, col. O s Pensadores.
. "As paixes da alma". In: Descartes. So Paulo, Abril Cultural, 1973,
col. O s Pensadores.
. "Meditaes". In: Descartes. So Paulo, Abril Cultural, 1973, col.
O s Pensadores.
. "O bjees e respostas". In: Descartes. So Paulo, Abril Cultural,
1973, col. O s Pensadores.
Drake, S. Galileu. Lisboa, Publicao Dom Quixote, 1981.
Farrington, B. Francis Bacon - Filsofo da Revoluo Industrial. Madri,
Editorial Ayuso, 1971.
Galilei, G. "O ensaiador". In: Galileu. So Paulo, Abril Cultural, 1973, col.
O s Pensadores.
. Duas novas cincias. So Paulo, Nova Stella Editorial e Ched Edi-
torial, s/d.
Hobbes, T. "Leviat ou matria, forma e poder de um estado eclesistico e
civil". In: Hobbes. So Paulo, Abril Cultural, 1973, col. O s Pensadores.
Huberman, L. Histria da riqueza do homem. Rio de Janeiro, Zahar, 1979.
251
Koyr, A. Do mundo fechado ao universo infinito. Rio de Janeiro, Forense
Universitria, 1979.
. Estudos de histria do pensamento cientfico. Rio de Janeiro, Forense
Universitria, 1982.
. Consideraes sobre Descartes. Lisboa, Editorial Presena , 1986a.
. Estudos galilaicos. Lisboa, Publicaes Dom Quixote, 1986b.
Locke, J. "An essay concerning human understanding". In: Hutchins, R. M.
(ed.). Great Books of the Western Word, vol. 35, 23
a
ed., Chicago,
Willian Benton, Publisher, 1980.
Locke, J. "Ensaio acerca do entendimento humano". In: Locke. So Paulo,
Abril Cultural, 1978, col. O s Pensadores.
. "Segundo tratado sobre o governo". In: Locke. So Paulo, Abril Cul-
tural, 1978, col. O s Pensadores.
Martins, C. E. e Monteiro, J. P. "Vida e obra". In: Locke. So Paulo, Abril
Cultural, 1978, col. O s Pensadores.
Newton, I. "ptica". In: Newton. So Paulo, Abril Cultural, 1979, col. O s
Pensadores.
. "Princpios matemticos da filosofia natural". In: Newton. So Paulo,
Abril Cultural, 1979, col. O s Pensadores.
O liveira, C. A. B. Consideraes sobre a formao do capitalismo. Campi-
nas, dissertao de mestrado no publicada, apresentada ao Instituto de
Filosofia e Cincias Humanas da Unicamp, 1977.
Silva, L. S. "Teoria do conhecimento". In: Chau, M. e outros. Primeira
filosofia. So Paulo, Brasiliense, 1984.
Vzquez, A. S. Filosofia da prxis. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977.
Vilar, P. "A transio do feudalismo ao capitalismo". In: Santiago, T. (org.).
Capitalismo - Transio. Rio de Janeiro, Livraria Eldorado Tijuca,
1975.
BIBLIOGRAFIA
Abbagnano, N. Histria da filosofia. Lisboa, Editorial Presena, 1978, vol. VII.
. Histria da filosofia. Lisboa, Editorial Presena, 1982, vol. VI.
Acton, H. B. "'The Enlightenment' y sus adversrios". In: Belaval, Y. His-
tria de Ia filosofia. 2- ed., Mxico, Siglo XXI, 1977, vol. 6.
Aquino, R. S. L. e outros. Histria das sociedades. Rio de Janeiro, Ao Livro
Tcnico, 1981.
252
Duchesnau, F. "John Locke". In: Chtelet, F. Histria da filosofia. Lisboa,
Publicaes Dom Quixote, 1983, vol. 4.
Morton, A. L. A histria do povo ingls. Rio de janeiro, Civilizao Brasi-
leira, 1970.
O liveira, J. C. e Albuquerque, R. H. P. L. "Notas sobre a relao cincia,
tcnica e sociedade". Cincia e Cultura, 33(6), 1980.
253
PARTE IV
A HISTRIA E A CRTICA
REDIMENSIONAM O CONHECIMENTO:
O CAPITALISMO NOS SCULOS
XVIIIE XIX
CAPITULO 15
SCULO S XVIII E XIX: REVO LU O
NA ECO NO MIA E NA PO LTICA
Duas grandes revolues marcaram os sculos XVIII e XIX: uma delas,
fundamentalmente econmica, a chamada Revoluo Industrial, ocorrida ini-
cialmente na Inglaterra, na segunda metade do sculo XVIII, e mais tardia-
mente na Alemanha, na segunda metade do sculo XIX; a outra, fundamen-
talmente poltica, a chamada Revoluo Francesa, ocorrida na segunda me-
tade do sculo XVIII.
A Revoluo Industrial significou um conjunto de transformaes em
diferentes aspectos da atividade econmica (indstria, agricultura, transportes,
bancos, etc), que levou a uma afirmao do capitalismo como modo de
produo dominante, com suas duas classes bsicas: a burguesia, detentora
dos meios de produo e concentrando grande quantidade de dinheiro; e o
proletariado, que, desprovido dos meios de produo, vende a sua fora
de trabalho para subsistir. Significou, sobretudo, uma revoluo no processo de
trabalho, por meio da "() criao de um 'sistema fabril' mecanizado que
por sua vez produz em quantidades to grandes e a um custo to rapidamente
decrescente a ponto de no mais depender da demanda existente, mas de
criar o seu prprio mercado (...)" (Hobsbawm, 1981, p. 48).
Para entendermos a ocorrncia da Revoluo Industrial, importante
examinarmos as mudanas por que passou o processo produtivo, a partir do
final da Idade Mdia. Entre os sculos XVI e XVIII, a produo industrial,
que at ento se organizara na forma artesanal (artesos independentes), passa
por diferentes formas de organizao: inicialmente o sistema domstico, em
que um intermedirio entrega ao arteso a matria-prima, que este, trabalhan-
do em sua prpria casa, geralmente com as prprias ferramentas, transforma
em produto acabado, do qual o intermedirio se apodera. Em seguida, o
sistema de manufatura, em que os trabalhadores so reunidos sob um mesmo
teto e participam, em conjunto e segundo um plano, da elaborao de um
produto, do qual cada um produz apenas uma parte e que, portanto, s estar
completo a partir do trabalho de vrios indivduos. Nesse sistema, os traba-
lhadores no so mais donos dos instrumentos de produo: estes pertencem
ao empresrio capitalista que os emprega: tambm no so donos da mat-
ria-prima com que trabalham e, conseqentemente, no ficam com o produto
de seu trabalho, que pertence ao capitalista; trabalham em troca de um salrio.
O capitalista retira seu ganho do fato de pagar ao trabalhador menos do
que o valor dos objetos que este produz. O capitalista paga aos operrios
apenas o suficiente para assegurar a reproduo da fora de trabalho, para
que estes se mantenham vivos e possam continuar a vender a sua fora de
trabalho. O valor dos objetos produzidos pelos trabalhadores sempre supe-
rior quilo que eles recebem sob a forma de salrio, e o capitalista se apodera
dessa diferena, retirando, assim, o seu ganho da parte no paga do trabalho
dos operrios que emprega.
Se a manufatura significou um grande progresso em relao produo
artesanal, na medida em que, reunindo os trabalhadores sob um mesmo teto
e impulsionando a diviso do trabalho, permitiu um grande aumento na pro-
duo de mercadorias, favorecendo a valorizao do capital, por outro lado,
ela apresentava claras limitaes, que entravavam a possibilidade de uma
valorizao ainda maior do capital.
Na manufatura, embora o trabalho fosse parcelado, o que dispensava
a utilizao de trabalhadores altamente qualificados, ainda era o operrio,
com a ferramenta, quem realizava o trabalho; assim, o processo produtivo
dependia ainda da destreza, da habilidade dos operrios, o que exigia traba-
lhadores razoavelmente qualificados; isto, por sua vez, impedia uma drstica
reduo do valor da fora de trabalho. Alm disso, na medida em que o
operrio quem realiza o trabalho, este fica na dependncia de sua capacidade
fsica; dessa forma, embora seja possvel ao capitalista aumentar seus lucros
intensificando o trabalho, aumentando a durao da jornada de trabalho, h
um limite para essa possibilidade, dado pela capacidade fsica do trabalhador.
Uma forma de aumentar os ganhos do capitalista e que independe da
capacidade fsica do trabalhador seria a introduo de instrumentos que au-
mentassem a quantidade de bens produzidos numa mesma quantidade de
tempo. E foi o que a Revoluo Industrial fez: a especializao do trabalho,
reduzindo-o a um conjunto de tarefas simples, possibilitou a introduo da
mquina para realizar essas tarefas, em substituio ao brao do operrio,
com a ferramenta. Com a introduo da mquina (inicialmente a mquina a
vapor), operou-se uma revoluo no processo de trabalho, que se viu liberado
das limitaes impostas pela capacidade fsica do operrio. A mquina pos-
sibilitou a substituio da fora motriz humana por outras (ar, gua, vapor,
etc). Agora a mquina, e no o trabalhador, com a ferramenta, que fabrica
o produto, e o trabalho do operrio limita-se ao de vigiar a mquina. Agora
o capitalismo pode se desenvolver plenamente. H um grande aumento da
produo, e o sistema fabril (produo mecanizada) derruba, pela concor-
258
rncia, as outras formas de produo (artesanal, domstica e manufatura),
uma vez que pode produzir bens com muito mais rapidez e a um preo muito
mais baixo.
Com a mecanizao da produo, a funo do trabalhador fica limitada:
se, com a diviso do trabalho, ele j perdera o controle do processo pro-
dutivo, com a introduo da mquina, ele perde o controle at do prprio
ritmo do trabalho (uma vez que tem que seguir os movimentos da mquina)
e da qualidade do produto.
Essa limitao da funo do trabalhador leva a uma desqualificao do
trabalho, o que permite a introduo, no processo produtivo, de mo-de-obra
no qualificada, particularmente da mulher e da criana. Leva tambm pos-
sibilidade de incorporao da mo-de-obra sem que esta passe por um apren-
dizado, ou, ento, com reduzida aprendizagem. Isto tudo leva reduo do
valor da fora de trabalho e constitui-se numa forma de aumentar os ganhos
do capitalista. Alm dessa, outra forma de aumento dos ganhos, nesse pero-
do, deu-se com o aumento da explorao do trabalhador, por meio, por exem-
plo, do aumento da jornada de trabalho. Essa possibilidade surge a partir do
fato de que a mecanizao da indstria trouxe consigo uma grande disponi-
bilidade de mo-de-obra, na medida em que desqualificou o trabalho (per-
mitindo a incorporao, ao processo produtivo, de trabalhadores no qualifi-
cados), em que destruiu outras formas de organizao da produo (fazendo
com que milhares de artesos independentes acorressem s fbricas em busca
de trabalho) e, finalmente, na medida em que a mquina substituiu parte do
trabalho do operrio (reduzindo a quantidade de trabalhadores necessrios).
Segundo O liveira (1977), a partir da Revoluo Industrial so criadas,
na prpria esfera econmica da sociedade, formas de assegurar ao capital
mo-de-obra abundante e barata, sem que seja necessria a criao de leis
especiais para isso, como se deu no perodo manufatureiro.
Ainda de acordo com o mesmo autor, um ltimo passo da Revoluo
Industrial a produo de mquinas por meio de outras mquinas. As m-
quinas estavam sendo utilizadas em diferentes ramos da produo, para fa-
bricar os mais diversos tipos de bens, mas eram ainda, elas mesmas, produ-
zidas pelo sistema de manufatura. Isto exigia trabalhadores especializados, o
que tornava o seu custo muito alto. Deu-se, ento, o passo que faltava e as
mquinas passaram a ser produzidas pelo sistema fabril.
Como conseqncia desse processo de transformao nas formas de
organizao da produo, o capital industrial sobrepe-se ao capital comer-
cial, pois no depende mais da ao do comrcio para expandir mercados;
ele capaz de criar seus prprios mercados. No perodo manufatureiro, a
259
expanso da produo se dava em funo da ampliao do mercado, subor-
dinando-se o capital industrial ao capital comercial. Nesse caso,
(...) o desenvolvimento do capital mercantil que regula e imprime o ritmo
de acumulao do capital manufatureiro. E isto expresso da dominao do
capital mercantil sobre o capital industrial, prpria deste momento do processo
de constituio do capitalismo. (O liveira, 1977, p. 26)
J, no sistema fabril, o aumento da produo to grande e o custo to mais
baixo que a indstria no mais produz etn resposta a exigncias de um certo
mercado: produz para um mercado indeterminado, que ela mesma cria. Um
exemplo disto fornecido por Hobsbawm (1981), segundo o qual a indstria
automobilstica do porte atual no foi criada em resposta demanda de carros
existente, mas, ao contrrio, a sua capacidade de produzir carros a um baixo
preo que gerou a atual demanda em massa.
Nestas circunstncias, o capital comercial assume posio subordinada, pois o
capital produtivo no mais depende da ao do comrcio para a expanso dos
mercados necessrios sua produo (...). Supera-se, pois, a dependncia do
capital produtivo em relao ao capital comercial, prpria do perodo manufa-
tureiro. (O liveira, 1977, p. 53)
As transformaes aqui tratadas influenciaram outras reas da atividade
econmica, conforme veremos a seguir.
A organizao das atividades do campo, que teve importante papel no
desenvolvimento da indstria moderna, foi, por outro lado, profundamente
influenciada por esta. A indstria criou novos mercados para produtos agr-
colas, forneceu ferramentas e energia para a agricultura. O capitalismo es-
tendeu-se ao campo, desenvolvendo uma agricultura de mercado (em lugar
de agricultura de subsistncia) preocupada em tornar a terra cada vez mais
produtiva e em tirar dela lucros cada vez maiores, determinando, assim, o
fim do regime feudal de explorao da terra.
O utro aspecto da atividade econmica que passou por grandes altera-
es foi o dos transportes e das comunicaes. O aumento das trocas entre
cidade e campo, a grande quantidade de bens produzidos e que precisavam
ser escoados, seja para diferentes partes de um pas, seja para pontos longn-
quos, levaram construo de estradas, tanto de ferro quanto de rodagem,
abertura de canais, ao desenvolvimento da navegao a vapor, o que ampliou
o mercado interno e tornou mais acessvel o mercado mundial. Segundo Ber-
nal (1976b), informaes sobre preos de mercadorias e aes, ou sobre qual-
quer acontecimento que pudesse estar a eles relacionados, tinham grande
valor monetrio, o que trouxe a exigncia do desenvolvimento tambm das
comunicaes.
260
Ainda um outro aspecto da atividade econmica que foi influenciado
pelas transformaes por que passou a organizao da produo industrial
foi a disposio espacial das indstrias. Uma caracterstica da industria mo-
derna era a sua localizao em regies determinadas. Enquanto a indstria
artesanal espalhava-se por todo o pas, a indstria mecanizada concentrava-se
em certas regies, em funo da disponibilidade de matria-prima e fontes
de energia.
Se o sculo XVIII presenciou o surgimento da indstria mecanizada,
no sculo XIX os seus efeitos j eram abundantes: grande transformao na
vida de muitos milhes de pessoas, aumento populacional rpido, crescimento
de novas cidades, grande avano da produo, desenvolvimento de novos
meios de transporte e de comunicao, surgimento de enorme quantidade de
assalariados, grandes capitais acumulados e, por outro lado, grande misria,
sem qualquer proteo social. A proibio de sindicatos, do direito de greve,
deixava os operrios merc dos patres, sujeitos s piores condies tanto
de trabalho como de vida: baixos salrios, inmeras multas (por problema
de pontualidade, por desateno, por defeitos nos produtos, etc), ameaas de
demisso, nmero excessivo de horas de trabalho, pagamento em gneros,
desemprego, empregos casuais ou temporrios, alm de ausncia de proteo
sade e alta freqncia de acidentes, que geravam baixssima expectativa
de vida.
Do ponto de vista poltico, os sculos XVIII e XIX trouxeram a des-
truio das relaes sociais feudais. "(..) Toda a iniciativa econmica e po-
ltica passou para as mos da nova classe de empresrios capitalistas (...)."
Houve uma "(...) transferncia do poder das mos da nobreza para as mos
do poder econmico (...)" (Bernal, 1976b, pp. 554-555).
Conquanto a burguesia, em alguns pases da Europa, j bem antes desse
perodo viesse se tornando economicamente forte e fosse quem fornecesse
os recursos financeiros que mantinham as monarquias absolutas, ela no tinha
ainda, antes desse perodo, o poder poltico em suas mos.
A ordem feudal perdurava e a burguesia tinha interesses bastante di-
vergentes daqueles do Antigo Regime. O descontentamento da burguesia com
o Antigo Regime situava-se tanto no aspecto econmico quanto no aspecto
poltico-ideolgico.
Do ponto de vista econmico, a burguesia colocava-se contrria ao
mercantilismo, que compreendia uma srie de medidas adotadas pelo Estado
(baseadas em um conjunto de teorias econmicas), para conseguir riqueza e
poder, para manter no pas o ouro e a prata nele existentes ou para aumentar
sua reserva desses metais. Essas medidas incluam, por exemplo, restries
importao, tarifas protetoras para favorecer indstrias do prprio pas, mo-
noplio do comrcio com as colnias, restries quanto ao que fabricar, quan-
261
to ao material utilizado e quanto ao tipo de ferramenta a ser empregada, taxas
para a comercializao externa dos produtos e para o trnsito interno dos
mesmos. Essa interveno do Estado na economia limitava as atividades da
burguesia, que passou a lutar contra a poltica mercantilista, a favor do lais-
sez-faire, laissez-passer, concepo segundo a qual a economia deve se de-
senvolver de acordo com leis naturais, sem interveno do Estado. De acordo
com os adeptos dessa concepo, o livre comrcio e a livre concorrncia
favoreceriam tanto produtores quanto consumidores, estes ltimos na medida
em que a concorrncia obrigaria os primeiros a baixarem preos e melhorarem
a qualidade dos produtos.
Do ponto de vista poltico-ideolgico, a burguesia colocava-se contra
o absolutismo (que, embora mantido fundamentalmente por ela, representava,
de fato, os interesses da nobreza), a favor de um governo liberal de base
burguesa, isto , de um governo cujas decises estivessem fundamentalmente
nas mos de representantes dessa classe.
Por meio de uma srie de revolues liberais, a burguesia tomou o"
poder poltico, da mesma forma que por meio da Revoluo Industrial tomou
o poder econmico.
Como vimos anteriormente, como conseqncia da Revoluo Indus-
trial, o perodo aqui tratado, se, por um lado, tornou os ricos cada vez mais
ricos, tornou, por outro lado, os pobres cada vez mais pobres, em condies
de vida extremamente precrias: moradias superlotadas, escuras, insalubres,
jornadas de trabalho de at 16 horas dirias, condies alarmantes de trabalho,
crianas fora da escola, trabalhando longos perodos, em pssimas condies.
Se um marciano tivesse cado naquela ocupada ilha da Inglaterra teria consi-
derado loucos todos os habitantes da Terra. Pois teria visto de um lado a grande
massa do povo trabalhando duramente, voltando noite para os miserveis e
doentios buracos onde moravam, que no serviam nem para porcos; de outro
lado, algumas pessoas que nunca sujaram as mos com o trabalho, mas no
obstante faziam as leis que governavam as massas e viviam como reis, cada
qual num palcio individual. (Huberman, 1979, p. 188)
Comearam, ento, a surgir - nesse perodo - diferentes formas de
reao dos trabalhadores a essas condies: destruio de mquinas por parte
dos mesmos, que viam nelas as responsveis por sua penria; peties por
aumento de salrio; lutas pela diminuio da jornada de trabalho; lutas pelo
direito de voto para a escolha de legisladores; organizao de trabalhadores
e formao de sindicatos para a defesa de seus interesses (o que foi favorecido
pela concentrao de muitos trabalhadores nas grandes cidades).
Essas reaes dos trabalhadores evidenciam um antagonismo entre seus
interesses e os da burguesia. E, de fato, na primeira metade do sculo XIX,
262
os conflitos j no mais se do, fundamentalmente, entre a burguesia (aliada
ao povo) e a nobreza, como nos dois sculos anteriores, mas sim entre a
burguesia e o proletariado (aliado pequena burguesia). O s proletrios pas-
sam a representar as foras de transformao e a burguesia, as foras de
conservao. Surge o socialismo, enquanto teoria, pregando alteraes na so-
ciedade, de forma a beneficiar a maioria da populao, os mais pobres, isso
, os proletrios.
As transformaes por que passou a organizao social, das quais aqui
tratamos, se deram inicialmente na Inglaterra e na Frana. Segundo Hobs-
bawm (1981), entre os sculos XII e a primeira metade do sculo XIX, grande
parte do mundo transformou-se, a partir de uma base europia, ou, mais
precisamente, de uma base franco-britnica.
Essas transformaes significaram
(...) o triunfo no da "indstria" como tal, mas da indstria capitalista; no
da liberdade e da igualdade em geral, mas da classe mdia ou da sociedade
"burguesa" liberal; no da "economia moderna" ou do "Estado Moderno"
mas das economias e Estados em uma determinada regio geogrfica do mundo
(parte da Europa e alguns trechos da Amrica do Norte), cujo centro eram os
Estados rivais e vizinhos da Gr-Bretanha e Frana. (...) Ante os negociantes,
as mquinas a vapor, os navios e os canhes do O cidente - e ante suas idias
- as velhas civilizaes e imprios do mundo capitularam e ruram. (...) Por
volta de 1848, nada impedia o avano da conquista ocidental sobre qualquer
territrio que os governos ou os homens de negcios ocidentais achassem van-
tajoso ocupar, como nada a no ser o tempo se colocava ante o projeto da
iniciativa capitalista ocidental. (Hobsbawm, 1981, pp. 17 e 19)
Na seqncia do texto, abordaremos as duas "verses" da revoluo econ-
mica a que se deu o nome de Revoluo Industrial: a inglesa e a alem;
abordaremos tambm a grande revoluo poltica ocorrida na Frana em fins
do sculo XVIII. Em seguida, analisaremos algumas caractersticas do pen-
samento produzido nos sculos XVIII e primeira metade do XIX, sculos
que se marcaram por essas revolues que tiveram conseqncias para muito
alm das fronteiras dos pases em que se deram; sculos que produziram
idias, cuja influncia sobre pensadores subseqentes, desde ento at nossos
dias, pode ser claramente notada.
INGLATERRA: A REVOLUO ECONMICA
A Revoluo Industrial ocorreu nos sculos XVIII e XIX, primeira-
mente na Inglaterra e depois em outros pases. Esse processo significou, se-
gundo a anlise feita pelo historiador Hobsbawm (1981), uma revoluo eco-
263
nmica, em que "(...) pela primeira vez na histria da humanidade, foram
retirados os grilhes do poder produtivo das sociedades humanas, que da
em diante se tornaram capazes da multiplicao rpida, constante, e at o
presente ilimitada, de homens, mercadorias e servios (...)" (p- 44). O fato
de este processo ter sido desencadeado na Inglaterra no foi casual. O pas
veio acumulando, durante sculos, se bem que de maneira no intencional,
as condies necessrias para que l ocorresse um dos mais importantes acon-
tecimentos da histria da humanidade. A ordem em que se estar comentando
essas condies a seguir no significa prioridade de qualquer delas sobre as
outras; a relao entre elas que permite clarificar o processo de desenca-
deamento da Revoluo Industrial inglesa.
A primeira dessas condies diz respeito ao fato de a Inglaterra no
ter tido competidores significativos, apesar de j haver industrializao em
outras regies europias a essa altura do processo. O pas j havia desenvol-
vido, antes de 1780, uma indstria manufatureira forte - a txtil -, que viria
a ser fundamental para sua subseqente industrializao fabril. A exportao
da l, produto da indstria manufatureira, cresceu muito no incio do sculo
XVIII, mas, apesar desse avano, o progresso decisivo foi obra da indstria
de algodo, impulsionada pela proibio da importao de produtos indianos
desse material, que tinham grande aceitao no mercado. A indstria nascente
do algodo sofreu grandes presses dos lanifcios, mas foi justamente esse
contexto competitivo no qual surgiu, de acordo com Morton (1970), o res-
ponsvel pela necessidade que teve de se estruturar em bases capitalistas.
(...) Exatamente por ter sido artificialmente implantada, depender de matria-
prima importada e ter sido forada a ser adaptvel e estar pronta a adotar
mtodos para neutralizar ataques e superar dificuldades tcnicas - que a nova
indstria se desenvolveu em bases capitalistas e foi a primeira a se beneficiar
das invenes do fim do sculo XVIII. (p. 294)
A segunda condio refere-se ao fato de que, no sculo XVIII, a In-
glaterra j havia realizado o que se poderia chamar de revoluo poltica da
burguesia, ocorrida no sculo XVII, que construiu um Estado poltico e ju-
rdico adequado a suas necessidades, cujos objetivos eram o desenvolvimento
econmico e o lucro privado.
Essa revoluo poltica teve, por sua vez, determinantes econmicos que
se constituem nas transformaes pelas quais a Inglaterra passou durante o pe-
rodo de transio do feudalismo ao capitalismo. Essas transformaes econ-
micas foram gerando a necessidade de mudanas polticas, isto , a expanso
do capital mercantil foi se tornando incompatvel com os limites impostos pela
estrutura ainda feudal da sociedade. Esse processo, que contrapunha camadas e
interesses diversos dentro da sociedade, tornou-se mais agudo em meados do
264
sculo XVII, desencadeando a Revoluo Inglesa, que abrangeu a Revoluo
Puritana (1640-1649) e um segundo processo revolucionrio considerado
como seu complemento - a Revoluo Gloriosa de 1688.
No processo revolucionrio foi desencadeada uma guerra civil (1642),
que contraps duas foras. A primeira, leal ao Parlamento ingls
1
, mais pre-
cisamente, leal queles que, na instituio, procuravam limitar os poderes
reais - principalmente quanto adoo de polticas mercantilistas e fiscais,
consideradas restritivas ou arbitrrias -, era composta de proprietrios rurais,
comerciantes ricos, pequena nobreza, alm de pequenos fazendeiros, nego-
ciantes e artesos das cidades do interior. Segundo Morton (1970),
(...) O Parlamento era forte nas cidades e no leste e sul, regies ricas e eco-
nomicamente mais desenvolvidas do pas. Tinha tambm o apoio da Marinha
e controlava quase todos os portos de mar e, conseqentemente, o comrcio
exterior (...). (p. 203)
O s elementos que compunham essa primeira fora eram liderados por O liver
Cromwell, membro da pequena nobreza e do Parlamento. O outro lado en-
volvido no conflito era composto pelas foras leais ao rei Carlos I, repre-
sentando regies mais pobres do norte e do oeste, catlicos e grandes nobres
semifeudais. Ainda segundo Morton (1970), apesar de haver excees, "()
quer olhemos a diviso por classe ou por rea geogrfica o resultado o
mesmo: um conflito entre as classes e reas avanadas, usando o Parlamento
como instrumento, e as mais conservadoras, unidas em torno da Coroa (...)"
(p. 203). Essa guerra civil revestiu-se de carter religioso, tanto porque en-
volvia opes religiosas, alm de polticas, como pelo fato de o rei defender
suas prerrogativas de monarca de direito divino.
As foras do Parlamento obtiveram vitria em 1649, executaram o rei
Carlos I, iniciando-se um perodo de governo de Cromwell, com o ttulo de
lorde protetor. Durante esse perodo de governo, posies mais radicalmente
democrticas, defendidas por antigos aliados, foram enfraquecidas e no se
permitiu que estes tivessem voz no governo. Com a morte de Cromwell, em
1658, houve um retrocesso no processo revolucionrio, ocorrendo a restau-
rao da monarquia com Carlos II, que foi sucedido por Jaime II. Estes
governaram com oposio de uma parte do Parlamento, dando continuidade
luta entre posies mais realistas, de maior poder ao rei, como as dos tories
(grupo composto por grandes proprietrios que viam na restaurao da mo-
1 Instituio criada no sculo XIII, objetivando limitar o poder monrquico, e que no
sculo XIV se dividiu em Cmara dos Lordes, que reunia representantes dos grandes se-
nhores feudais, tanto leigos como eclesiticos, e Cmara dos Comuns, que reunia repre-
sentantes da pequena nobreza e burguesia.
265
narquia uma forma de obter e preservar poder), e posies contrrias a esta,
como a dos whigs (grupo formado por comerciantes e representantes do ca-
pitalismo financeiro em ascenso, coligados com magnatas da aristocracia
rural que mantinham relaes estreitas com o comrcio).
Apesar da oposio entre os interesses dos dois grupos, eles se uniram
contra o rei quando este, por volta de 1687, comeou a romper com a Igreja
Anglicana, tendo em vista restabelecer o catolicismo. Iniciou-se, ento, novo
processo revolucionrio, a "Revoluo Gloriosa" de 1688, que, "(...) salvo
curtos intervalos, ps nas mos dos whigs o controle do aparelho central do
Estado por todo o sculo seguinte (...)" (Morton, 1970, p. 249). Isso ocorreu
porque, como resultado do processo revolucionrio, o Parlamento ingls pas-
sou a deter o poder de fato do Estado; este, agora, sob a monarquia de
Guilherme de O range e Maria. Essa revoluo representou, portanto, o triunfo
dos comerciantes e da burguesia capitalista tanto do campo como da cidade
e atendeu a seus interesses.
Alm dessas transformaes polticas, a Inglaterra promovia, no plano
econmico, o desenvolvimento do modo de produo capitalista. A terceira
condio para a Revoluo Industrial ter ocorrido nesse pas foi o fato de
ele possuir tanto capital como mercado. A Inglaterra, em meados do sculo
XVIII, possua um considervel montante de capital acumulado por meio do
comrcio (envolvendo pirataria, saque, explorao em diferentes nveis), pas-
svel de ser transferido para a indstria (por exemplo, a indstria txtil).
Alm disso, possua amplo mercado interno - unificado e instituciona-
lizado de forma burguesa por meio do processo revolucionrio pelo qual
passara - e externo, uma vez que era, tambm, potncia comercial e colonial
internacional. Esses fatos deram ao pas uma enorme possibilidade de desen-
volvimento industrial.
A quarta condio a ser comentada diz respeito ao fato de existir nas
cidades inglesas uma vasta fora de trabalho disponvel para a indstria. Exis-
tia "(.) uma numerosa e nascente classe trabalhadora, uma ampla fora de
trabalho utilizvel pelo capital em condies sub-humanas: 16 horas dirias
de trabalho, menores de idade, ausncia de toda a proteo social (...)" (Co-
cho, 1980, p. 7). Essa mo-de-obra, dissociada dos meios de produo - da
terra e dos instrumentos de trabalho -, cresceu em funo do aumento de-
mogrfico, pela eliminao das corporaes de ofcio, das manufaturas, e
pelo xodo rural, ocasionado pelos movimentos de cercamento ocorridos por
volta dos sculos XVI e XVIII.
Esses movimentos de cercamento de terras, que tanto contriburam para
a formao da classe trabalhadora inglesa, foram conseqncia de um pro-
cesso de transformao ocorrido no campo e que teve incio durante o perodo
266
de desagregao do modo de produo feudal, que acabou com o cultivo
comunal da poca, tendo em vista transformar terras de cultivo em campos
de pastagem. Esse primeiro movimento de cercamento, ocorrido no sculo
XVI, bem como o aumento do preo dos arrendamentos pagos pela terra,
expulsou camponeses e arrendatrios do campo, pauperizando-os e tornan-
do-os parte de uma classe trabalhadora sem vnculos com a terra e sem meios
de subsistncia que no a sua prpria fora de trabalho.
O processo teve continuidade no sculo XVIII, com um novo movi-
mento para o cercamento de terras, agora objetivando transformar os campos
em "(.) vastas e compactas fazendas, onde o novo e mais cientfico sistema
agropastoril podia ser posto em prtica em bases lucrativas (...)" (Morton,
1970, p. 284). O novo movimento foi mais amplo e, diferentemente do pri-
meiro, foi realizado com proteo da lei, impedindo a reao daqueles que
se viam privados de seus meios de sobrevivncia.
Esse processo de transformao da realidade rural inglesa constituiu-se
em parte da chamada revoluo agrcola, que envolveu um conjunto de mo-
dificaes, como a mudana na forma de explorao da terra, a transformao
dos processos de cultivo agrcola e de criao de gado - tornando-os mais
efetivos, levando a um melhor aproveitamento da terra e do prprio gado e
a um grande aumento da produo para o mercado consumidor - e a maqui-
nizao da agricultura (que se difundiu mais lentamente do que na indstria).
Esse conjunto de modificaes foi transformando a agricultura de atividade
de sobrevivncia em indstria capitalista.
No final do sculo XVIII, a agricultura j estava preparada, de acordo
com Hobsbawm (1981), para exercer algumas funes primordiais em um
perodo de industrializao, como aumentar a produo e a produtividade, de
modo a alimentar a parte da populao envolvida em atividades industriais,
fornecer um grande excedente populacional para as cidades e atividades no
agrcolas, alm de se constituir num mecanismo para acmulo de capital a
ser usado na indstria.
Alm do fato de no ter encontrado competidores altura, possuir ca-
pital acumulado, grande mercado interno e externo - unificado e controlado
por interesses burgueses - e mo-de-obra abundante, disponvel e barata nas
cidades, uma quinta condio para a Revoluo Industrial refere-se ao fato
de a Inglaterra contar com abundncia de matria-prima.
(...) Com a criao da indstria txtil (empregando inicialmente como fonte
energtica a hidrulica e posteriormente a mquina a vapor) h o impulso da
indstria siderrgica, para a qual se contar com grande abundncia de carvo
de coque, matria-prima inexistente na poca, em quantidades anlogas In-
glaterra, no resto do continente europeu (...). (Cocho, 1980, p. 6)
267
Desde o final do sculo XVI, a minerao do carvo havia se expandido
grandemente no pas, j que, com o crescimento das cidades, havia necessi-
dade desse tipo de carvo para uso domstico, devido relativa escassez de
florestas na Inglaterra.
Por outro lado, essa escassez passou a dificultar a fundio de ferro,
que era essencial para as atividades industriais. Esse fato levou a que, em
meados do sculo XVIII, fossem retomadas as tentativas de utilizao do
coque, mas agora como um empreendimento comercial. Foram instaladas
usinas contando com inmeros aperfeioamentos.
O carvo de pedra foi essencial para o trabalho com minrios, para a
fundio do ferro, para o desenvolvimento da metalurgia, sem a qual no
poderia ter havido a maquinaria exigida pela indstria, particularmente a m-
quina a vapor.
J, no sculo XIX, segundo Hobsbawm (1981), o carvo era a principal
fonte de energia industrial, sendo a Gr-Bretanha a produtora de cerca de
90% da produo mundial.
A extrao do carvo, uma vez que ele no se encontrava uniformemente
distribudo pelo pas, levou, entre outros fatores, a um desenvolvimento no sistema
de transportes, no sculo XVIII, na forma de construo de canais. Esse desenvol-
vimento permitiu o transporte de carvo e de outras matrias-primas para a indstria,
abrindo ao comrcio regies at ento obrigadas a exercer atividades de subsistn-
cia. No incio do sculo XIX, tambm as estradas de rodagem foram desenvolvidas
e aperfeioadas por meio de melhorias tcnicas em sua construo.
O fato de contar com um sistema de transportes e comunicao desen-
volvido para os padres da poca constituiu-se na sexta condio para a
ecloso da Revoluo Industrial na Inglaterra. Esta contou, tambm, com
uma inveno bsica, que foi a ferrovia, revolucionando os transportes, abrin-
do para o mercado mundial regies at ento isoladas, desenvolvendo de
forma surpreendente o transporte e a comunicao.
O surgimento da ferrovia foi particularmente importante devido ao fato
de que sua imensa necessidade de
(...) ferro e ao, carvo, maquinaria pesada, mo-de-obra e investimentos de
capital (...) propiciava justamente a demanda macia que se fazia necessria
para as indstrias de bens de capital se transformarem to profundamente quan-
to a indstria algodoeira (...). (Hobsbawm, 1981, p. 62)
As condies comentadas levaram a uma configurao tal da realidade
da Inglaterra que a se desencadeou a Revoluo Industrial. Mas, o fato de
se descrever um incio no significa que houve tambm um fim, constituin-
268
do-se num fenmeno acabado. Pelo contrrio, esse um processo histrico
que ainda prossegue.
FRANA: A REVOLUO POLTICA
A Revoluo Francesa , inegavelmente, o maior acontecimento pol-
tico do perodo. Ela no s marcou profundamente a configurao geral da
Frana dos sculos XVIII e XIX como tambm a de toda a Europa do mesmo
perodo; alm disso, suas conseqncias chegam at nossos dias.
O historiador Eric J. Hobsbawm (1981) levanta trs fatores para sus-
tentar sua concluso de que a Revoluo Francesa pode no ter sido um
fenmeno nico, mas com certeza foi um fenmeno muito mais fundamental
que outros do perodo, e com conseqncias muito mais profundas. O pri-
meiro fator refere-se ao fato de a Revoluo ter ocorrido no mais populoso
e poderoso Estado da Europa (excetuando-se a Rssia); o segundo diz respeito
a ter sido efetivamente uma revoluo "social" de massa, diferentemente das
revolues que a precederam e a seguiram, e muito mais radical do que
qualquer uma delas; o terceiro fator a qualidade que o autor lhe confere
de ecumnica, pois somente seus exrcitos se propuseram, dentre todas as
revolues contemporneas, a revolucionar o mundo.
A Revoluo Francesa assim ' a' revoluo de seu tempo, e no apenas uma,
embora a mais proeminente do seu tipo. E suas origens devem, portanto, ser
procuradas no meramente em condies gerais da Europa, mas sim na situao
especfica da Frana (...). (Hobsbawm, 1981, p. 73)
Porm, para a compreenso de por que e quando a revoluo eclodiu e por
que tomou o curso que tomou, "(...) mais til considerarmos a chamada
'reao feudal' que realmente forneceu a centelha que fez explodir o barril
de plvora da Frana" (Hobsbawm, 1981, p. 74).
poca da Revoluo Francesa, que se iniciou em 1789, o pas era
governado por uma monarquia absolutista, a mais poderosa e autocrtica da
Europa, tendo como monarca Lus XVI. Essa monarquia lutava por uma
organizao das instituies que no tinham a menor uniformidade, no per-
mitindo uma padronizao administrativa e limitando a ao da prpria mo-
narquia. Nessa poca, a Frana era basicamente agrria e feudal, sendo que
cerca de 80% de sua populao era camponesa. Apesar das modificaes
ocorridas na realidade dos sculos anteriores, ainda se mantinham restos de
feudalismo, que funcionavam para manter os privilgios da nobreza e o poder
da monarquia. Assim sendo, apesar de os camponeses em geral serem livres
e proprietrios de terras, esse fato no lhes garantia a sobrevivncia. As terras
eram cultivadas por meio de tcnicas ainda muito atrasadas, e nas relaes
269
sociais de produo continuavam presentes vnculos feudais, que permitiam
nobreza e ao clero subsistir as custas dos camponeses (como tambm de
outras camadas no nobres da populao). Estes trabalhavam na terra e eram
extremamente sobrecarregados por numerosas taxas que pagavam ao Estado
(impostos), Igreja (dzimos) e aos nobres (taxas feudais que ainda persis-
tiam). A maior parte de seus ganhos era gasta dessa forma, e os camponeses
viviam constantemente insatisfeitos com sua precria situao.
-Esse sistema desigual de poder e privilgios era conseqncia de uma
forma ainda, medieval de organizao da sociedade francesa em ordens ou
tratados "() juridicamente desiguais entre si, possuindo cada ordem uma
condio e estatuto particular (...)", permitindo a concluso de que "(...)
muito embora a Idade Mdia estivesse morta, o feudalismo continuava vivo"
(Florenzano, 1982, p, 17). Ainda segundo esse autor, tal feudalismo no se
incompatibilizava com o aparecimento de uma economia e burguesia mer-
cantis, com o capital comercial, pelo menos enquanto no levasse a uma
desagregao das ralaes agrrias tradicionais. Portanto, a estrutura era tal
que havia o desenvolvimento de uma economia mercantil e o de uma bur-
guesia urbana, ambos absorvidos e integrados pela monarquia absolutista. O
autor complementa que toda riqueza obtida por meio da manufatura e do
comrcio beneficiava tanto a burguesia como a monarquia, integradas por
meio da teoria do mercantilismo.
A diviso da sociedade francesa em ordens ou estados dava-se de forma
que pelo primeiro e segundo estados eram compostos, respectivamente, pela
nobreza e pelo clero (aproximadamente 3% da populao). Segundo Floren-
zano (1982), antes da revoluo a aristocracia e os nobres em geral formavam
castas fechadas e hereditrias, cuidadosas de sua condio e tambm impe-
didas de exercerem funes no condizentes com elas, como atividades mer-
cantis e industriais. Eram isentas de impostos e taxas. Viviam de cargos no
Estado, rendas, ou das terras, por meio de direitos senhoriais e feudais. Aos
poucos, foram tomando conta de todas as funes e cargos do governo, sendo
que ao longo do sculo XVIII monopolizavam todo o aparelho do Estado,
da Igreja e do Exrcito.
O terceiro estado era formado pelos camponeses e pelas outras camadas
sociais que trabalhavam, pagavam impostos e, em geral, no usufruam de
privilgios: a burguesia e os sans culottes. A burguesia era a camada melhor
situada dentre as do terceiro estado, pois suas atividades mercantis e indus-
triais traziam-lhe riqueza. O s sans culottes eram constitudos pelo proletariado
urbano, que, alm de artesos e assalariados, contava tambm com desem-
pregados, marginais, etc. Estes estavam constantemente em situao de pau-
perizao e era freqente revoltarem-se contra ela.
270
A segunda metade do sculo XVIII assistiu, na Frana, ao desenvolvi-
mento de fatores que levariam a uma crise geral que iria se confrontar com
a estrutura quase feudal. No plano econmico houve um importante progres-
so, tanto no setor manufatureiro, como no comercial, principalmente no co-
mrcio exterior (inclusive colonial). Controlando os recursos desses setores,
a burguesia foi se tornando a mais importante categoria econmica francesa.
O mesmo fenmeno no se dava com a aristocracia, que, apesar de
contar com a iseno de impostos, gastava muito, e sua condio nobre a
impedia de exercer atividades ligadas indstria e ao comrcio. Para manter
os altos gastos que a sua condio exigia, necessitava cada vez mais aumentar
o nvel de explorao dos camponeses e reter firmemente seus privilgios,
como tomar conta de todos os cargos possveis dentro da administrao do
Estado. As alteraes econmicas pelas quais a Frana passava contrapu-
nham, portanto, aristocracia e burguesia e "() o mesmo processo que levava
a burguesia a aumentar sua presso sobre o Estado para que este abrisse as
portas aos cargos pblicos, fazia a aristocracia atuar em sentido inverso, exi-
gindo seu fechamento (...)" (Florenzano, 1982, p. 21). Ainda em termos eco-
nmicos, a monarquia enfrentava grave crise financeira, ocasionada tanto pela
manuteno de uma vida suntuosa como pelos gastos excessivos com a guerra
(a Frana aliara-se aos Estados Unidos em sua luta pela independncia em
relao Inglaterra).
No plano poltico, a situao da burguesia no acompanhava sua as-
censo econmica: por mais rica que fosse, no gozava de privilgios pol-
ticos prprios aristocracia. Essa camada, por sua vez, tambm desejava
estender seu poder dentro do Estado absolutista. De acordo com Florenzano
(1982), a aristocracia, desde a morte de Lus XIV (1715), vinha paulatina-
mente reativando velhos tribunais que podiam enfraquecer o poder real. Ainda
no plano poltico, havia problemas entre a burguesia e a monarquia, j que
esta no conseguia atender a burguesia, que exigia reformas em direo
liberdade de comrcio e produo. De acordo com Florenzano, tambm a
poltica exterior adotada trazia problemas, pois ela se destinava a atender
objetivos blicos da nobreza e a expanso territorial francesa, no visando o
desenvolvimento capitalista.
A monarquia recebia, portanto, ataques tanto da burguesia como da
aristocracia, apesar de, em ltima instncia, defender interesses aristocrticos.
Quando o rei necessitou realizar reformas fiscais que lhe permitissem fazer
frente crise econmica pela qual passava o Estado, desencadeou-se uma
reao aristocrtica. O s nobres, dominando as instncias de deciso, impe-
diam essas reformas a eles desfavorveis, pois tocavam em algumas de suas
prerrogativas fiscais. Pressionavam pela extenso de seus prprios privilgios
em troca de concordncia. Na anlise de Florenzano (1982), a nobreza
271
(...) no conseguiu jamais perceber que o despojamento, inclusive pela fora,
de suas prerrogativas polticas pessoais era uma condio para o salvamento
dos interesses coletivos de sua classe. Esta inconscincia histrica da nobreza
francesa (...) que explica seu passo em falso na segunda metade do sculo
XVIII, isto , sua revolta contra o absolutismo (...). (p. 31)
A crise tambm ocorreu no plano social, que no havia se alterado de
acordo com a mudana pela qual a realidade passava. A burguesia forava
cada vez mais sua ascenso numa sociedade dominada pelos valores de um
nascimento nobre, e se entusiasmava com as idias iluministas, que eram
expresso exatamente dos interesses burgueses.
Essas idias tambm desempenharam seu papel no desencadeamento
da Revoluo Francesa. Hobsbawm (1981) salienta que um surpreendente
consenso de idias gerais - as do liberalismo clssico - entre um grupo social
bastante coerente - a burguesia - deu uma unidade efetiva ao movimento
revolucionrio. A presso da aristocracia tornou-se cada vez mais efetiva: a
"Assemblia de Notveis" (cujos membros eram escolhidos pelo rei), con-
vocada em 1787 para aprovar as medidas reais, no as aprovou. A aristocracia
exigiu, ento, a convocao dos Estados Gerais do reino, uma velha assem-
blia feudal que no se reunia havia muito tempo.
O incio da Revoluo caracterizou-se por uma "(...) tentativa aristo-
crtica de capturar o Estado (...)" (Hobsbawm, 1981, p. 76), tentativa essa,
ainda segundo esse autor, mal calculada por duas razes: subestimou as in-
tenes prprias do terceiro estado, que tambm estava representado na as-
semblia, e no levou em conta a tremenda crise scio-econmica em meio
qual colocava suas exigncias: retrao econmica e ms colheitas, num
perodo de inverno rigoroso.
O s Estados Gerais foram convocados para 1789. Nessa assemblia,
alm do primeiro e segundo estados, o terceiro estava tambm representado
(s que, como a votao era feita por ordem e no individualmente, sempre
a nobreza e o clero tinham dois votos). Dada a situao geral e o fato de
contar com o apoio popular, o terceiro estado conseguiu no s aumentar o
nmero de seus deputados, como alterar o sistema de votao para um outro,
no qual o voto se dava por indivduo (no por ordem), conseguindo, dessa
forma, transformar a instituio em Assemblia Constituinte.
A aristocracia, no tendo conseguido seus objetivos e percebendo a
possibilidade de perder o controle da situao, voltou a fazer aliana com a
monarquia para impedir as reformas em curso. Tentaram revogar pela fora
as decises da assemblia e fech-la, sendo impedidos por uma revoluo
popular, que teve um resultado muito significativo, em 14 de julho de 1789,
com a queda da Bastilha.
272
(...) O resultado mais sensacional de sua [massa de Paris] mobilizao foi a
queda da Bastilha, uma priso estatal que simbolizava a autoridade real e onde
os revolucionrios esperavam encontrar armas. Em tempos de revoluo nada
mais poderoso do que a queda de smbolos (...). (Hobsbawm, 1981, p. 79)
Esse levante, juntamente com o das massas camponesas, tornou o movimento
irresistvel: "() trs semanas aps o 14 de julho, a estrutura social do feu-
dalismo rural francs e a mquina estatal da Frana Real ruam em pedaos
(...)" (Hobsbawm, 1981, p. 80). O rei foi obrigado a aceitar a situao de
fato, reconhecendo a Assemblia Nacional Constituinte.
Nesse momento, a burguesia moderada comeou a ficar preocupada
com a possibilidade de perder o controle dos rumos da revoluo e passou
a tomar providncias para estabilizar a situao, formando guardas nacionais
e decretando, por meio da Assemblia, o fim do feudalismo.
Monarquia Constitucional (1789-1792) - A burguesia moderada, uma
vez vitoriosa e inspirada numa filosofia liberal, passou a promover reformas,
por meio da Assemblia Constituinte, tendo em vista levar o pas em direo
ao capitalismo. A Constituio de 1791 previa igualdade para todos, perante
a lei e o Estado, e liberdade no plano religioso e econmico. Na prtica,
porm, era importante impedir que as massas populares tivessem participao
poltica, e a organizao do Estado, em consonncia com esse imperativo,
no permitiu essa participao. Alm disso, como a preocupao da burguesia
era preservar seu prprio poder e construir um Estado que atendesse a seus
interesses, e, para tanto, era necessrio que se formassem alianas - inclusive
com o antigo poder -, instalou-se no pas uma monarquia constitucional na
qual a burguesia, por meio das instituies, tentou de todas as formas esta-
bilizar o novo regime. Mas as novas propostas do governo desagradavam
no s a monarquia e a aristocracia (que tinham esperanas da volta do ab-
solutismo) como, tambm, as massas populares, por exemplo, os sans culot-
tes, que no ganharam direito participao poltica, e os camponeses, que
passaram a ter que arcar com o pagamento da extino dos direitos feudais.
Desagradavam, tambm, a Igreja, j que seus bens haviam sido confiscados
e havia sido aprovada uma constituio civil do clero, contrria aos interesses
da Igreja. Alm disso, a poltica econmica adotada ocasionou uma alta de
preos, levando os mais pobres revolta.
O desencadeamento da guerra que a Frana manteve contra a Europa
reiniciou o movimento revolucionrio. De acordo com Hobsbawm (1981) a
guerra era desejada tanto pela extrema direita (o rei, a nobreza e o clero)
como pelos liberais moderados. A primeira, por acreditar que a interveno
de monarquias estrangeiras poderia permitir a volta ao velho regime, j que
estas deveriam ter interesse em restaurar a monarquia francesa, como, tam-
273
bm, em impedir que as idias consideradas perigosas, vindas da Frana, se
difundissem. O s liberais moderados desejavam a guerra movidos pelo desejo
de difundir a liberdade, levando o movimento francs para outros povos opri-
midos. Alm disso, a guerra poderia ajudar a solucionar problemas internos,
tanto por dirigir para o exterior o descontentamento com o novo regime como
por poder propiciar lucros.
O s fracassos iniciais dos exrcitos franceses foram atribudos traio
do rei, aumentando os anseios pela proclamao da repblica. O s- sans cu-
lottes levantaram o povo e conseguiram a priso do rei, encerrando uma
primeira fase de perodo revolucionrio, com a suspenso da monarquia cons-
titucional e uma direo da sociedade mais claramente burguesa, por meio
da convocao de uma assemblia - a conveno - eleita por sufrgio uni-
versal. Essa segunda fase foi a mais radical da revoluo e foi aquela que
aboliu a monarquia, instituindo a Primeira Repblica (1792).
Primeira Repblica (1792-1794) - A assemblia dessa repblica reunia
trs posies polticas: a dos girondinos, direita - representantes da alta
burguesia e que defendiam uma repblica liberal que garantisse a liberdade,
mas que no previsse a participao poltica das massas populares -; a dos
jacobinos, esquerda - representantes da mdia e pequena burguesias, de-
mocratas que defendiam a organizao financeira do pas e a igualdade acima
de tudo -; e uma posio mais ao centro, a maioria, que apoiava os giron-
dinos.
A princpio predominantes no governo, os girondinos foram derrubados
pelos jacobinos, liderados por Robespierre e apoiados pelos sans culottes
frente do povo de Paris (1793). O s girondinos foram expulsos da conveno.
Hobsbawm (1981) comenta a derrubada dos girondinos pelos jacobinos,
argumentando que tinham posies diferentes: enquanto os ltimos acredita-
vam que deveria ser estabelecido um governo revolucionrio de guerra, os
girondinos temiam as conseqncias polticas de se ter uma revoluo de
massa interna ao pas associada a uma guerra externa. Alm disso, os giron-
dinos queriam expandir a guerra para uma cruzada ideolgica de libertao
e para contrapor-se ao grande rival econmico da Frana - a Inglaterra. Ana-
lisa tambm que os girondinos no queriam julgar e executar o rei - o que
acabou ocorrendo, em janeiro de 1793 -, mas tinham que competir com os
jacobinos, que ganhavam prestgio. Complementando, coloca que a expanso
da guerra, quando esta passava por um momento difcil, fortaleceu a posio
mais esquerda, dos jacobinos, j que estes eram os nicos que poderiam
venc-la.
Esse perodo da revoluo, a que autores se referem como "o terror",
com a direo da conveno por Robespierre, constituiu-se num imenso es-
274
foro para livrar o pas, numa situao extremamente crtica e ainda em guer-
ra, da invaso estrangeira e preservar a revoluo e o Estado nacional, o que
foi conseguido por meio do terror (execues efetuadas pela populao, ter-
rorismo contra aqueles considerados traidores e especuladores) e da ditadura,
um regime duro, com rigoroso controle da economia. O regime jacobino
levou adiante a elaborao de uma nova constituio, bem mais democrtica
que a de 1791, estendendo bastante os direitos do povo. Segundo Hobsbawm
(1981), "(...) foi a primeira constituio genuinamente democrtica procla-
mada por um Estado Moderno (...)" (p. 87).
A poltica dos jacobinos foi um sucesso, e justamente esse sucesso, de
acordo com Florenzano (1982), constituiu-se na razo de sua queda, pois,
uma vez bem-sucedida, eliminava as causas da ascenso dos jacobinos, e as
foras contrrias, que apenas haviam tolerado as medidas em vigor, retiraram
seu apoio. Alm disso, os jacobinos tiveram que ir precisando cada vez mais
quais interesses realmente iriam atender. Apesar de o governo tender para a
esquerda, constitua-se numa aliana entre classes que obviamente no tinham
os mesmos interesses, por isso os ja-cobinos tiveram que afastar o apoio das
massas populares, e Robespierre, isolado, caiu (1794).
Repblica Termidoriana
2
(1794-1799) - Florenzano (1982) descreve
esse perodo como aquele em que os girondinos, que aps a queda de Ro-
bespierre haviam voltado a fazer parte da conveno, foram assumindo po-
sies cada vez mais conservadoras, com proibies de associaes que ti-
vessem carter poltico, e permitindo perseguies aos jacobinos remanes-
centes pelos filhos dos burgueses ricos. Alm disso, a situao econmica
viu-se agravada, houve misria no inverno de 1794-1795 devido volta do
liberalismo econmico, misria que contrastava com a exibio de luxo e
riqueza a que a burguesia se entregava, pois, com o fim da ameaa da gui-
lhotina sobre suas cabeas, especuladores, traficantes e agiotas podiam sen-
tir-se seguros.
A Constituio elaborada no perodo era menos liberal que a primeira
(1791) e procurava expressar os interesses da alta burguesia, agora dominan-
tes. O poder executivo ficava nas mos de cinco diretores, da o nome de
Diretrio dado ao regime desse perodo. Mas este foi incapaz de equilibrar
as foras das diferentes oposies que recebia de partidrios da monarquia
e da esquerda, bem como de fazer frente as crises econmicas.
Ao lado disso, o exrcito ganhava cada vez maior importncia, j que
mantinha a guerra fora da Frana - continuava a luta contra os inimigos
2 Esse termo deriva do ms de termidor (19 de julho a 18 de agosto) do novo calendrio
revolucionrio.
275
externos da revoluo -, e era tambm cada vez mais necessrio para manter
a ordem interna. Gozava tambm de autonomia, uma vez que se mantinha
com recursos prprios. Essas condies foram suficientes para possibilitar
uma tomada de poder pelo exrcito, o que foi realizado pelo general Napoleo
Bonaparte. Segundo Hobsbawm (1981), o general tinha um interesse inves-
tido na estabilidade, como qualquer outro burgus de seu tempo e como
aqueles que ingressavam no exrcito, e foi "() isto que fez do exrcito, a
despeito de seu jacobinismo embutido, um pilar do governo ps-termidoriano,
e de seu lder Bonaparte uma pessoa adequada para concluir a revoluo
burguesa e comear o regime burgus (...)" (p. 92). Marx (1985) refere-se
ao perodo na sua obra O 18 Brumrio de Lus Bonaparte:
(...) Camile Desmoulins, Danton, Robespierre, Saint-Just, Napoleo, os heris,
os partidos e as massas da velha Revoluo Francesa, desempenharam a tarefa
de sua poca, a tarefa de libertar e instaurar a moderna sociedade "burguesa",
em trajes romanos e com frases romanas. O s primeiros reduziram a pedaos a
base feudal e deceparam as cabeas feudais que sobre ela haviam crescido.
Napoleo, por seu lado, criou na Frana as condies sem as quais no seria
possvel desenvolver a livre concorrncia, explorar a propriedade territorial di-
vidida e utilizar as foras produtivas industriais da nao que tinham sido li-
bertadas; alm das fronteiras da Frana, ele varreu por toda a parte as
instituies feudais, na medida em que isto era necessrio para dar sociedade
burguesa da Frana um ambiente adequado e atual no continente europeu (...).
(pp. 329-330)
A tomada de poder de Napoleo deu-se em 18 brumrio (9 de novem-
bro) de 1799 e marcou o final da Revoluo Francesa.
Comentaremos a seguir alguns acontecimentos que ocorreram na Frana
durante o perodo napolenico e que constituram conseqncias da revoluo.
Em 1798-1799 a Frana estava em guerra com a Inglaterra, a ustria
e a Rssia, com Napoleo frente das foras francesas. Este havia decidido
atacar a Inglaterra por meio do Egito e do O riente, e sua esquadra foi des-
truda na batalha do Nilo. O s trs aliados infligiram pesadas derrotas a Na-
poleo, e este voltou Frana. Uma vez em seu pas, derrubou o Diretrio,
que atravessava grave crise de prestgio e credibilidade, face s derrotas na
guerra e sua forma de conduzir a economia.
O s conspiradores elaboraram uma Constituio transformando a Frana
num sistema de governo chamado Consulado, com Napoleo como primeiro
cnsul. Em 1802 seu cargo, que a princpio era de dez anos, tornou-se vita-
lcio. Dois anos depois, o Consulado transformou-se em Imprio, e Napoleo
em imperador dos franceses.
276
A Frana ainda se mantinha em guerra com a Inglaterra, a ustria e a
Rssia, que formavam uma coligao. Napoleo primeiramente convenceu
os russos a se retirarem da coligao, depois venceu a ustria (1800) e ne-
gociou a paz com os ingleses (1802).
A paz foi breve, pois, em 1805, formou-se uma outra coligao contra
a Frana: Inglaterra, Rssia, ustria e Sucia. De 1805 a 1807, Napoleo
venceu a ustria - novamente; a Prssia - marchando sobre Berlim, toman-
do-lhe metade de seus territrios e tornando-a quase um sdito da Frana; e
a Rssia - com a qual acabou estabelecendo uma aliana.
Tendo dificuldade em guerrear diretamente com a Inglaterra, dada a
sua inferioridade no mar, decidiu fazer-lhe frente indiretamente, destruindo
seu comrcio por meio do bloqueio continental, segundo o qual todos os
Estados ligados Franca deviam boicotar as mercadorias inglesas.
Apesar de todas essas vitrias e de dominar to grande parte da Europa,
dificuldades internas e externas comearam a provocar a queda de Napoleo.
Essas dificuldades culminaram com o rompimento da aliana com a Rssia
e a sua subseqente invaso (1812) pelos franceses, que foram desolados.
Essa derrota desencadeou outras guerras contra Napoleo por parte de ter-
ritrios dominados pela Frana. O imprio francs ruiu e o pas foi invadido
em 1814. Napoleo ainda tentou voltar ao poder no ano seguinte, mas foi
derrotado na famosa batalha de Waterloo, na Blgica. Morton (1970) analisa
esse perodo napolenico como sendo um perodo em que a princpio os
exrcitos franceses foram recebidos como libertadores pelas classes mdia e
inferior dos pases conquistados, tendo eles levado a revoluo burguesa a
muitos locais da Europa. Porm, pouco a pouco, esses povos foram perce-
bendo que sempre haveria subordinao de seus interesses aos da Frana.
Pagavam pesados impostos e viam seus filhos serem recrutados pelos exr-
citos franceses. A guerra parecia essencial para a estabilidade do regime na-
polenico, mas essa guerra s podia ser empreendida pela sistemtica explo-
rao dos territrios "libertados" e havia sempre um maior nmero de ter-
ritrios que necessitava ser "libertado" e explorado. Complementa acrescen-
tando que essa contradio foi levando os franceses a perderem o apoio jus-
tamente das classes que por eles haviam sido levadas a maior maturidade
poltica.
Segundo Hobsbawm (1981),
(...) a Frana como Revoluo inspirava os outros povos do mundo a der-
rubarem a tirania e abraarem a liberdade, sofrendo em conseqncia a opo-
sio das foras conservadoras e reacionrias (...). Ao final do reinado de
Napoleo, o elemento conquista e explorao imperial prevalecia sobre o ele-
mento libertao sempre que as tropas francesas derrotavam, ocupavam ou
277
anexavam algum pas, e assim a guerra internacional ficava muito menos mes-
clada com a guerra civil internacional (e, em cada caso, domstica) (...).
(pp. 95-96)
Aps a queda de Napoleo houve tendncia a um fortalecimento de
posies cada vez mais conservadoras, um desejo de ordem, no somente na
Frana como, principalmente, nos pases que haviam sado vitoriosos dessa
guerra contra ela.
ALEMANHA: A REVOLUO TARDIA
Enquanto a Inglaterra, j na segunda metade do sculo XVIII, havia
feito a sua Revoluo Industrial, consolidando o capitalismo como modo de
produo dominante, o processo de industrializao da Alemanha e o conse-
qente desenvolvimento do capitalismo nesse pas foram bastante tardios. A
Alemanha era uma nao relativamente atrasada, se comparada maioria dos
pases da Europa O cidental, e tinha forte herana medieval. At meados do
sculo XIX era basicamente agrria - cerca de dois teros de sua populao
vivia do que retirava da terra - e permaneciam instituies feudais. Grande
parte das terras encontrava-se em mos de uma aristocracia territorial (os
junkers prussianos), que mantinha com os camponeses de seus domnios re-
laes feudais. O s centros urbanos eram habitados fundamentalmente por
pequenos comerciantes, economicamente dependentes dos senhores e que,
conseqentemente, tendiam a apoiar instituies feudais. A burguesia indus-
trial existente nesses centros urbanos era mnima, as indstrias muito peque-
nas, empregando poucos trabalhadores. A maior parte dos artigos manufatu-
rados era produzida por artesos, e at meados do sculo XIX em apenas
umas poucas regies se desenvolveu a indstria moderna. Foi somente na
segunda metade do sculo XIX que a Alemanha conseguiu realizar a sua
Revoluo Industrial, tornando-se, ento, uma grande potncia capitalista.
O fato de ter tido um desenvolvimento tardio do capitalismo industrial
fez com que a Alemanha, durante o seu processo de industrializao, tivesse
que enfrentar um competidor capitalista firmente estabelecido - a Inglaterra
- com o qual tinha que disputar mercados para os seus produtos, o que
contribuiu para dificultar seu desenvolvimento industrial e se constituiu em
um fator de retardamento do mesmo.
Algumas outras condies contriburam para retardar o desenvolvimen-
to do capitalismo industrial na Alemanha e sero comentadas a seguir.
Uma dessas condies foi a falta de unidade poltica e econmica do
pas. A Alemanha era composta por um conjunto de estados independentes
(parte da ustria, parte da Prssia, parte da Dinamarca, alguns ducados e
278
algumas "cidades livres"), que, desde 1815, formavam a Confederao Ger-
mnica, mas no constituam um Estado poltica e economicamente uni-
ficado. Cada estado controlava sua prpria poltica econmica e em con-
seqncia dessa desunio existiam internamente barreiras tarifrias, dificul-
tando a formao de um mercado interno para a circulao das mercadorias
ali produzidas. Somente em 1834 deu-se a unio econmica dos Estados
alemes e foram eliminadas as barreiras tarifrias que entravavam o comrcio
em nvel nacional. Essa unificao econmica precedeu a unificao poltica
(que s se deu na segunda metade do sculo XIX), tornando-a, entretanto,
uma exigncia para assegurar a primeira.
Assim, enquanto a Inglaterra era j um pas unificado econmica e
politicamente, em que, desde o sculo XVII, a burguesia havia derrubado a
monarquia absolutista e tomado o poder, possibilitando, assim, a adoo de
medidas que atendessem aos seus interesses, promovendo as atividades in-
dustriais e comerciais; e enquanto na Frana a Revoluo de 1789 tambm
colocara no poder a burguesia, a Alemanha permanecia dividida em muitos
estados, quase sempre sob governos despticos, mais preocupados em defen-
der os interesses de grandes proprietrios de terras do que de comerciantes,
industriais e demais setores sociais. Na ustria, por exemplo, por volta de
1790, uma tentativa do rei Leopoldo II de estabelecer uma monarquia baseada
em instituies representativas relativamente igualitrias teve pequena dura-
o. O sucessor de Leopoldo II - Francisco II - colocou-se contrrio s
reformas iniciadas e adotou uma srie de medidas para cont-las: reconciliou
o Estado com as aristocracias, eliminou a representao poltica dos campo-
neses, reativou a polcia secreta, censurou a imprensa, retomou obrigaes
feudais amenizadas durante o governo de Leopoldo II; em 1796 o feudalismo
perdurava na ustria.
Segundo Bergeron, Furet e Koselleck (1984), embora a Revoluo
Francesa tenha tido repercusses na Alemanha (por exemplo, nas universi-
dades, onde as idias da Revoluo Francesa tiveram espao entre os inte-
lectuais; entre membros da elite burocrtica ilustrada de Berlim, que desejava
o triunfo de um Estado racional; entre comerciantes banqueiros de alguns
estados, que aspiravam a uma sociedade dominada pela elite do dinheiro e
das luzes), os focos de liberalismo eram limitados e localizados, desordena-
dos, e sua ideologia no penetrava na massa da sociedade alem. Alm disso,
a evoluo dos acontecimentos na Frana, em direo instabilidade e
violncia, gerou certo temor na Alemanha, inclusive entre os simpati-
zantes da Revoluo Francesa, mais afeitos a reformas vindas de cima do
que a uma revoluo com a participao popular. Assim, j iniciado o sculo
XIX, era ainda bastante restrita, na Alemanha, a difuso dos ideais da Re-
voluo Francesa.
279
Em 1848, entretanto, na esteira de uma onda revolucionria que se
iniciou na Frana e abalou toda a Europa continental, estoura na Alemanha
uma Revoluo, a princpio na ustria, estendendo-se depois aos demais
estados componentes da Confederao Germnica, onde comearam a se di-
fundir as idias de unificao da Alemanha, de formao de um Estado na-
cional e de um governo mais liberal. Essas idias passaram a ser defendidas
tanto pelos nacionalistas, desejosos de uma unidade cultural e racial, quanto
pelos homens de negcios, interessados no florescimento do comrcio, quan-
to, ainda, pela classe trabalhadora, que, influenciada por idias socialistas
que comeavam a ser difundidas, questionava a estrutura social da Alemanha.
A unificao alem deu-se na metade do sculo XIX, sob a direo de O tto
von Bismarck, membro da nobreza rural da Prssia, os junkers, e que durante
o movimento revolucionrio de 1848 foi um defensor da monarquia de direito
divino. Bismarck contribuiu para a formao do Partido Conservador, porta-
voz dos interesses dos junkers, da Igreja oficial e do exrcito. Nomeado
presidente do conselho de ministros da Prssia, em 1862, Bismarck preparou
passo a passo a unificao alem, tendo a Prssia como ncleo do futuro
Estado nacional: eliminou, pela guerra, a ustria de sua posio hegemnica
na Confederao Alem; incentivou uma guerra entre a Frana e a Prssia,
como meio de despertar o nacionalismo alemo nos estados mais resistentes
unificao. Ao se desenvolver a guerra, foram sendo feitas negociaes
segundo as quais a Alemanha se uniria num imprio, sob o domnio da Prs-
sia. Em 1871, Guilherme I (rei da Prssia) foi proclamado imperador da
Alemanha, e Bismarck, agora prncipe, tornou-se o primeiro chanceler do
Imprio. A constituio que veio a reger esse imprio era bastante conser-
vadora, com poucas conquistas democrticas.
Cocho (1980) afirma sobre o movimento revolucionrio ocorrido na
Alemanha:
O s acontecimentos de 1848 na Frana influenciam e precipitam os aconteci-
mentos na Alemanha: movimentos populares que inicialmente unem a classe
trabalhadora e a burguesia contra as caducas estruturas feudais exigem a abo-
lio dos privilgios feudais, liberdade de imprensa, abolio da censura, direito
de associao poltica, liberdade e igualdade de cultos, inclusive armas ao
povo... Em Viena a classe trabalhadora e a burguesia se levantam (a ustria
era o pas alemo social e politicamente mais atrasado, que mais insatisfaes
tinha contra o poder feudal) e expulsam o odiado prncipe de Metternich, go-
vernante absolutista do pas; ao levantamento austraco segue-se o de Berlim,
e assim sucessivamente em toda a Confederao Germnica. Apesar de tudo,
ao longo dos acontecimentos, os blocos sociais em luta mudaram de compo-
sio interna: os acontecimentos franceses ensinavam que o levante de Paris
era o levante da classe trabalhadora contra exatamente o tipo de governo que
280
a burguesia alem sonhava implantar no pas; disto foi particularmente cons-
ciente a burguesia prussiana. Em conseqncia disto, forma-se um novo bloco
histrico, burguesia e velhas classes feudais contra a classe trabalhadora: os
acontecimentos revolucionrios terminaram, assim, sendo abafados, mas dai
surgir um Estado burgus, com mscara jurdico-poltica ao velho estilo feu-
dal, que integrar unitariamente a Alemanha (...) em torno da Prssia; a poca
do famoso "chanceler de ferro": Bismarck (...). (pp. 14, 15)
Anteriormente mencionamos a dificuldade de criao de um mercado
interno para a circulao das mercadorias produzidas nos Estados alemes,
em funo da ausncia de unidade econmica e poltica, como uma condio
para o retardamento do desenvolvimento capitalista na Alemanha. A essa
condio acresce-se o fato de que, externamente, o comrcio alemo era di-
ficultado pela ausncia de colnias. Enquanto nos sculos XVI e XVII alguns
pases da Europa lanaram-se conquista de outras terras, os Estados ale-
mes, envolvidos em problemas internos, no participaram da luta pelas co-
lnias, e a ausncia destas dificultava o escoamento de seus produtos para
fora do pas.
O utro fator que retardou o desenvolvimento do capitalismo alemo foi
o fato de que a imensa maioria da populao habitava a zona rural, sendo
que apenas um quarto dos habitantes se concentrava nas cidades. Isto difi-
cultava a criao da mo-de-obra necessria para o desenvolvimento da in-
dstria capitalista.
Ainda uma outra condio foi o fato de que as redes de comunicao
com que contava a Alemanha, at a metade do sculo XIX, eram insuficientes
para o transporte de mercadorias. De acordo com Henderson (1979), s depois
da unificao das alfndegas alems, da construo das estradas de ferro em
1840 e da unificao poltica em 1871 que se intensificou enormemente o
ritmo da industrializao alem.
O progresso econmico da Alemanha foi ainda entravado por condies
geogrficas desfavorveis; a Alemanha no contava, at a metade do sculo
XIX, com uma importante fonte de energia para a indstria: o carvo de
pedra. Isto porque as principais jazidas de carvo localizavam-se na periferia
do pas e s puderam ser convenientemente exploradas depois que foram
construdas as estradas de ferro. At ento, em vez do carvo de pedra, uti-
lizava-se o carvo de lenha, de baixo poder energtico, inadequado para o
desenvolvimento de uma indstria siderrgica.
Alm desses fatores, o envolvimento da Alemanha em uma srie de
guerras deixou um saldo muito negativo. Burns (1979) afirma que a misria
que se seguiu ao envolvimento da Alemanha na Guerra dos Trinta Anos (de
1618 a 1648, entre a dinastia dos Habsburgos - que dominava a ustria,
281
entre outros pases - e a dos Bourbons - da Frana), em que cerca da metade
da populao alem perdeu a vida por causa da fome, das doenas e dos
ataques de soldados que visavam pilhagem, retardou em pelo menos um
sculo a civilizao na Alemanha; a Guerra dos Sete Anos (de 1756 a 1763,
que culminou a disputa de cerca de um sculo entre a Inglaterra e a Frana
pelo domnio do comrcio ultramarino e do imprio colonial), em que a
ustria se aliou Frana e a Prssia Inglaterra, deixou severas marcas: no
final da guerra, a populao da Prssia baixara enormemente, cidades haviam
sido destrudas e lavouras devastadas, gerando escassez de comida em algu-
mas regies, e as finanas pblicas e a administrao civil encontravam-se
em estado catico; as guerras napolenicas (1798 a 1813) deixaram a Prssia
muito endividada, o que dificultou o desenvolvimento da poltica econmica
do governo.
Por tudo isso, s na segunda metade do sculo XIX a Alemanha se
tornou uma grande potncia capitalista industrial, depois de ter conseguido
sua unificao poltica, impulsionada pela burguesia, que precisava de um
mercado nacional para seus produtos.
Segundo Cocho (1980), o Estado alemo, sob a liderana de Bismarck,
teve um papel centralizador fundamental na Revoluo Industrial alem: es-
tatizou a maior parte das estradas de ferro, decisivas na unificao e desen-
volvimento econmico do pas; desenvolveu a frota alem; imps o prote-
cionismo econmico para defender o mercado interno; enfim, programou o
crescimento econmico do pas, de tal sorte que no incio do sculo XX a
Alemanha havia se tornado a maior nao industrial da Europa.
O PENSAMENTO NUM PERO DO DE REVO LU ES
Embora seja bastante difcil propor uma sntese do que foi o pensa-
mento do sculo XVIII e primeira metade do XIX, possvel tentar destacar
algumas tendncias desse pensamento, apontar rumos em direo aos quais
ele se desenvolveu.
O pensamento desse perodo foi profundamente marcado pela ascenso
econmica e poltica da burguesia e tendeu a refletir as idias, interesses e
necessidades dessa classe. Pode-se dizer que ele expressou, embora de dife-
rentes formas e em graus variados, trs valores bsicos da sociedade burgue-
sa: a liberdade, o individualismo e a igualdade.
A noo de liberdade expressa-se nas idias dos economistas clssicos,
que defendem o livre comrcio e a livre concorrncia e a suspenso de todas
as limitaes s atividades comerciais e industriais, impostas pelo mercanti-
lismo; a economia deve se fazer por si mesma, segundo leis naturais. Con-
282
seqncia dessa maneira de pensar a defesa da liberdade de crenas e idias.
"(...) A liberdade de comrcio, que era para a burguesia uma questo vital,
trouxe tambm consigo, como uma conseqncia necessria, a liberdade desse
outro comrcio de crenas e de idias (...)" (Ponce, 1982, p. 129).
Uma outra expresso dessa noo de liberdade aparece na crena de
que por meio de instituies e educao livres, subtradas influncia da
Igreja e do rei, o homem poderia aperfeioar-se. Essa crena surge entre os
filsofos franceses do sculo XVIII, Voltaire (1694-1778) e Rousseau (1712-
1788) e refletem a influncia de Newton e Locke. Voltaire critica a nobreza
e as instituies que limitam a liberdade individual, sendo contrrio a qual-
quer forma de religio organizada e de despotismo poltico; um defensor
das idias liberais, da liberdade poltica e de expresso. Montesquieu (1689-
1755), um outro filsofo francs, preocupa-se com a instaurao de um sis-
tema de governo e de leis em que a liberdade seja preservada e v na Cons-
tituio inglesa, em que os poderes pblicos so limitados uns pelos outros
e no agem arbitrariamente, um exemplo desse sistema.
A noo de liberdade era defendida pela burguesia nesse momento de
sua histria porque era compatvel com seus anseios de pr fim a quaisquer
restries as suas atividades. No devemos nos esquecer, entretanto, de que,
em sculos anteriores, a prpria burguesia agira de forma claramente contrria
liberdade (como, alis, viria a fazer tambm em sculos subseqentes), por
exemplo, quando apoiara o absolutismo e as prprias polticas mercantilistas
que agora combatia. Alm disso, as noes de liberdade e igualdade eram
entendidas, no sculo XIX, de forma bastante restrita: eram a liberdade e a
igualdade burguesas e no se estendiam massa. Havia, segundo Bernal
(1976b), bastante
(...) relutncia dos homens de cultura e propriedade em aplicar demasiado li-
teralmente o lema da liberdade, igualdade e fraternidade. A tentativa para apli-
car a filosofia social dos iluministas durante a Revoluo Francesa revelara
srias limitaes; revelara especialmente a pequenssima medida em que as
novas idias diziam respeito vida dos camponeses e trabalhadores mais po-
bres, que constituam a grande massa das populaes. Tinham sido eles - o
povo - quem dera Revoluo o seu mpeto; contudo, uma vez conseguidos
os seus objetivos imediatos - a abolio das restries feudais sobre o lucro
privado - esse mesmo povo passou a ser a populaa, uma ameaa suspensa
permanentemente em frente dos olhos dos proprietrios (...). (p. 552)
Alguns dos prprios filsofos que muito falaram em liberdade e igualdade
tiveram um entendimento algo restrito de seu significado.
Montesquieu, um descendente de famlia nobre, quando defendia a
Constituio inglesa como exemplo de sistema de leis que preservava li-
283
berdade, baseava sua defesa no fato de que nesse caso os poderes pblicos
no agiam arbitrariamente. Entretanto, o limite sua ao era dado pela
relao entre eles e no pelo povo. Montesquieu era contrrio democracia,
tanto quanto ao absolutismo, e favorvel a uma monarquia parlamentar. Ainda
no que diz respeito ao entendimento das noes de liberdade e igualdade,
verificamos que, enquanto Diderot (1713-1784), um representante das aspi-
raes dos artesos e operrios, defendia a instruo para todos, inclusive
para o mais humilde campons, Voltaire, um representante da alta burguesia
e da nobreza letrada, ao defender a necessidade de destruir a crena na religio
crist, considerava que isto s deveria ser feito junto s classes abastadas,
pois considerava a massa indigna de ser esclarecida. Tambm Rousseau, um
representante da burguesia, no se preocupou com a educao das massas,
mas apenas de uma elite.
A questo relativa ao que ensinar e para quem ensinar constituiu um
ponto de divergncia entre pensadores desse perodo. Alguns deles defendiam
a idia de haver diferentes tipos de educao para indivduos de diferentes
classes sociais, sendo que aqueles que pertencessem s classes mais pobres
deveriam receber menos "instruo" e mais treinamento em atividades ma-
nuais.
A burguesia defendia instruo para o povo porque no novo sistema
fabril uma educao elementar era necessria ao operrio; entretanto, defendia
diferentes tipos de instruo para diferentes tipos de operrios: educao pri-
mria para a massa de trabalhadores no especializados, educao mdia para
os trabalhadores especializados e educao superior para os altamente espe-
cializados.
Na Inglaterra, nesse perodo, a escola primria tinha por objetivo pre-
parar a classe operria para o trabalho. As universidades, entretanto, no
cumpriam o papel de preparar os trabalhadores especializados. Segundo Co-
cho (1980), o avano da Inglaterra em relao aos outros pases, no que diz
respeito industrializao, colocou-a numa situao sem competidores de
porte. Em decorrncia disso, no havia necessidade vital de mudana contnua
no aparato produtivo, de forma que, nesse pas, no foi desenvolvida, ento,
uma poltica cientfica institucional por parte do Estado. As universidades
inglesas eram dominadas pela teologia e pela metafsica e no estavam pre-
paradas para dirigir o avano cientfico e para responder s exigncias da
indstria, o que levou a burguesia a preparar seus operrios especializados
em escolas tcnicas e laboratrios junto s fbricas. O s prprios membros
da burguesia, entretanto, recebiam um saber livresco e divorciado da cincia
e da prtica. Bernal (1976b) afirma que em fins do sculo XVIII o renasci-
mento cientfico, na Gr-Bretanha, no partia mais, como fizera no sculo
anterior, de centros de atividade intelectual, como O xford, Cambridge e Lon-
284
dres, mas de centros de atividade industrial, como Leeds, Glasgow, Edim-
burgo, Manchester e, principalmente, Birmingham.
J, na Alemanha, que tinha de superar um grande atraso histrico em
relao ao seu competidor mais importante - a Inglaterra -, a necessidade
premente de inovaes tecnolgicas constantes, para a modernizao do apa-
rato produtivo industrial, levou ao desenvolvimento de uma poltica cientfica
institucional, de uma educao orientada formao tcnico-cientfica e no
a estudos humanistas.
O individualismo, outro valor da sociedade burguesa, expresso na de-
fesa dos direitos do indivduo, empreendida pela burguesia para satisfazer
seus interesses, reflete-se nas idias de diversos pensadores do perodo. O s
filsofos franceses levantaram-se na defesa intransigente da liberdade indi-
vidual e acabaram por favorecer um desenvolvimento exagerado do indivi-
dualismo. Segundo Ponce (1982), o individualismo burgus est por trs das
obras de Voltaire e de Rousseau, bem como de Kant (1724-1804), filsofo
alemo.
Segundo Goldman (1967), os trs elementos bsicos do pensamento
burgus, a liberdade, o individualismo e a igualdade, encontram-se expressos
no racionalismo (e, de forma menos radical, no empirismo e no sensualismo,
desenvolvidos particularmente na Inglaterra): liberdade, no sentido de inde-
pendncia em relao a qualquer elemento externo ao indivduo e em relao
s paixes, que nos ligam ao mundo exterior; individualismo, no sentido de
ruptura dos laos entre o indivduo e o universo, o mundo exterior; e igual-
dade, na medida em que a razo igual em todos os homens. Nos sculos
XVIII e XIX, empirismo e racionalismo, como j houvera ocorrido no sculo
anterior, expressam-se e confrontam-se, manifestando diferentes nfases e
atribuindo diferentes papis observao e razo no processo de conheci-
mento. Segundo Cocho (1980), Inglaterra e Alemanha fornecem exemplos
dessas duas posturas, que surgem em consonncia com a situao vivida por
cada um desses dois pases nesse momento de sua histria. Na Inglaterra, a
ausncia de uma presso extrema por inovaes tecnolgicas constantes e de
uma poltica cientfica estatal fez com que a cincia surgisse principalmente
das fbricas, da prtica, de forma emprica, para resolver problemas espec-
ficos. J, no caso alemo, a urgncia de desenvolvimentos tecnolgicos, ge-
rando grande quantidade e diversidade de problemas tcnico-cientficos, e a
existncia de uma poltica cientfica institucional favoreceram o surgimento
de uma cincia mais globalizante, abstrata, capaz de responder a todos os
problemas. Essas duas concepes cientficas
em ltima instncia so duas variantes de uma mesma utilizao social: ace-
lerar, como dizem os economistas, a acumulao de capital por meio do in-
285
cremento da chamada "mais valia relativa", para o qual se torna necessria a
modernizao do aparato produtivo atravs do desenvolvimento cientfico: as
diferenas de matiz entre ambos os casos, ingls e alemo (dizemos "matiz"
porque, em ambos os casos o objetivo social foi o mesmo, acrescentar ao capital),
so produto das muito precisas e concretas condies scio-econmicas e, con-
seqentemente, inclusive polticas e ideolgicas (...) (Cocho, 1980, p. 41)
Nas obras dos pensadores desse perodo, expressam-se essas diferentes
posturas, desde uma total nfase experincia, aos sentidos - como em Ber-
keley (1685-1753) - at uma total nfase razo, como em Hegel (1770-
1831), passando por diferentes matizes, no que diz respeito ao papel que
cabe a cada um desses elementos - observao e razo - no processo de
conhecimento. Cabe salientar aqui que nem todos os pensadores que men-
cionaremos a seguir se preocuparam especificamente com essa questo ou a
colocaram dessa forma, confrontando ou unindo observao e razo no pro-
cesso de conhecimento. Entretanto, possvel depreender o papel que atri-
buam a esses elementos, a partir da anlise que fazem em relao a como
se d o conhecimento. Alm disso, o prprio sentido dado a esses termos -
observao e razo - varia muito de um para outro pensador.
Em Berkeley, um irlands de origem inglesa, os sentidos, a experincia
assumem a importncia mxima: para ele, todo saber provm da experin-
cia, depende da percepo do sujeito; a tal ponto atribui importncia aos
sentidos que acaba por assumir uma postura imaterialista, segundo a qual
tudo o que existe so sensaes. Hume (1711-1776), um filsofo escocs,
tambm enfatiza a experincia no processo de conhecimento; destrona a ra-
zo, retirando-lhe o papel fundamental que tivera no sculo anterior, com
Descartes. Para ele, a experincia fundamental, por meio dela que se
chega ao estabelecimento de relaes de causalidade. Entretanto, admite a
possibilidade de ultrapassar a experincia - embora no se possa prescindir
dos dados - fazendo uso da razo, do raciocnio - como instrumento de
conhecimento; podem-se estabelecer hipteses que envolvam fenmenos no
observados e no observveis, desde que partam da observao e que possam
ser por ela comprovadas. Comte (1798-1857), filsofo francs, um outro
representante do empirismo, para quem os fatos constituem a base de todo
conhecimento cientfico; embora derive toda a verdade da experincia e da
observao do mundo fsico, considera o raciocnio necessrio para relacionar
os fatos e estabelecer as leis gerais a que esto submetidos. J os filsofos
franceses do sculo XVIII so, em sua maior parte, racionalistas; enfatizam
o papel da razo como instrumento na elaborao do conhecimento e na
direo da ao dos homens. Entretanto, so considerados racionalistas em-
piristas, uma vez que admitem que o conhecimento no pode prescindir da
observao, da experincia: ele tem origem na percepo sensorial, mas as
286
impresses dos sentidos devem ser depuradas pela razo para que possam
explicar adequadamente o mundo e indicar o caminho do progresso. Tambm
Kant, filsofo alemo do sculo XVIII, considerado racionalista. Mas co-
loca-se contra o que chama de dogmatismo do racionalismo do sculo ante-
rior, que considera a razo como o nico caminho para o conhecimento,
independente de toda experincia. Para Kant, a razo tem prioridade no pro-
cesso de conhecimento cientfico que , em parte, a priori; entretanto, a razo
est condicionada experincia. Segundo ele, a experincia fornece referentes
particulares e no permite a formulao de proposies de carter universal,
como devem ser as proposies cientficas. O entendimento humano propor-
ciona as categorias, os conceitos a priori por meio dos quais compreendemos
a experincia. A capacidade de estabelecer relaes causais, por exemplo,
a priori. Segundo Brhier (1977a), o racionalismo do sculo XVIII era di-
ferente do racionalismo do sculo XVII: enquanto no sculo XVII era
fundamentado no absoluto (Deus quem fundamenta as regras do pensa-
mento e da ao), no sculo XVIII ele se fundamentava no prprio
homem ( por seu prprio esforo que o homem organiza seu pensamento
e sua ao). No sculo XVIII assumia-se uma idia de razo mais prudente,
com base na experincia, e consideravam-se os sistemas provindos do racio-
nalismo do sculo XVII como obras de pura imaginao.
Em Hegel, filsofo alemo do incio do sculo XIX, a razo assume
importncia mxima: segundo ele, o real racional. Critica a nfase atribuda
por alguns filsofos aos fatos, em detrimento da razo, e a aceitao dos
fatos, tal como se apresentam, como critrio da verdade. Hegel atribui razo
tal importncia que chega a considerar o real como condicionado ao pensa-
mento, como dependente deste. Marx (1818-1883), outro filsofo alemo do
sculo XIX, ope-se a Hegel nesse aspecto, na medida em que considera que
o pensamento o material transposto para a cabea do homem, ou seja, o
pensamento a manifestao do real (e no o real a manifestao do pen-
samento, como em Hegel). Entretanto, o conhecimento no para Marx sim-
ples reflexo do real, e deve desvendar, por trs da aparncia, como as coisas
realmente so. Assim, para se conhecer, parte-se dos fenmenos da realidade,
mas em seguida deve-se reconstru-los no pensamento por meio de um pro-
cesso de anlise, para, em seguida, reinseri-los na realidade.
Portanto, embora Marx, ao analisar o processo de produo de conhe-
cimento, no se preocupe em discutir especificamente a oposio ou unio
dos dois elementos - observao e razo - nesse processo, possvel de-
preender de sua anlise que so ambos necessrios para a reconstruo do
real no pensamento.
O utro aspecto em relao ao qual se confrontaram diferentes con-
cepes durante o perodo foi a questo da causalidade.
287
Para Brhier (1977a) geralmente admitido que o ceticismo de Hume
um seguimento natural e inevitvel das filosofias de Locke e Berkeley.
(...) Depois que Locke criticou (...) a noo de substncia, depois que Berkeley
criticou a noo de causalidade fsica, no deixando intacta a no ser a cau-
salidade dos espritos, no restava a Hume, diz-se, inspirando-se no mesmo
princpio, seno destruir, com a noo de substncia espiritual, a de causalidade
em geral (...). (pp. 90-91)
Berkeley, ao reduzir a existncia dos corpos percepo que os esp-
ritos tm deles, nega a noo de causalidade fsica, isto , a noo de que
as causas dos fenmenos se encontram na natureza, bastando ao homem es-
tudar esses fenmenos e descobrir suas causas. Para ele, o homem erronea-
mente pensa que existem causas porque experincia certas sensaes e rela-
ciona como causa e efeito fenmenos que aparecem em seqncia.
(...) A causa se reduz lei, e a lei a uma relao de significao. Assim, o
encadeamento dos fenmenos no um sistema de causas e de efeitos, mas
de signos e de coisas significadas: o fogo no a causa da queimadura, mas
a percepo visual do fogo o signo que nos informa de antemo que ao nos
aproximarmos demais seremos queimados. E a regularidade que permite os
signos , ao mesmo tempo, fruto da permanncia da vontade de Deus e de seu
desejo de nos falar uma linguagem compreensvel, de constituir um mundo
cognoscvel, no qual se possa exercer a nossa ao. (Alqui, 1982, p. 195)
Com Berkeley, portanto, e ainda de acordo com Alqui (1982), a ca-
sualidade, anteriormente reconhecida como uma qualidade dos corpos fsicos,
passa a ser uma causalidade dos espritos finitos, experimentada como uma
ao que s pode ser exercida sobre a natureza submetendo-se s suas leis,
isto , as leis de Deus que regem a sucesso dos fenmenos.
Para Hume, a causalidade tambm, como para Berkeley, um atributo
do sujeito que conhece, estabelecida a partir da experincia. Mas aqui o pro-
blema se modifica, uma vez que Hume no assume o papel atribudo (por
Berkeley) a Deus dentro do conhecimento
(...) Considerar o mundo como um conjunto de sinais divinos que nos permitem
orientar-nos na vida , com efeito, supor que Deus nos deu os meios de com-
preender a linguagem que ele nos fala. Mas uma vez Deus desaparecido, ou
pelo menos no invocado, como o caso em Hume e em Kant, coloca-se o
problema de saber como o sujeito humano pode, na afirmao da causalidade,
ultrapassar a sua experincia imediata (...). (Alqui, 1982, pp. 196-197)
Hume mostrou que a causalidade buscada, enquanto relao entre os
fenmenos, no produto de uma demonstrao lgica, de um processo de-
dutivo que levaria da "causa" ao "efeito". Mostrou, tambm, que ela no
288
produto de uma fora ou energia que passaria de um fenmeno estudado a
outro e que os ligaria como "causa e efeito". Para ele, a fonte da casualidade
seria encontrada
(...) muna tendncia ao deslizamento de mn para outro termo, tendncia essa
que se acrescenta do exterior aos prprios termos, e que permite uni-los, ten-
dncia subjetiva transio fcil e expectativa, que fornece "o sentimento
e a impresso, donde formamos a idia de poder ou de conexo necessria".
Essa tendncia nasce, tambm, da repetio (...). (Alqui, 1982, pp. 198-199)
Isto quer dizer que para Hume a causalidade envolve uma crena de que
existem relaes causais, advinda da repetio da ocorrncia dos fenmenos
relacionados. Alm disso, segundo Hume, o processo de estabelecimento de
relaes causais indemonstrvel logicamente. A ocorrncia repetida de fe-
nmenos relacionados faz surgir, no homem, a expectativa de ocorrncia de
um fenmeno quando outro apresentado.
Para Alqui (1982), Hume coloca no homem ou na natureza humana
o princpio da explicao ltima que Berkeley colocava em Deus, alm de
isolar o instinto que est na raiz da crena na causalidade, retirando a apa-
rncia de razo que o cerca.
Ao colocar no sujeito do conhecimento a construo da ligao causai
entre os objetos do mundo sensvel, Kant vai se aproximar de Hume. Mas,
por outro lado, suas concepes vo se distanciar de Hume em muitos outros
pontos porque para Kant a ligao causai racional e se deve s categorias
a priori do entendimento. Isto , o homem pode perceber a causa dos fen-
menos do mundo sensvel porque dotado de uma condio racional a priori
que lhe permite construir relaes causais. Alqui (1982) explica como ocorre
essa construo, pela subordinao da coordenao sensvel ao entendimento:
(...) certamente o dado sensvel no um puro caos. A sensibilidade tem uma
matria e uma forma. Mas se o espao e o tempo, formas a priori da sensi-
bilidade, so as condies necessrias do mundo dos objetos, eles no so a
sua condio suficiente. coordenao sensvel Kant ope a subordinao
irreversvel, prpria ao entendimento e caracterstica da ligao causai. A for-
ma, prpria sensibilidade, ser o lugar onde se realizar a unidade dos dados;
mas pela funo prpria do entendimento que se realizar essa prpria uni-
dade: o ato que constitui a unidade ser a sntese do entendimento, (p. 201)
O homem chega a determinar a causa dos fenmenos a partir dos pr-
prios fenmenos e subordinando-os ao entendimento e suas categorias a prio-
ri. Ao elaborar essa concepo, Kant distanciou-se de Hume, para quem o
estabelecimento da causalidade dependia apenas da experincia e da repeti-
o. Para Kant, apesar da experincia ser importante, basear-se apenas nela
289
leva ao estabelecimento de afirmaes particulares e no universais, sendo
estas essenciais construo do conhecimento cientfico.
Com relao ao problema da determinao da causalidade, Comte de-
senvolve uma concepo que afirma a impossibilidade de se chegar s causas
dos fenmenos. Para ele, o homem chegaria apenas determinao das leis
gerais que regem esses fenmenos. Essas leis seriam invariveis e expressa-
riam relaes constantes existentes na natureza.
O utro aspecto presente no pensamento desse perodo, e que aparece
principalmente no sculo XIX, a preocupao com a reflexo sobre o social,
com o estudo de seus problemas, de que so exemplos as concepes de
Marx, Comte e Hegel.
O marxismo, que surgiu durante a ascenso do movimento operrio,
num momento histrico em que a Revoluo Industrial colocava em conflito
a burguesia e o proletariado, prope uma concepo de sociedade que envolve
as relaes de produo, que constituem a base econmica da sociedade sobre
a qual se ergue uma superestrutura de idias sociais, instituies polticas, e
outras, determinadas por essa base. Esses nveis da realidade, porm, no
estabelecem entre si relaes mecnicas de dependncia: as idias sociais, filo-
sficas e outras possuem uma relativa independncia em relao base eco-
nmica, principalmente devido a exercerem influncia umas sobre as outras.
A sociedade constitui-se num todo complexo de relaes que esto constan-
temente em movimento dialtico.
Essa concepo dinmica difere da concepo esttica que Comte tem
de sociedade. Para este autor, a sociedade "uma totalidade orgnica dividida
em segmentos ou classes, que se relacionam de maneira esttica, ainda se-
gundo uma ordem fixa, suscetvel de ser apreendida pela sociologia, que
Comte concebe como uma fsica social" (Silva, 1984, pp. 113-114). Totali-
dade dividida em segmentos estanques, ordem fixa, tais so os elementos
constitutivos de uma sociedade, cujo valor a imutabilidade.
A concepo de Hegel, que, ao colocar a reflexo sobre o homem den-
tro da histria, tambm oferece uma abordagem social para o conhecimento,
dinmica como a de Marx, embora a posio hegeliana se diferencie bas-
tante da marxista quanto ao papel que o homem e a realidade desempenham
na construo do conhecimento.
No que se refere sociedade, Hegel a v em movimento dialtico:
fluxo constante e evolutivo das coisas, passando ao seu oposto. Esse movi-
mento est presente na lgica, na histria e at nas instituies polticas. Esse
processo de movimento repete-se continuamente, levando sempre a um me-
lhoramento, a um desenvolvimento do homem.
290
As relaes entre a cincia, a tcnica e a produo
O s sculos XVIII e XIX formam um perodo em que as grandes trans-
formaes pelas quais a humanidade passou marcam a configurao da nossa
vida atual e tambm uma transformao no papel que a cincia desempenha
no desenvolvimento de um modo de produo.
A Revoluo Industrial no foi dependente, especificamente, do desen-
volvimento cientfico. Nem mesmo a inveno da mquina a vapor, que deu
enorme contribuio ao desenvolvimento da industrializao, transformou a
cincia em condio para a ocorrncia da Revoluo Industrial. Hobsbawm
(1981) afirma a esse respeito que
felizmente poucos refinamentos intelectuais foram necessrios para se fazer a
revoluo industrial. Suas invenes tcnicas foram bastante modestas, e sob
hiptese alguma estavam alm dos limites de artesos que trabalhavam em
suas oficinas ou das capacidades construtivas de carpinteiros, moleiros e ser-
ralheiros: a lanadeira, o tear, a fiadeira automtica. Nem mesmo sua mquina
cientificamente mais sofisticada, a mquina a vapor rotativa de James Watt
(1784), necessitava de mais conhecimentos de fsica do que os disponveis
ento h quase um sculo - a teoria adequada das mquinas a vapor s foi
desenvolvida ex-post-facto pelo francs Carnot na dcada de 1820 - e podia
contar com vrias geraes de utilizao prtica de mquinas a vapor, princi-
palmente nas minas (...). (pp. 46-47)
Se a Revoluo Industrial no foi produto direto do avano cientfico, o
desenvolvimento do capitalismo foi determinando uma forte inter-relao en-
tre a cincia e a produo, pois ambas cresceram juntas e se influenciaram
mutuamente.
Segundo Vzquez (1977) as exigncias que se apresentam cincia
aumentam e adquirem um carter mais rigoroso na poca moderna, perodo
em que h um desenvolvimento da produo material associado, estreitamen-
te, ao nascimento e ascenso da nova classe social da burguesia.
(...) Nessas condies histrico-sociais, o progresso do conhecimento cientfi-
co-natural, que se traduz na constituio da cincia moderna, converte-se numa
necessidade prtica social de primeira ordem. A passagem a uma teoria cien-
tfica firme e coerente se v impulsionada, a seu tumo, pela experincia, seja
a oferecida diretamente pela produo, seja a oferecida pela experincia orga-
nizada e controlada, ou experimentao. (Vzquez, 1977, p. 217)
Nos perodos que antecederam a Revoluo Industrial, a cincia no
se relacionava diretamente a atividades produtivas. De acordo com Bernal
(1976b), alguns usos prticos do conhecimento cientfico haviam ocorrido na
navegao, mas esta tinha relaes mais diretas com o comrcio do que com
291
a produo. A cincia tambm no era necessria ao desenvolvimento tcnico.
medida que o capitalismo avana, porm, geram-se problemas que, cada
vez mais, lanam desafios cincia e cada vez mais ela necessria para
respond-los. A Revoluo Industrial levou a um grandioso aumento da ati-
vidade cientfica. Ao final do perodo, no s os conhecimentos tcnicos so
dependentes do desenvolvimento cientfico, como este est profundamente
inter-relacionado produo:
(...) o sculo XVII resolvera os problemas dos gregos por meio de novos m-
todos experimentais e matemticos. O s cientistas do sculo XVIII iriam resol-
ver, por esses mesmos mtodos, problemas com que os gregos nem sequer
haviam sonhado. Mas iriam fazer mais do que isso: iriam integrar firmemente
a cincia nos novos mecanismos de produo. (...) [Ela] ir-se-ia transformar
num dos principais elementos das foras produtivas da humanidade (...). (Ber-
nal, 1976, pp. 551-552)
A cincia iria, cada vez mais, ser colocada a servio da modificao
da natureza. A partir do sculo XVIII, a cincia dedicou-se soluo dos
problemas produtivos e foi sendo gradativamente enfatizada. Hobsbawm
(1981) afirma que
(...) A grande enciclopdia de Diderot e D'Alembert no era simplesmente um
compndio do pensamento poltico e socialmente progressista, mas do progres-
so cientfico e tecnolgico. Pois, de fato, o "iluminismo", a convico no
progresso do conhecimento humano, na racionalidade, na riqueza e no controle
sobre a natureza - de que estava profundamente imbudo o sculo XVIII -
derivou sua fora primordialmente do evidente progresso da produo, do co-
mrcio e da racionalidade econmica e cientfica que se acreditava estar asso-
ciada a ambos (...). (pp. 36-37)
Esse autor afirma ainda que naquele sculo, quando a cincia ainda
no havia sido academicamente dividida em cincia "pura", superior, e "apli-
cada", inferior, os mais surpreendentes avanos da dcada de 1780 foram na
qumica, tradicionalmente muito ligada prtica de laboratrio e s necessi-
dades da indstria.
Assim como as necessidades produtivas levaram a um crescente inte-
resse pela qumica, outras reas foram tambm sendo desenvolvidas, como
a geologia, a partir das necessidades advindas da construo de canais e de
estradas de ferro. No final do sculo XIX, conhecimentos cientficos eram
desenvolvidos para criar novas indstrias, e, finalmente, no sculo XX, en-
contra-se o pleno desenvolvimento da indstria cientfica. Cincia e produo
expressam cada vez mais claramente a inter-relao, a influncia mtua que
as une.
292
Ainda no sculo XVIII, refletindo a crescente importncia da cincia,
comearam a ser fundadas, primeiramente na Inglaterra, sociedades cientficas
para incentivar o progresso da cincia. A Sociedade Lunar um exemplo
dessas providncias e foi fundada em 1780. Posteriormente surgiram ou-
tras, que se tornaram locais para a defesa da cincia e a discusso das
grandes controvrsias cientficas da poca, como a Deustcher Naturforscher
Versammlung, fundada em 1822, e a The British Association for Advance-
ment of Science, em 1831.
Em meados do sculo XIX, as sociedades cientficas gerais j no aten-
diam ao crescente montante de conhecimento produzido e passaram a surgir
sociedades cientficas especializadas, como as de geologia, astronomia e qu-
mica.
Dentro desse contexto de rpidas transformaes, a cincia vai mudan-
do as suas caractersticas e as dos trabalhadores cientficos. Cocho (1980)
afirma que o professor universitrio que comea a assumir a funo de
cientista na Inglaterra, diferentemente do incio do sculo XIX, quando a
maioria dos cientistas era ou amadora ou treinada como aprendiz. Bernal
(1976b) tambm se refere profissionalizao da atividade cientfica e sua
crescente formalizao devido ao incremento do volume e do prestgio do
trabalho cientfico. Na continuao de sua anlise afirma que, por outro lado,
ao mesmo tempo a cincia ia perdendo grande parte da sua independncia
nesse processo.
A cincia iria constituir, durante muitos anos, monoplio de uma elite da classe
mdia - a intelligentzia liberal, como era conhecida na Europa - e, inevitavel-
mente, continuava a ser limitada e caracterizada pelo ponto de vista dessa
classe. Em meados do sculo XIX tal classe no desprezava a utilidade prtica;
estava at profundamente interessada nos grandes movimentos industriais do
seu tempo; acreditava firmemente na inevitabilidade do Progresso, mas repu-
diava com igual firmeza toda e qualquer responsabilidade pelos seus resultados
desagradveis e perigosos (...). (p. 564)
Assim sendo, medida que a cincia foi se desenvolvendo cada vez
mais relacionada produo, ela foi mudando suas caractersticas, a atividade
cientfica foi se organizando formalmente, tornando-se uma profisso reco-
nhecida, e, por outro lado, a cincia foi perdendo sua relativa independncia,
passando a atender aos interesses da produo e de uma classe detentora dos
meios de produo.
Ao avaliar os efeitos da cincia sobre a vida e sobre o pensamento durante os
sculos XVIII e XIX, por conseguinte necessrio seguir essa transio desde
seus efeitos libertadores, no incio do perodo, quando estava aliada a todas as
foras do progresso, at ao seu estado ambguo e incerto no fim do perodo,
293
quando j no era possvel aceitar como certo o progresso, e a guerra e a
revoluo social j se entreviam no horizonte mental. (Bernal, 1976b, p. 677)
Sem dvida, ao lado da expanso e do progresso, associados cincia
no sculo XVIII, necessrio avaliar as conseqncias de sua aplicao
j no sculo XIX: o problema da populao nas reas industriais e o nvel
de vida desumano do proletariado que surgiu com o desenvolvimento indus-
trial.
294
CAPITULO 16
A CERTEZA DAS SENSA ES E A NEGA O
DA MATRIA: GEO RGE BERKELEY (1685-1753)
No argumento contra a existncia de alguma coisa que
apreendo pelos sentidos ou pela reflexo. O que os olhos vem
e as mos tocam existe; existe realmente, no o nego. S nego
o que os filsofos chamam matria ou substncia corprea;
e fazendo-o no h prejuzo para o resto da humanidade, que,
ouso dizer, nada perder.
Berkeley
Berkeley nasceu na Irlanda do Sul. Lecionou grego, latim e teologia
no Trinity College. Durante alguns anos ocupou-se com viagens a outros
pases e, em 1734, tornou-se bispo protestante de Cloyne, regio da Irlanda.
Suas obras revelam preocupao com o conhecimento, a economia, a
moral e a sade. Dentre elas, podem ser citadas: Ensaio de uma nova teoria
da viso (1709), Tratado sobre os princpios do conhecimento humano
(1710), Obedincia passiva (1712), Dilogo entre Hilas e Filonous (1713),
Sobre o movimento (1721), O questionador (1735) e Siris ou reflexes e
investigaes filosficas sobre as virtudes da gua de alcatro (1744).
O sculo em que Berkeley viveu e elaborou sua obra foi aquele em
que as concepes medievais, fundadas nas idias de Aristteles, caam por
terra, sendo substitudas por uma viso de mundo regido por leis naturais
que cabiam ao homem identificar por meio da observao e da experimentao.
Essa concepo de mundo baseia-se no pressuposto de que existe algo
na natureza que, sendo exterior ao e independente do homem, dotado de
certas caractersticas capazes de se imprimirem na mente humana: a matria
ou substncia material. Nessa concepo, as coisas ou seres - que possuem
qualidades que lhes so inerentes - existem separados do homem que os
percebe; portanto, o que o homem conhece advm da matria ou substncia
material. Para Berkeley, tal separao (entre as coisas tais quais existem e o
homem) leva ao ceticismo (defesa da impossibilidade de conhecer). O homem
nunca ter certeza de que seu conhecimento corresponde coisa tal qual ela
, pois a nica certeza que podemos ter a da coisa tal qual ela nos aparece.
Alm disso, Berkeley via ainda um outro perigo surgir em conseqncia da
aceitao da existncia da substncia material: o atesmo. Para ele, a exis-
tncia da matria ou substncia corprea, independentemente de sua percep-
o pelo homem, conduzia desvalorizao da substncia imaterial (o esp-
rito) e renncia da existncia de um criador.
Pode-se, portanto, compreender melhor as propostas de Berkeley, se
nos lembrarmos de que seu objetivo era combater o atesmo e o ceticismo
que, segundo ele, advinham de uma postura materialista, isto , advinham da
crena na existncia, em si, da matria. Todo o pensamento de Berkeley
reflete a preocupao em demonstrar a inexistncia da matria, em contra-
partida afirmando a existncia do esprito (alma) e de Deus.
O caminho que Berkeley percorre para chegar ao imaterialismo ,
curiosamente, a nfase total aos sentidos. O s sentidos do homem (viso, au-
dio, tato, etc.) so, para Berkeley, essenciais na relao com o mundo.
por meio deles que percebemos, ou melhor, que temos idias do mundo. S
podemos afirmar algo sobre aquilo que sentimos. Se aquilo que sentimos
passa necessariamente pelo crivo das nossas sensaes, as idias que temos
do mundo so as sensaes que dele temos. O u seja, ao que percebemos
pelos sentidos, Berkeley denomina idias ou sensaes.
Se temos sensaes, por que essas no poderiam se referir a coisas que
existem fora do sujeito e independentes dele?
Berkeley responde a essa questo com argumentos de dois nveis. Em
primeiro lugar, afirma que as sensaes de tamanho (grande, pequeno, etc),
cor (branco, vermelho, etc), espessura (fino, grosso, etc), paladar (acre, doce,
etc.) s existem por meio da mediao do sujeito. No se pode falar, por
exemplo, no tamanho em si, como qualidade inerente a um dado objeto, pois
o tamanho est vinculado aos rgos dos sentidos, sendo relativo, inclusive,
posio e ordem desses rgos. Ainda exemplificando: verificamos que o
sabor caracterstico da canela s percebido pela conjugao do efeito das
papilas gustativas e do olfato; na ausncia do segundo, no percebemos o
sabor. Para Berkeley, isto demonstraria que o sabor caracterstico que conhe-
cemos no est na canela, no atributo ou qualidade dela em si, mas sim
depende dos rgos dos sentidos.
1 Ao falar de idias, Berkeley faz referncia tanto s idias dos sentidos, quanto s da
memria e da imaginao. As primeiras so mais fortes e vivas, pois independem da
vontade humana na sua criao, j que esto diretamente relacionadas sensao. As
segundas constituem-se em efeito da vontade humana, que pode se lembrar de sensaes
ou idias (memria), ou ainda criar, por meio da imaginao, fantasias.
296
O mesmo pode ser dito em relao ao som: o som, em si, no existe.
O que percebemos o apito do trem, a sirene da ambulncia, o cantar do
galo, etc.
Em segundo lugar, Berkeley defende que a percepo de um dado ob-
jeto nada mais do que um feixe de sensaes combinadas e concretizadas
em conjunto. Assim, o limo nada mais do que um conjunto de sensaes
dadas pelo olfato, viso, paladar e tato. Novamente a mediao do sujeito
imprescindvel no s devido a cada uma das sensaes como para conjug-
las todas de forma a atribuir a esse conjunto um significado. Assim, nova-
mente, no se pode dizer que exista fora do sujeito algo que possua qualidades
inerentes (o ser "limo"), j que o significado a esse conjunto de sensaes
atribudo pelo sujeito.
Para Berkeley impossvel pressupor a existncia de qualquer ser que
no seja percebido. Para ele "ser ser percebido", portanto, s porque per-
cebo posso dizer que real; em outras palavras, s posso me referir ao
contedo da minha percepo, e no a algo existente fora de mim.
H verdades to bvias para o esprito que ao homem basta abrir os olhos
para v-las. Entre elas muito importante a de saber que todo o firmamento
e as coisas da terra, numa palavra, todos os corpos de que se compe a
poderosa mquina do mundo no subsistem sem um esprito, e o seu ser
serem percebidas ou conhecidas; conseqentemente, enquanto eu ou qualquer
outro esprito criado no temos delas percepo atual, no tm existncia ou
subsistem na mente de algum Esprito eterno, sendo perfeitamente ininteligvel
e abrangendo todo o absurdo da abstrao atribuir a uma parte delas exis-
tncia independente do esprito. Para ver isto bem claramente, o leitor s
precisa refletir e tentar separar no pensamento o ser de um objeto sensvel do
seu ser percebido. {Tratado, 6)
necessrio ressaltar que, assumindo tal postura, Berkeley no nega
a existncia do que percebemos por meio de qualquer dos sentidos. O que
apreendemos existe. Se para Berkeley os objetos sensveis so combinaes
de qualidades sensveis, no possvel negar a realidade dessas sensaes,
j que neg-las implicaria admitir que estas fossem ilusrias ou, como diz
Berkeley, se constitussem em quimeras. Berkeley procura ressaltar a dife-
rena entre as idias produtos da imaginao daquelas provenientes das sen-
saes, sendo estas ltimas aquilo que o autor denomina realidade.
2 Durante o texto referir-nos-emos com os termos Tratado e Dilogos, respectivamente,
s obras Tratado sobre os princpios do conhecimento humano e Dilogos entre Hilas e
Filonous.
297
Em um trecho dos Dilogos, ao ser questionado por Hilas (um inter-
locutor fictcio), Filonous (que representa Berkeley) apresenta sua posio
acerca da realidade.
H. - Mas Filonous, ao considerar a substncia do que vs aduzis ao dardes
combate ao ceticismo, vejo que no passa, afinal de contas, do seguinte: temos
a certeza de que realmente vemos, de que ouvimos, de que rateamos; numa
palavra, de que somos afetados por impresses sensveis.
F. -Eque necessidade h ai de qualquer outra coisa? Vejo esta cereja; sinto-a
pelo tato, saboreio o seu gosto; e estou certo de que o nada no pode nunca
ser visto, nem palpado, nem saboreado: a cereja, portanto, real. Como no
um ser distinto das sensaes - uma cereja, digo eu, apenas um acervo
de impresses sensveis, ou de idias percepcionadas pelos sentidos vrios;
idias que so unidas numa coisa nica (ou a que foi conferido um nico
nome) pela nossa mente, em virtude de observarmos que entre si se acompa-
nham. Assim, quando o paladar tem em ns a impresso de um determinado
sabor particular - a vista impressionada por uma cor vermelha, o tato pela
rotundidade e pela sensao de moleza etc. etc. Posto isso, sempre que eu
vejo, e tateio, e gosto, de umas tantas maneiras determinadas, tenho a certeza
de que a cereja existe, ou de que ela real; no sendo nada a realidade dela
(em meu parecer) se ns abstrairmos das sensaes, Se porm pela palavra
cereja pretendeis significar uma natureza incgnita, uma natureza distinta des-
tas qualidades sensveis, e se acaso entendeis pela sua existncia uma qualquer
coisa que se diferencia do fato de ser ela percepcionada - ento sustento que
nem eu nem vs, nem outra pessoa, qualquer que ela seja, podemos ter a
certeza de que a cereja existe, (Dilogos, lU, p. 116)
Como se observa no trecho acima, Berkeley supervaloriza as sensaes;
o que ele admite acerca da existncia da cereja tem base exclusivamente
nelas. Essa pressuposio o identifica com o empirismo, corrente que enfatiza
a observao como meio de se chegar ao conhecimento. Embora se pudesse
pensar que tal corrente devesse implicar necessariamente uma postura mate-
rialista - j que a defesa da observao deveria pressupor a existncia de
coisas que possuam qualidades a elas inerentes e qe deveriam ser observadas
-, isto no verdade. Berkeley um exemplo de como a supervalorizao
das sensaes pode conduzir ao imaterialismo, j que, segundo sua concep-
o, a mediao do sujeito imprescindvel na unio das idias de sensao
numa coisa nica, que d o significado do ser em foco. O s seres constituem-se
em conjuntos de sensaes percepcionadas pelos vrios sentidos. No h,
portanto, a coisa em si, o ser independente do sujeito.
No se pode falar, portanto, do mundo, dos fenmenos, da realidade,
como algo que possui determinadas caractersticas, qualidades ou relaes
que podem ser descobertas; no possvel falar na existncia de substncias
298
em abstrato, tais como o som, a cor, etc, pois no existem cor no vista,
som no ouvido, gosto no sentido. Para Berkeley pode-se apenas falar da
realidade, a qual o objeto da percepo dos sujeitos.
No argumento contra a existncia de alguma coisa que apreendo pelos sen-
tidos ou pela reflexo. O que os olhos vem e as mos tocam existe; existe
realmente, no o nego. S nego o que os filsofos chamam matria ou subs-
tncia corprea (....). {Tratado, 35)
Se a afirmao da realidade depende da percepo, necessrio supor,
como Berkeley o faz, a existncia de um ser percipiente. Esse ser o nico
ser ativo, o que percepciona: ele o esprito, ou mente, ou alma, ou eu. O
esprito a nica substncia admitida por Berkeley. Negando a substncia
material, afirma, em contrapartida, a substncia espiritual.
Para Berkeley, o esprito o que pensa, o que quer, o que pereebe,
portanto, substncia ativa. Constituise em substncia incorprea e imortal.
Percebe Idias de sensao, o que Berkeley denomina entendimento. Produzi
e opera com idias, ao que Berkeley chama de vontade. Pelo entendimento
apreendemos as Idias de sensao que Independem da vontade, como quando
vejo a rua molhada aps a ehuva. J a vontade capas de produzir e operar
com idias, o que significa disser que pode imaginar, por exemplo, uma chuva
que nlo molhe. Slo tambm operaes da vontade o querer, o odiar, etc.
Mas ao lado da infinita variedade de idias ou objetos de conhecimento h
alguma mim que as conhece ou percebe, e realim diversas operaes como
querer, imaginar, recordar, a respeito deles. Este percipiente, ser ativo, o
que chamo mente, espirite, atoa ou m Por estas palavras no designo algu*
mas de minhas idias, mas alguma coisa distinta delas e onde elas existem,
ou o que o mesmo, por que so percebidas; porque a existncia de uma
idia consiste em ser percebida. (Tratado^ I)
Para Berkeley o esprito nlo se constitui numa idia, mas no meio pelo
qual slo percebidas idias e pelo qual se lida com elas. Se as idias se
constituem naquilo que se percebe eu naquilo que produto da vontade, nlo
se pode ter idia do espirito, j que este nem fruto de percepo, nem da
vontade humana. Logo, como disse Berkeley, pode-se ter do esprito apenas
uma nolo, assim como das operaes por ele realizadas.
f...j Em sentido estrito no podemos dizer que temos idia de um ser ativo ou
de uma ao, mas somente uma noo. Tenho algum conhecimento ou noo
do meu espirito e dos seus atos acerca de idias tanto quanto sei ou entendo
o significado destas palavras. Do que conheo tenho alguma noo. No direi
que os termos "Idia" e "noo" no possam eqivalesse, se o mundo quiser,
mas a ciarem e propriedade mandam distinguir coisas diferentes por diferentes
299
nomes. Note-se ainda que de todas as relaes, incluindo um ato do esprito,
no podemos propriamente dizer que temos idia mas antes uma noo de
relaes e hbitos entre coisas. Se no uso moderno o termo "idia " se estende
a espritos, relaes e atos, assunto apenas verbal. (Tratado, 142)
A concepo que Berkeley tem da substncia espiritual - o ser perci-
piente - no uma concepo individualizada; em outras palavras, a afirma-
o da realidade no depende s da minha percepo, enquanto ser individual.
Ao contrrio, a afirmao de que algo real depende do suporte do esprito
humano, em geral. Portanto, alm do meu esprito, devo admitir a existncia
de outros que, no conjunto, constituem o esprito humano. a concepo de
esprito humano em geral que permite afirmar a permanncia dos corpos,
quando deixam de ser percebidos por mim. Por exemplo, se ao me afastar
do porto, em um navio, deixo de v-lo, nem por isso o porto deixou de
existir, uma vez que percebido por outros espritos. Se destruirmos uma
mesa queimando-a, restaro ainda outros exemplares desse tipo de idias. S
podemos nos referir, portanto, inexistncia daquela mesa particular, mas
no da mesa em geral. S quando todo e qualquer ser percipiente deixar de
perceb-la, e s ento, poderemos falar da inexistncia da mesa em geral.
Se, referindo-se ao esprito humano, Berkeley consegue explicar a per-
manncia dos corpos, apesar de no estarem sendo imediatamente percebidos
por algum, isto no suficiente para explicar a evoluo do conhecimento
humano.
Como Berkeley explica, por exemplo, a aceitao da existncia de pla-
netas, num dado momento da histria, quando antes estes no eram conhe-
cidos? Poder-se-ia supor que, pelo fato de no serem percebidos pelo homem,
estes no existiam?
Berkeley responde negativamente a essa ltima questo, e para respon-
d-la recorre noo de um outro esprito, que no o humano: Deus. Segundo
Berkeley, todas as coisas so conhecidas por Deus eternamente ou, em outras
palavras, esto na mente divina.
Deus que, segundo sua vontade e deciso, permite ao homem per-
ceber as coisas, mesmo as que at dado momento foram imperceptveis. As-
sim, no exemplo acerca do conhecimento dos planetas, poder-se-ia dizer que,
a despeito de num dado momento da histria certos planetas no serem co-
nhecidos, isto no quer dizer que no existissem j na mente divina.
F - (...) Quando se diz das coisas que elas comeam a existir, ou ento que
acabam, isso no se entende pelo que respeita a Deus, e sim unicamente s
criaturas. Deus conhece-os eternamente, aos objetos; ou ento (o que tanto
monta) tm na sua mente uma existncia eterna; quando as coisas, porm,
anteriormente imperceptveis para as criaturas se tornaram enfim perceptveis
300
para elas, em virtude de um decreto da Divindade, diz-se ento que princi-
piaram a ter, para as mentes criadas, um existir relativo. Quando leio, por
conseguinte, a narrativa mosaica da Criao, entendo que as partes de que
se compe o inundo se. tornaram gradualmente perceptveis para os esp-
ritos finitos que so dotados das faculdades apropriadas (...). (Dilogos, III,
pp. 117-118)
Deus, tambm, que d suporte s regularidades percebidas pelo ho-
mem. A realidade possui regularidades, o que permite ao homem conhec-la
e atuar nela. Para Berkeley, as leis da natureza - ocorrncia de regularidades,
opondo-se ao caos - so expresso da vontade divina que "(...) mantm e
regula o curso ordinrio das coisas (...)" {Tratado, 62). A vontade divina
produz uma cadeia de efeitos naturais, os quais regula e mantm, o que
permite ao homem chegar, pela experincia, a leis gerais.
Ao observar e comparar fenmenos, o homem identifica semelhanas
entre eles. Nisto, segundo Berkeley, constitui-se a cincia: descoberta de con-
cordncias e harmonia entre os fenmenos, que permite chegar a regras gerais
que explicam um dado evento em especial.
Na verdade, examinando e comparando vrios fenmenos, observamos alguma
semelhana e conformidade entre eles. Por exemplo, na queda de uma pedra,
nas mars, na coeso, cristalizao etc, h semelhanas, em especial uma
unio ou aproximao mtua dos corpos. E assim tais fenmenos no sur-
preendem um homem que tenha observado cuidadosamente os efeitos da na-
tureza. Isso apenas ocorre com o fora do comum, ou a coisa em si mesma
fora do curso ordinrio da nossa observao. No se estranha a tendncia
dos corpos para o centro da Terra, porque o observamos constantemente; que
semelhante gravitao os faa tender para o centro da Lua pode parecer sin-
gular e inexplicvel, porque s o observamos nas mars; mas um filsofo ,
cujos pensamentos abrangem mais largo campo da natureza, tendo observado
certa semelhana de aparncias no cu e na tetra e que inmeros corpos
revelam mtua tendncia de aproximao, a que d o nome genrico de "atra-
o", tudo que possa reduzir-se-lhe ele considera-o justamente explicado. As-
sim, explica as mars pela atrao da Lua sobre o globo terrestre, o que no
lhe parece estranho ou anmalo, mas apenas exemplo particular de uma regra
geral ou lei da natureza. (Tratado, 104)
Ao contrrio das idias que so efeitos da vontade humana (recorda-
es, fantasias, etc), as idias dos sentidos possuem ordem e no so pro-
duzidas por acaso. Formam cadeias, ligam-se ordenadamente umas as outras,
3 Com este termo, Berkeley refere-se ao que denomina "filsofos naturais", isto , aos
homens que buscam explicaes para os fenmenos naturais. (N. do A.)
301
o que possibilita que, pela experincia, identifiquemos que no curso natural
das coisas tal idia siga uma dada outra idia. "Ora, as regras ou mtodos
estabelecidos segundo os quais o esprito excita, em ns, as idias dos sen-
tidos, so as chamadas leis da natureza (...)" (Tratado, 30).
As leis gerais permitem que atuemos no mundo de forma adequada, j
que as associaes das quais derivam possibilitam a previso e, conseqen-
temente, permitem ao homem saber como proceder.
Segundo Berkeley, o fato de experimentar regularmente certas sensa-
es tem levado o homem, erroneamente, a julgar que existem causas. Para
ele o que, na verdade, ocorre a associao de sensaes experimentadas
constantemente, o que leva uma a se tornar sinal da outra; em outras palavras,
o aparecimento da primeira sensao leva a prever o aparecimento da segunda.
Berkeley nega que existam relaes causais entre os fenmenos, entre
os fatos, entre os corpos materiais; a relao causai, ao contrrio, a asso-
ciao de sensaes, A possibilidade de associaes entre sensaes est, em
ultima anlise, fundada na atuao de Deus, visto ser Ele quem produz o
aparecimento de regularidades, de acordo com sua vontade,
De acordo com Aiqui (1982), as cadeias de fenmenos observadas
nae constituem, para Berkeley, nada alm de uma relao de signos e de
coisas significadas, e nlo de causas e efeitos, Assim, o fogo nada mais do
que um sinal de que, se nos aproximarmos, seremos queimados, o que cons-
titui algo diferente da idia de que o fogo causa da queimadura, A relao
ordenada e coerente entre sinais e coisas significadas possibilitada pela
vontade divina, ".,, de seu desejo de nos falar uma linguagem compreensvel,
de constituir um mundo cognoscvel, no qual se possa exercer nossa afto"
(p, 195),
Segundo Berkeley, as regularidades percebidas pelo homem eonduzem-
nos Idia de que as causas existem na prpria realidade e que as relaes
entre fenmenos slo algo exterior ao homem e independentes da vontade
divina. Tal fato, em vez de aproximar o homem de Deus, leva-o a buscar
longe d'Ele o que constituiria as pretensas "causas",
Ao colocar a natureza como uma linguagem por meio da qual Deus se
comunica com o homem, Berkeley reintegra ao conhecimento o papel da
vontade divina, reafirmando seu objetivo de combate ao ateismo a que, se-
gundo ele, o materiallsmo e a concepo vigente de causalidade tendiam a
conduzir o homem,
Na concepo de causalidade, Berkeley ressalta o papel do sujeito na
produo de conhecimento, Ao atribuir causa o significado de associao
de sensaes percebidas pelo homem, Berkeley desloca a conceplo de cau-
salidade da posio externa ao sujeito em que se encontrava e da idia de
302
conexo necessria entre fenmenos, para uma posio dependente do sujeito,
postura que se contrape de pensadores como Galileu, Bacon, Descartes e
outros de seu tempo e que lana o germe de uma discusso que ser retomada
e aprofundada por Hume.
Este trabalho insistente e uniforme que to claro mostra a bondade e sabedoria
do Espirito soberano cuja vontade constitui as leis da natureza, est to longe
de conduzir para Ele os nossos pensamentos, que antes os leva a perseguir
causas segundas. Quando vemos certas idias dos sentidos constantemente
seguidas por outras, sem o termos feito ns, atribumos poder e atividade s
idias e julgamos ser uma coisa causa de outra, embora nada seja mais ab-
surdo e ininteligvel. Assim, por exemplo, tendo visto certa figura luminosa e
redonda e ao mesmo tempo recebido a idia ou sensao chamada calor,
conclumos que o Sol causa do calor. Do mesmo modo ao perceber o mo-
vimento e coliso de corpos acompanhada de som, pendemos a crer seja este
o efeito daqueles. {Tratado, 32)
A associao de sensaes, base do conceito de causalidade em Ber-
keley, o que permite explicar o fato de o homem no fazer inferncias
incorretas sobre a realidade percepcionada.
Para Berkeley, ater-se s percepes permite ao homem construir um
conhecimento verdadeiro, livre de erro. O erro, segundo ele, consiste na ela-
borao de inferncias incorretas a partir da realidade percepcionada
pelo homem. Essa postura de Berkeley em relao ao erro pode ser ilus-
trada pelo seguinte exemplo: embora o homem veja um carro do tamanho
de um inseto, do vigsimo andar de um prdio, ele no poder afirmar que
o carro do tamanho de um inseto, se se ativer s percepes que tem, visto
que, ao descer, ele ver o carro com outro tamanho. De fato, no h erro em
se afirmar que do vigsimo andar de um prdio um automvel se assemelha
a um inseto em tamanho. Generalizar tal concluso para todas as situaes
seria, no entanto, incorreto. Assim, consistiria em erro inferir que, prximo
ao carro, ele seria percebido com o mesmo tamanho com que o do vigsimo
andar de um edifcio. As percepes, portanto, nunca so incorretas e se o
homem se ativer a elas no errar; o erro est na inferncia inadequada de
uma situao para outra.
Essa postura de Berkeley fica clara na resposta que apresenta nos Di-
logos, quando questionado sobre o papel dos sentidos na conceitualo da
realidade, j que estes podem permitir ao homem enganar-se quando acredita
ser a Lua uma superfcie luminosa e plana ou quando cr estar dobrado ou
curvado um remo cuja extremidade est mergulhada na gua,
que o erro no est nas idias que atualmente percepciona, e sim nas in-
ferncias que derivou das suas presentes percepes, No caso do remo, o que
303
pela vista imediatamente percepciona sem dvida alguma uma coisa que-
brada: e quanto a isso no sai ele da verdade. Porm, se dai concluir que
depois de tirar o remo da gua h de percepcionar nele a mesma dobra, ou
que o remo lhe afetar o tato como as coisas dobradas costumam fazer -
ento cair ele em erro. (...) O seu engano, todavia, no reside naquilo que
percepciona imediatamente e presentemente (seria em ns uma contradio
manifesta o supormos que se poderia equivocar nesse ponto), seno que sim
no juzo errneo acerca das idias que supe associadas com aquelas que
imediatamente percepcionou; ou ainda sobre as idias que ele acaso imagina,
consoante o que percepciona no momento presente, que em outras circunstn-
cias percepcionar. O caso , precisamente, o mesmo que se d com o sistema
de Coprnico. No percepcionamos o movimento da Terra: mas seria errneo
o concluir-se da que, se estivssemos separados da mesma Terra pela distn-
cia a que nos achamos dos demais planetas - no percepcionaramos o seu
mover-se. [Dilogos, III, p. 109)
Como vimos, Berkeley, a despeito de afirmar a existncia de uma rea-
lidade que no fruto da imaginao humana, constitui-se num imaterialista,
j que nega a existncia de algo exterior ao sujeito que se possa denominar
matria. Essa postura, associada ao papel que atribui a Deus na relao com
o mundo e com o conhecimento, pode conduzir a duas interpretaes: numa
primeira, assumir-se-ia o mundo como criao divina, mundo esse que o
homem percebe por meio dos atributos que Deus lhe concedeu para tal; numa
segunda, assumir-se-ia que todas as idias reais seriam impressas por Deus
no homem, no tendo este qualquer papel na apreenso do real a no ser
como receptculo de tais idias. Qualquer que seja a interpretao assumida,
no entanto, o mundo para Berkeley algo cuja existncia e caractersticas
esto vinculadas existncia humana, j que, segundo esse autor, nada existe
a no ser o que percebido pelo homem.
Segundo Alqui (1982), a postura imaterialista de Berkeley constitui-se
numa oposio s posturas e conceitos vigentes em sua poca.
Criticando o realismo qualitativo, que afirma a existncia de qualidades
que so inerentes matria - qualidades essas que podem ser descobertas,
portanto, que existem objetivamente -, Berkeley nega-as afirmando a subje-
tividade do sensvel.
Essa crtica estende-se s idias de Locke no que se refere sua postura
acerca das qualidades da matria. Para Locke, certas qualidades, como figura,
movimento, solidez (as chamadas qualidades primrias), eram inerentes
matria; j certas qualidades (as chamadas qualidades secundrias), como
odor, som, cor, no existiam independentemente do sujeito, uma vez que sua
existncia residia no fato de serem percebidas.
304
Para Berkeley tal distino inadequada. Para ele impossvel separar
as qualidades primrias das secundrias ( impossvel formar a idia de um
corpo extenso que no tenha cor, por exemplo). Se as qualidades secundrias
so resultado da percepo, por que no o seriam tambm as primrias?
Figura, movimento, extenso so, tais como a cor, o som, etc, idias exis-
tentes no esprito, no podendo existir independentemente do ser percipiente.
Os que afirmam existirem as qualidades primrias -figura, movimento etc. -
fora do esprito em substncia impensante, ao mesmo tempo o negam das
secundrias: calor, som, frio, quente e outras, s existentes no esprito, de-
pendentes e derivadas da diversa grandeza, textura e movimento das partculas
da matria; consideram isto uma verdade demonstrvel sem exceo. Ora, se
estas qualidades originais forem inseparveis das outras qualidades sensveis
e incapazes de abstrao mesmo em pensamento, segue-se que existem somente
no espirito. Que algum reflita e veja se pode abstrair e conceber a extenso
e movimento de um corpo sem todas as outras qualidades se?istveis. Por mim,
no consigo formar idia de um corpo mvel e extenso sem dar-lhe alguma
cor ou outra qualidade sensvel das que se reconhece existirem s no esprito.
Em resumo, extenso, figura, movimento so inconcebveis separadas das ou-
tras qualidades. Onde existam portanto as outras qualidades sensveis, essas
devem existir tambm, isto , no esprito e em nenhuma outra parte. {Tratado,
10)
Conceber a inexistncia de uma substncia material, em outras palavras,
a inexistncia de algo independentemente do ser percebido, conduz Berkeley
a criticar noes que, no perodo em que viveu, e mesmo antes, vinham
sendo utilizadas em campos tais como a matemtica e a fsica. Quanto
matemtica, Berkeley procura refutar seus conceitos: no h o nmero em
si, a extenso em si, a diviso ao infinito, j que todas essas coisas se cons-
tituem em contedos da percepo.
Quanto ao nmero, Berkeley afirma:
O nmero total criao do esprito, e, ainda quando outras qualidades pu-
dessem existir sem ele, basta considerar que a mesma coisa difere quanto ao
nmero conforme o ponto de vista do esprito; assim a mesma extenso pode
exprimir-se por um, trs, ou trinta e seis, conforme referida jarda, ao p ou
polegada. "Nmero" to sensivelmente relativo, e dependente do entendi-
mento humano, que espanta possa algum pensar na sua existncia absoluta,
fora do esprito. Dizemos "um livro", "uma pgina", "uma linha", e todos
so unidades embora contenliam vrias outras. E em cada exemplo, evidente,
a unidade refere-se a uma combinao particular de idias arbitrariamente
jungidas pelo esprito. {Tratado, 12)
305
Quanto extenso, Berkeley afirma que impossvel pens-la em si.
Pensa-se em uma extenso finita, particular e ao pens-la preciso que cada
parte dela seja percebida. O ra, impossvel perceber um nmero infinito de
partes numa extenso finita, portanto, a divisibilidade infinita da extenso
finita no pode ser admitida.
A sntese newtoniana, cujos conceitos regiam a fsica da poca, tam-
bm atacada por Berkeley, que questiona noes tais como a de espao ab-
soluto, gravitao universal, movimento absoluto, etc.
Como j se viu, ao rejeitar a noo de que existam qualidades inerentes
aos corpos que sejam essenciais e universais, Berkeley acaba rejeitando a
causalidade como algo existente nos prprios fenmenos. Em decorrncia
disto, o princpio da gravitao universal, admitido como princpio explica-
tivo da atrao dos corpos, rejeitado por Berkeley. Embora admita que por
meio da observao dos fenmenos se possa concluir a tendncia de aproxi-
mao dos corpos, no admite que a explicao disto esteja nos prprios
fenmenos, j que, segundo ele, as relaes entre os fenmenos so estabe-
lecidas pelo sujeito por meio de associao de sensaes. Portanto, no admite
a existncia de algo como a gravitao como explicao (causa) da atrao
observada.
As noes de espao e tempo absolutos, propostas por Newton, so
tambm rejeitadas por Berkeley, j que ambos os conceitos se referem a algo
que no tem relao com o que concretamente se percebe. Segundo Berkeley,
as idias de tempo e espao so relativas a situaes particulares, sendo im-
possvel entend-las desvinculadas de tais situaes. Berkeley exemplifica
essa posio mostrando que, se combinarmos de nos encontrar com algum
num dado local, em dada hora, no teramos dificuldade em realizar o que
foi combinado, j que isto perfeitamente compreensvel. No entanto "(...)
se o tempo for tomado com excluso das aes e idias particulares dife-
renciadoras, mera continuao da existncia ou durao em abstrato, ento,
mesmo a um filsofo ser difcil compreend-lo " (Tratado, 97).
Em outros trechos do Tratado, Berkeley discute a noo de espao
absoluto, da forma a seguir apresentada:
(...) Quanto ao repouso, o clebre autor admite um espao absoluto, imper-
ceptvel aos sentidos, e em si mesmo similar e imvel; e um espao relativo,
medida do primeiro, mvel, definlvel pela sua situao relativamente aos cor-
pos sensveis, tomado vulgarmente por espao imvel, Lugar define-se a parte
do espao ocupada por um corpo; e, cot forme o espao absoluto ou relativo,
assim o lugar. Movimento absoluto chama-se translao de um corpo de
4 Aqui Berkeley se refere a Isaac Newton, (N, do A,)
306
um lugar absoluto para outro lugar absoluto, e movimento relativo o de um
lugar relativo para outro (...). ( 111)
Confesso, no obstante, que no me parece possa haver outro movimento alm
do relativo; para conceber o movimento preciso conceber pelo menos dois
corpos a distncia e em posio variveis. Se houvesse um corpo s, no
poderia mover-se. Isto parece evidente: a idia que tenho de movimento inclui
necessariamente a relao. ( 112)
De onde se segue que a considerao do movimento no implica um espao
absoluto, diferente do percebido pelos sentidos e corpos correlatos. Pelos mes-
mos princpios j aplicados demonstrao de outros objetos sensveis claro
no poder ele existir fora do espirito. E talvez, se bem inquirirmos, conclui-
remos no poder formar idia de espao puro, exclusivo de todos os corpos.
Esta idia, a mais abstrata, parece-me impossvel (...). ( 116)
A crtica de Berkeley estende-se tambm crena de que o homem
produza idias abstratas, crena essa que, de acordo com ele, falsa.
Ao ataear a crena nas idias abstratas, Berkeley novamente se contra-
pe a Loeke; segundo este, a capacidade de abstrao uma caracterstica
prpria do ser humano.
Para Loeke, a abstrao consiste em pensar, dentre as caractersticas
particulares de diferentes objetos, a caracterstica comum a todos eles, des*
vineulando-os de suas particularidades Nessa concepo, ao se falar som,
eor, homem ou fruta, com essas paiavras, indica-se uma idia abstrata, pois
esta nio se refere a qualquer rudo em especial, nem a qualquer objeto co-
lorido, nem a algum especificamente ou a uma determinada fruta, Ela (Idia)
refere-se a conceitos que slo abstrados de seus referentes concretos
exatamente a possibilidade de abstrao que Berkeley crtica: nada
existe em abstrato, j que no se pode pensar em algo que no tenha, como
referncia, particulares. O homem, em si, nlo pode ser pensado, pois no
possvel ter idias de um homem que no seja alto ou baixo, gordo ou magro,
etc, assim como no se pede ter idia de uma fruta que no tenha certa
forma, cor, tamanho, etc,
A noo de idia abstrata, acaba sendo substituda, por Berkeley, pela
noo de idia gemi,
Para Berkeley, embora no se possa pensar em abstrato, pode-se fazer
generalizaes, o que significa fazer referncia, propositadamente, a um as-
pecto, desprezando as particularidades, desprezando o referencial concreto.
Exemplificando, eu posso falar branco porque eu deixo de considerar
as caractersticas especficas dos objetos de eor branca que me vm mente
(papel branco, cinzeiro branco, clrcuio branco...) e fixo-me, propositadamente,
em um dos aspectos particulares que caracterizam o objeto, aspecto esse que
estou interessado em analisar, no caso a cor branca.
307
medida que as particularidades so desprezadas, a idia de branco
passa a ser uma idia geral, uma vez que se constitui num sinal de outras
idias particulares.
Note-se que eu no nego em absoluto a existncia de idias gerais mas apenas
a de idias gerais abstratas (...). Ora, se quisermos atribuir sentido s nossas
palavras e falar somente do que podemos conceber, concordaremos - creio
eu - que uma idia particular, quando considerada em si mesma, se torna
geral quando representa todas as idias particulares da mesma espcie. Su-
ponhamos, para exemplificar, um gemetra que ensina a dividir uma linha em
duas partes iguais. Traa, por exemplo, uma linha preta de uma polegada de
comprimento; uma linha particular; no entanto, pelo significado geral, re-
presenta todas as linhas possveis; de modo que o demonstrado quanto a ela
fica demonstrado para todas as linhas ou, por outras palavras, para a linha
em geral. E assim como a linha particular fica geral por ser um smbolo, o
nome "linha", que em absoluto particular, como smbolo fica sendo geral.
E, como para o caso anterior a generalidade no provm de ser sinal de uma
linJia geral abstrata, mas de todas as linhas particulares possveis, tambm
no segundo deve pensar-se que a generalidade provm da mesma causa, isto
, das vrias linhas particulares indiferentemente denotadas. (Tratado, Intro-
duo, 12)
Como se coloca, no contexto do pensamento de Berkeley, a substituio
da idia abstrata por idia geral? Lembrando a postura imaterialista de Ber-
keley, pode-se concluir que, para ele, era importante refutar toda concepo
que pudesse conduzir admisso da existncia de uma essncia nas coisas,
idia que se constitua num passo para a admisso da existncia da matria.
A concepo de que a abstrao consiste em pensar caractersticas co-
muns a objetos, desvinculadas das particularidades destes, poderia subsidiar
a concepo de existncia de algo inerente aos diferentes objetos e, portanto,
existente em si.
Como vimos, Berkeley ope-se defesa da existncia de tais qualida-
des inerentes. Logo, no poderia admitir uma concepo que trouxesse de
forma subjacente esse aspecto.
Assim, coerentemente com seu pensamento, Berkeley usa a noo de
idia geral que nada mais que um sinal de idias particulares. No existe
o conceito, algo inerente aos particulares, mas apenas as particularidades per-
cebidas que podem, deliberadamente, ser representadas por uma outra idia.
Tal como em sua concepo de causalidade, em que a causa inerente
aos fenmenos substituda por associaes de sensaes em que uma se
torna sinal do aparecimento de outra, Berkeley define a idia geral como um
sinal de percepes particulares.
308
Alm da discusso acerca do processo de conhecimento, Berkeley
preocupou-se tambm com questes relativas moral e poltica. Segundo
Abbagnano (1978), a moral poltica defendida por Berkeley reflete o carter
religioso de sua obra. O princpio que fundamenta tal moral o da "()
obedincia passiva ao poder constitudo" (p. 141). O homem deveria atuar
em conformidade com leis estabelecidas que, segundo Berkeley, so impres-
sas no esprito humano por Deus. A felicidade no pode, portanto, ser alcan-
ada se o ser humano se arvora em juzos particulares para direcionar suas
aes. As leis divinas so identificadas com as leis da sociedade. Logo, a
submisso ao poder constitudo submisso vontade de Deus, dever moral
de todo o indivduo, necessrio ao atingimento do objetivo ltimo: o bem-
estar da humanidade.
Segundo Berkeley,
Em moral, as regras eternas da ao tm a mesma verdade imutvel e universal
que as proposies em geometria (...). A regra "Tu no deves resistir ao poder
civil supremo" to constante e invarivel para traar a conduta de um in-
divduo com relao ao governo quanto a regra "multiplique a altura pela
metade da base" o para calcular a superfcie de um tringulo. (Obissance
passive, 53)
As regras a que se deve submeter o indivduo, por serem leis divinas,
so absolutamente invariveis, vlidas para todas as sociedades e povos em
diferentes momentos da histria. Para Berkeley, o fim ltimo pelo qual Deus
exige o concurso da ao humana deve ser perseguido
(...) pela observao de certas regras, universais e determinadas e de preceitos
morais, que pela sua prpria natureza, tendem necessariamente a promover
o bem-estar da humanidade inteira, em todas as naes e em todas as pocas,
do comeo ao fim do mundo. {Obissance passive, 10)
A nfase que Berkeley d obedincia das regras institudas - que traz
embutida uma concepo de invariabil idade - pode ser observada na forma
como discute o papel do trabalho.
Leroy (1944), num prefcio s Obras escolhidas de Berkeley, aponta
que um dos princpios constantemente defendidos pelo autor o de que o
esforo se constitui em fundamento de toda a riqueza. Logo, o trabalho
um elemento essencial no desenvolvimento social. Essa nfase no trabalho
pode ser identificada quando Berkeley defende que os homens que no tra-
balham devem ser expulsos do grupo social, que os criminosos e delinqentes
devem ser submetidos a trabalhos forados e que deveria haver uma poltica
de educao s crianas pobres e rfs de forma a prepar-las para o trabalho.
309
No que diz respeito s questes morais, sociais, polticas, Berkeley
revela uma postura conformista. Como possvel essa posio, se tudo o
que foi at aqui apresentado demonstra nfase no papel do homem no co-
nhecimento como essencial na determinao da existncia das coisas? Isto
possvel porque, ao mesmo tempo em que defende essa postura, Berkeley
defende tambm a de que Deus o criador de todas as coisas e de que a
atividade do homem , em ltima anlise, resultado da vontade divina. Ao
colocar em Deus o princpio de tudo, inclusive da atividade humana, sobra
para o homem um papel passivo, de receptculo de percepes acerca do
mundo no que diz respeito ao conhecimento tanto dos objetos quanto das
regras a serem seguidas no convvio social.
310
CAPTULO 17
A EXPERINCIA E O HBITO COMO
DETERMINANTES DA NOO DE
CAUSALIDADE: DAVID HUME (1711-1776)
Essa conexo, pois, que sentimos na mente, essa transio
costumeira da imaginao passando de um objeto para o seu
acompanhante usual, o sentimento ou impresso que nos
leva a formar a idia de poder ou conexo necessria. Nada
mais h que descobrir ai.
Hume
David Hume nasceu na Esccia, em Edimburgo, em 1711. Viveu algum
tempo na Frana (1765-1768), trabalhando para o governo ingls e l conhe-
ceu vrios iluministas franceses e foi reconhecido por eles como um pensador
importante. Foi por algum tempo amigo de Rousseau, com quem voltou para
a Inglaterra, quando este foi perseguido na Frana.
De volta Inglaterra, continuou a servio do governo at que retomou
Esccia, em 1769, Em Edimburgo, participou ativamente de discusses
com vrios intelectuais importantes (entre eles Adam Smith) e, possivelmente,
por suas difceis relaes com o clero, jamais chegou a dar aulas na univer-
sidade, embora tenha, por vrias vezes, tentado ser professor. David Hume
morreu em 1776.
Dentre suas obras destacam-se: Tratado da natureza humana, Investi-
gaes sobre o entendimento humano, Discursos poUticos, Histria natural
da religio e Dilogos sobre a religio natural,
A importncia de Hume como filsofo est na sua preocupao com a
avaliao e a critica do conhecimento que se pretende um conhecimento ob-
jetivo do mundo: preocupou-se com os processos que levam o homem a fazer
afirmaes sobre o mundo e a faz-las de forma a ter plena confiana em
suas afirmaes, em si como produtor de conhecimento e no mundo como
objeto de conhecimento.
,\ anlise feita por Hume do processo de produo de conhecimento
tem sido vista como tendo caractersticas tais que o relacionam ora com o
empirismo, ora com o ceticismo e ora com o positivismo.
Segundo Kolakowski (1972), o positivismo tem como caractersticas
marcantes assumir: que no h diferena entre essncia e aparncia; que o
conhecimento cientfico baseado na relao do homem com os fenmenos
tais como so experienciados; que o conhecimento cientfico no comporta
julgamentos de valor, mas apenas fatos, e que h, fundamentalmente, um
mtodo cientfico, uma unidade essencial no conhecimento que se refere
ao mtodo utilizado para sua produo. Considerando-se essas caractersticas,
o pensamento de Hume relaciona-se intimamente com a concepo positivis-
ta, j que a crtica que faz do conhecimento se expressa, fundamentalmente,
por se recusar a postular uma essncia, seja material, seja espiritual, para os
fenmenos da natureza. O que o leva a criticar a noo de que o conhecimento
plenamente representativo do mundo exterior, ou de que a manifestao
de um a priori qualquer, e a assumir, portanto, que o conhecimento cientfico
fruto da experincia humana e que qualquer conhecimento no obtido pela
via da experincia est margem da cincia.
A concepo de Hume relaciona-se com o ceticismo pela anlise que
faz dos processos que sustentam a confiana do homem na sua experincia
do mundo e no conhecimento que da decorre. Para Hume, a base dessa
confiana no decorre da prpria natureza, ou de processos racionais. Decorre
dos processos psicolgicos caractersticos do sujeito que conhece.
Finalmente, a concepo de Hume relaciona-se com o empirismo por
sua preocupao em discutir e criticar a fonte do conhecimento humano, que,
para ele, se encontra na percepo. Locke e Berkeley influenciaram Hume.
Locke, por sua noo de que as idias se fundam na experincia, nas sensa-
es do homem frente ao mundo. Berkeley, por sua crtica da noo de cau-
salidade fsica. Esses dois pensadores so empiristas se se considerar que a
fonte do conhecimento , em ltima instncia, para eles, a experincia. E so
exatamente esses os pressupostos que ocuparo papel de destaque na anlise
e na crtica que Hume faz do processo de produo de conhecimento. Hume,
no entanto, supera ambos os pensadores. Supera Berkeley porque no ope
crtica da causalidade fsica uma causalidade espiritual, e supera Locke,
entre outras coisas, porque no ope idia impresso.
Hume parte do princpio de que todo conhecimento que se refere ao
mundo fundado na percepo. A percepo divide-se em impresses e
idias. As impresses so nossas percepes mais vivas, so irredutveis a
outros elementos; so as nossas sensaes quando experienciamos algo. Po-
dem ser impresses de sensao (externas), como as cores, os sons, etc, ou
312
impresses de reflexo (internas), como as emoes, a vontade, etc. As idias
so cpias das impresses e, como tais, baseiam-se e provm delas, mas so
menos vivas e no se confundem com elas. As idias so os nossos pensa-
mentos e, para Hume, no , portanto, possvel supor pensamentos ou idias
cuja origem no esteja numa ou num conjunto de impresses. A esse respeito
Hume afirma:
Todos admitiro, sem hesitar, que existe uma considervel diferena entre as
percepes da mente quando o homem sente a dor de um calor excessivo ou
o prazer de um ar moderadamente tpido e quando relembra mais tarde essa
sensao ou a antecipa pela imaginao. Essas faculdades podem remedar ou
copiar as percepes dos sentidos, mas jamais atingiro a fora e a vivacidade
do sentimento original. O mximo que podemos dizer delas, mesmo quando
operam com todo o seu vigor, que representam o seu objeto de maneira to
viva que quase se poderia dizer que o vemos ou sentimos. Mas, a no ser que
a mente esteja afetada por uma doena ou pela loucura, nunca pode chegar
a um tal diapaso de vivacidade que seja completamente impossvel distinguir
entre essas percepes. Todas as cores da poesia, por mais esplndidas, jamais
podero pintar os objetos naturais de tal modo que a descrio seja tomada
por uma verdadeira paisagem. O mais vivo pensamento ainda inferior
mais embotada das sensaes.
(...) Podemos, pois, dividir aqui todas as percepes da mente em duas classes
ou espcies, as quais se distinguem pelos seus diferentes graus de fora ou
vivacidade. As menos fortes ou vivazes so comumente denominadas pensa-
mentos ou idias. A outra espcie no tem nome em nossa lngua, como em
muitas outras, suponho que por no ser necessrio para nenhum fim que no
fosse fosfico inclu-las sob um termo ou designao geral. Tomemos, pois,
uma pequena liberdade e chamemo-las impresses, usando a palavra num
sentido algo diferente do usual. Pelo termo impresso entendo todas as nossas
percepes mais vivazes, quando ouvimos, vemos, sentimos, amamos, odimos,
desejamos ou queremos. E as impresses distinguem-se das idias, que so as
impresses menos vivazes das quais temos conscincia quando refletimos sobre
qualquer dessas sensaes ou movimentos acima mencionados. (Investigao
sobre o entendimento humano, II, 11, 12)
Assim, para Hume, qualquer pensamento tem na sua base uma impres-
so, e a liberdade que se supe existir no pensamento humano, capaz de criar
as mais inslitas imagens, no passa de uma liberdade aparente. Essa liber-
dade aparente porque quaisquer idias que o homem possa criar so, em
ltima instncia, fundadas nas suas impresses.
Mas, embora nosso pensamento parea possuir essa liberdade ilimitada, exa-
minando o assunto mais de perto, vemos que, na realidade, ele se acha en-
cerrado dentro de limites muito estreitos e que todo poder criador da mente
se reduz simples faculdade de combinar, transpor, aumentar ou diminuir os
313
materiais fornecidos pelos sentidos e pela experincia. Quando pensamos numa
montanlut de ouro, no fazemos mais do que juntar duas idias compatveis
entre si, ouro e montanha que j conhecamos anteriormente. Podemos con-
ceber um cavalo virtuoso, pois os nossos sentimentos nos levam concepo
de virtude, e esta pode unir-se afigura e forma de um cavalo, animal que nos
familiar. Em resumo, todos os materiais do pensamento derivam da sensao
interna ou externa; s a mistura e composio destas dependem da mente e
da vontade. Ou, para expressar-me em linguagem filosfica, todas as nossas
idias ou percepes mais fracas so cpias de nossas impresses, ou percep-
es mais vivas, {investigao sobre o entendimento humano, II, 13)
Com essa citao, explicita-se, tambm, que, para Hume, as idias cha-
madas complexas so compostas de idias simples e, portanto, baseadas em
impresses. Deve-se ressaltar, ainda, que a suposio de que todas as idias,
simples ou complexas, so fundadas em impresses adquire um duplo papel
no pensamento de Hume: tambm a prova a que se deveria submeter todas
as nossas idias para que se pudesse aceit-las.
(...) Quando suspeitarmos, portanto, que um termo filosfico seja empregado
sem qualquer significao ou idia (o que acontece com muita freqncia),
bastar perguntar: De que impresso deriva esta suposta idia? E, se for im-
possvel cas-la com uma impresso qualquer, isso servir para confirmar
nossa suspeita. Colocando as idias sob uma luz to clara, temos boas razes
para nutrir a esperana de remover todas as disputas que possam surgir a
respeito de sua natureza e realidade. (Investigao sobre o entendimento hu-
mano, II, 17)
A partir desses aspectos, poder-se-ia supor que Hume via o homem
como um mero depsito de impresses sensoriais e seu conhecimento como
mera conseqncia mecnica. No entanto, no isto que ocorre: para Hume,
h situaes nas quais o homem claramente produz idias que no so meras
cpias de impresses, o que indica que, como sujeito do conhecimento, o
homem desempenha um papel ativo na produo desse conhecimento. as-
sim que pode ser analisada a exceo identificada por Hume na relao im-
presso-idia: para ele, em alguns casos, o homem capaz de construir idias
no a partir de impresses, mas exatamente de sua ausncia.
H, porm, um fenmeno contraditrio que talvez prove no ser de todo im-
possvel que uma idia surja sem a correspondente impresso. (...) Suponha-se,
por exemplo, uma pessoa que tenha desfrutado seu sentido de viso durante
trinta anos, adquirindo uma perfeita familiaridade com toda espcie de cores,
salvo um determinado matiz de azul, por exemplo, que nunca se lhe tenha
deparado. Coloquem-se diante dele todos os diferentes matizes de azul, menos
esse, em ordem gradualmente descendente do mais carregado ao mais claro;
evidente que ele perceber um vazio no lugar onde falta esse matiz e sentir
314
uma distncia maior entre as cores contguas nesse lugar do que em todos os
outros. Pergunto, agora, se lhe ser possvel suprir essa falha com a sua
imaginao e formar por si mesmo a idia desse matiz particular, embora
nunca lhe tenha sido apresentado pelos sentidos. Creio que poucos negaro
essa possibilidade; e isso servir talvez como prova de que as idias simples
no derivam sempre e em todos os casos das correspondentes impresses; se
bem que este exemplo seja to singular, que mal merece nos detenhamos nele
e alteremos, por sua causa, o nosso principio geral. {Investigao sobre o
entendimento humano, II, 16)
Pode-se notar, a partir desse exemplo, que Hume reconhece no homem
caractersticas que lhe atribuem um papel ativo (no sentido de no ser um
mero depsito de impresses) na produo de conhecimento. Embora Hume
considere esse caso uma exceo e no o discuta detalhadamente, ainda assim,
permanece o fato de que o autor reconhece o sujeito do conhecimento como
produtor efetivo de idias, j que, nesse caso, as idias no seriam cpias de
impresses, apesar de poderem estar sendo delimitadas por elas.
Mas, como foi dito, esse caso uma exceo; permanece, apesar dele,
o princpio geral de que toda idia representativa de uma ou de um conjunto
de impresses. E o problema que ento se coloca como que a partir das
impresses e das idias o homem constri o conhecimento.
H, para Hume, dois tipos possveis de conhecimento. De um lado, o
conhecimento obtido pela aplicao do raciocnio, pela construo de relaes
lgicas; o conhecimento das matemticas, da geometria e da prpria lgica.
Este um conhecimento sobre o qual se pode demonstrar sua verdade ou
falsidade, analisando a correo do raciocnio e das relaes lgicas; no en-
tanto, no diz, necessariamente, respeito a nenhum fato concreto e nem a
eles precisa se referir. Segundo Kolakowski (1972), para Hume, as afirmaes
desse tipo (denominadas relaes de idias) so "indubitveis porque so
auto-evidentes ou porque foram legitimamente inferidas de proposies auto-
evidentes" (p. 45). assim que o prprio Hume apresenta esse tipo de co-
nhecimento:
Todos os objetos da razo ou investigao humana podem ser divididos na-
turalmente em duas espcies, a saber: relaes de idias e questes de fato.
A primeira espcie pertencem as cincias da Geometria, lgebra e Aritmtica;
e, numa palavra, toda afirmao que seja intuitivamente ou demonstrativa-
mente certa. Que o quadrado da hipotenusa igual soma dos quadrados dos
dois lados uma proposio que expressa uma relao entre essas figuras.
Que trs vezes cinco igual metade de trinta expressa uma relao entre
esses nmeros. s proposies desta espcie podem ser descobertas pela sim-
ples operao do pensamento, sem dependerem do que possa existir em qual-
quer parte do universo. Ainda que jamais existisse um crculo ou um tringulo
315
na natureza, as verdades demonstradas por Euclides conservariam para sem-
pre a sua certeza e evidncia. {Investigao sobre o entendimento humano,
IV, 20)
De outro lado, h o conhecimento que diz respeito a questes de fato,
que busca expressar conexes e relaes que descrevem (ou explicam) fen-
menos concretos. Nesse caso, a experincia passa a desempenhar papel fun-
damental na sua formulao, e a questo da certeza e verdade do conheci-
mento complexifica-se na medida em que o conhecimento ganha em conte-
do. Aqui, a verdade de uma afirmao no pode ser logicamente demonstrada
ou refutada, e todo o conhecimento depende dos processos que operam na
mente quando o homem se defronta com a experincia dos fatos.
As questes de fato, que formam os segundos objetos da razo humana, no
so verificadas da mesma forma; e tampouco a evidncia de sua verdade, por
maior que seja, tem a mesma natureza que a antecedente. O contrrio de toda
afirmao de fato sempre possvel, pois que nunca pode implicar ama con-
tradio e concebido pelo intelecto com a mesma facilidade e clareza, como
perfeitamente conforme realidade. Que o sol no nascer amanh no uma
proposio menos inteligvel e no implica mais contradio do que a assertiva
contrria, de que o sol nascer. .Sena vo, por isso, tentar demonstrar a sua
falsidade. Se isso fosse demonstrativamente falso, implicaria uma contradio
e jamais poderia ser claramente concebido pelo intelecto. (Investigao sobre
o entendimento humano, IV, 21)
Assim, Hume defronta-se com um problema importante. Se o conhe-
cimento das "cincias empricas", conhecimento esse sumamente relevante
para ele por ser o nico conhecimento que se refere ao contedo do mundo,
o produto de uma atividade subjetiva da imaginao operando sobre as
impresses e idias, torna-se importante explicar que operaes so essas.
Torna-se importante explicar como idias que so individuais, porque se re-
ferem a experincias individuais, que so particulares e localizadas, porque
se referem a impresses igualmente particulares e singulares, podem dar ori-
gem a um conhecimento que no aparece como singular e particular, imediato
e individualizado.
Para Hume, as afirmaes gerais, as leis, as regularidades que supomos
descobrir e descrever com o conhecimento que reproduzimos sobre o mundo
derivam de regras naturais que operam na imaginao dos homens:
Embora o fato de as diferentes idias se ligarem uma s outras seja demasiado
evidente para ter escapado observao, no vejo que algum filsofo tenha
procurado enumerar ou classificar todos os princpios de associao. Ora,
este um assunto que bem parece merecer um pouco de ateno. Quanto a
mim, creio existirem apenas trs princpios de conexo entre as idias, a saber:
316
a semelhana, a contigidade de tempo ou lugar, e a causa e efeito.
Ningum, acredito, ter muita dvida de que estes princpios sirvam para ligar
idias. Uma pintura conduz naturalmente os nossos pensamentos para o origi-
nal; a meno de um aposento numa casa desperta naturalmente uma pergunta
ou um comentrio a respeito dos outros; e, se pensamos num ferimento, di-
ficilmente podemos furtar-nos idia da dor que o acompanha. (Investigao
sobre o entendimento humano, III, 19)
essa relao, a de causalidade, que o trao fundamental, a primeira
caracterstica de todo conhecimento sobre questes de fato, para Hume.
Todos os raciocnios sobre questes de fato parecem fundar-se na relao de
causa e efeito. S por meio desta relao podemos ultrapassar a evidncia de
nossa memria e de nossos sentidos. (...) Todos os nossos raciocnios em torno
de fatos so da mesma natureza. E aqui supomos constantemente que existe
uma conexo entre o fato presente e o que dele inferimos. Se no houvesse
nada para lig-los, a inferncia seria completamente precria. (...) Se disse-
carmos todos os outros raciocnios deste gnero, veremos que se fundam na
relao de causa e efeito, e que esta relao prxima ou remota, direta ou
colateral. O calor e a luz so efeitos colaterais do fogo, e um desses efeitos
pode ser inferido com acerto do outro. (Investigao sobre o entendimento
humano, IV, 22)
Para Hume, no h como estabelecer tais relaes causais e, portanto,
no h como construir conhecimento sobre questes de fato, a no ser a partir
da experincia, que se torna, assim, a segunda caracterstica desse tipo de
conhecimento.
Se nos quisermos persuadir, contudo, sobre a natureza dessa evidncia que
nos d garantia em questes de fato, devemos indagar como chegamos ao
conhecimento desta relao da causa e do efeito.
Aventurar-me-ei a afirmar, como uma proposio geral que no admite exce-
o, que o conhecimento dessa relao no , em caso algum, alcanado por
meio de raciocnios a priori, mas origina-se inteiramente da experincia, quan-
do verificamos que certos objetos particulares esto constantemente ligados
uns aos outros. Que um objeto seja apresentado a um homem da maior ca-
pacidade e poder natural de raciocnio; se esse objeto lhe for inteiramente
desconhecido, ele no poder, mesmo pelo exame mais minucioso de suas
qualidades sensveis, descobrir qualquer de suas causas ou efeitos. Nenhum
objeto jamais revela, pelas qualidades que se manifestam aos sentidos, nem
1 Semelhana. (N. do A.)
2 Contigidade. (N do A.)
3 Causa e efeit. (N. do A.)
317-
as causas que o produziram, nem os efeitos que dele decorrero; e tampouco
a nossa razo, sem o socorro da experincia, capaz de inferir o que quer
que seja em questes de fato e de existncia real. {Investigao sobre o en-
tendimento humano, IV, 23)
H ainda uma caracterstica, implcita, do conhecimento sobre questes
de fato, que deve ser apontada, j que dela que deriva a confiana na
previso dos fenmenos. Para Hume, o conhecimento relativo a questes de
fato tambm est na dependncia de "se confiar na experincia passada e
fazer dela o padro de nossos juzos futuros" (Investigao sobre o enten-
dimento humano, IV, 30). O u seja, o conhecimento depende da suposio de
que o futuro repetir o passado, ou de que os eventos por ocorrer seguiro
o mesmo padro j observado.
No trecho a seguir, Hume parece sintetizar as trs caractersticas bsicas
relativas ao conhecimento das questes de fato:
(...) Dissemos que todos os argumentos relativos existncia baseiam-se na
relao de causa e efeito; que o nosso conhecimento dessa relao deriva
inteiramente da experincia; e que todas as nossas concluses experimentais
partem da suposio de que o futuro ser conforme o passado. {Investigao
sobre o entendimento humano, IV, 30)
Essas trs caractersticas distinguem o conhecimento baseado em rela-
es de idias e o conhecimento sobre questes de fato e indicam que este
ltimo tipo de conhecimento nunca poder obter o mesmo tipo de certeza
demonstrativa que caracteriza o primeiro, j que "em todos os raciocnios
derivados da experincia o intelecto d um passo que no se apoia em ne-
nhum argumento ou processo do entendimento" {Investigao sobre o en-
tendimento humano, V, 34). Apesar disso, a esse conhecimento o homem
atribui um certo grau de confiana, certeza e objetividade e, de posse desse
conhecimento, opera sobre o mundo explicando-o e transformando-o. A ques-
to a responder passa a ser, ento, a de saber o que (se no a razo ou o
raciocnio) permite a confiana na objetividade desse tipo de conhecimento.
E Hume afirma:
Suponha-se que uma pessoa, embora dotada das mais vigorosas faculdades
de razo e reflexo, seja trazida repentinamente a este mundo. E certo que
tal pessoa observaria de imediato uma sucesso continua de objetos e um fato
sucedendo-se ao outro; no seria porm capaz de descobrir nada mais. A
princpio, no haveria raciocnio que a conduzisse idia de causa e efeito,
j que os poder es particulares graas aos quais se realizam todas as operaes
naturais no se manifestam aos sentidos; nem razovel concluir, simples-
mente porque um acontecimento em determinado caso precede o outro, que o
primeiro a causa e o segundo o efeito. A conjuno dos dois pode ser ar-
318
bitrria e casual. Talvez no haja razo para inferir a existncia de um do
aparecimento do outro. Numa palavra: sem mais experincias, tal pessoa no
poderia fazer uso de conjetura ou de raciocnio a respeito de qualquer questo
de fato ou ter certeza de qualquer coisa alm do que estivesse imediatamente
presente sua memria e aos seus sentidos.
Suponha-se, agora, que esse homem adquiriu mais experincia e viveu no
mundo o tempo suficiente para ter observado uma conjuno constante entre
objetos ou acontecimentos familiares: qual o resultado dessa experincia?
Ele infere imediatamente a existncia de um objeto do aparecimento do outro.
E, sem embargo, nem toda a sua experincia lhe deu qualquer idia ou co-
nhecimento do poder secreto pelo qual um objeto produz o outro; e tampouco
levado a fazer essa inferncia por qualquer processo de raciocnio. No en-
tanto, levado a faz-la; e, ainda que esteja convencido de que o seu raciocnio
nada tem que ver com essa alterao, persiste na mesma linha de pensamento.
H algum outro princpio que o determine a tirar essa concluso.
Esse princpio o costume ou hbito. Com efeito, sempre que a repetio de
algum ato ou operao particular produz uma propenso de renovar o mesmo
ato ou operao sem que sejamos impelidos por qualquer raciocnio ou pro-
cesso do entendimento, dizemos que essa propenso um efeito do hbito. (...)
O hbito , pois, o grande guia da vida humana. E aquele princpio nico
que faz com que nossa experincia nos seja til e nos leve a esperar, no futuro,
uma seqncia de acontecimentos semelhante s que se verificaram no pas-
sado. Sem a ao do hbito, ignoraramos completamente toda questo de
fato alm do que est imediatamente presente memria ou aos sentidos.
Jamais saberamos como adequar os meios aos fins ou como utilizar nossos
poderes naturais na produo de um efeito qualquer. Seria o fim imediato de
toda ao, assim como da maior parte da especulao. (Investigao sobre o
entendimento humano, V, 35, 36)
Ao afirmar o hbito como o princpio que permite ao homem ultrapas-
sar a experincia imediata e chegar ao conhecimento das questes de fato,
Hume, no entanto, continua mantendo que a base da qual se parte nesse
processo continua sendo um fato particular sempre "presente aos sentidos
ou memria" (Investigao sobre o entendimento humano, V, 37).
A concepo de hbito como um princpio que leva ao conhecimento
de questes de fato conduz a um outro conceito de Hume: o conceito de
crena. A crena fortalece as conexes que foram derivadas do hbito e per-
mite ao homem optar por determinadas conexes causais e por determinadas
expectativas quando, diante de um fato, lhe permite diferenciar aquilo que
considerado uma fico da imaginao daquilo que conhecimento de fato.
(...) Digo, pois, que a crena no seno uma concepo mais vf&fla, enrgica,
vigorosa, firme e constante de um objeto, concepo essa que imaginao
jamais poder atingir. Esta variedade de termos, que talvez parea muito pou-
319
co filosfica, tem em mira unicamente expressar o ato da mente que torna as
realidades, ou o que tomamos por tais, mais presentes do que as fices, faz
com que elas pesem mais no pensamento e lhes d uma influncia superior
sobre as paixes e a imaginao. Contanto que estejamos de acordo sobre a
coisa, no vale a pena discutir a respeito dos termos. A imaginao dispe
vontade de todas suas idias, pode uni-las, mistur-las e vari-las de todas
as maneiras possveis. Pode conceber objetos fictcios com todas as circuns-
tncias de lugar e tempo. Pode coloc-las, por assim dizer, diante de nossos
olhos com suas verdadeiras cores, tal e qual como se verdadeiramente exis-
tissem. Mas como essa faculdade da imaginao nunca poder alcanar por
si mesma a crena, evidente que a crena no consiste na natureza ou ordem
peculiar de nossas idias, mas no modo como so concebidas e no sentimento
que despertam na mente. Confesso que impossvel explicar perfeitamente
esse sentimento ou modo de concepo. Podemos fazer uso de palavras que
expressem algo aproximado. Mas o seu nome verdadeiro e prprio, como j
observamos, crena, um termo que todos compreendem suficientemente na
vida ordinria. E em filosofia no podemos fazer mais do que afirmar que a
crena algo sentido pela mente e que distingue as idias nascidas do juzo
das fices da imaginao. D-lhes mais peso e influncia, faz com que pa-
ream mais importantes, impe-nas ao intelecto e as converte em princpios
determinantes de nossas aes. (Investigao sobre o entendimento humano,
V, 40)
Para Hume, crena est associada noo de probabilidade. A ocor-
rncia mais provvel de um evento no futuro est associada sua ocorrncia
mais freqente no passado. Essa ocorrncia passada fortalece a crena na
ocorrncia futura do evento, dado que a ele se associa uma maior pro-
babilidade de que venha a acontecer.
Nessa medida, o conhecimento das questes de fato, fundado na expe-
rincia e possvel devido ao hbito e crena, no se confunde com o co-
nhecimento racional, com o conhecimento obtido pelo raciocnio. da que
Kolakowski (1972) afirma que, para Hume, no existe um conhecimento
racional do mundo; ao conhecimento das questes de fato - que til, au-
xilia-nos em nossa vida cotidiana - no se aplica o critrio de verdade ra-
cionalmente obtida. Aplica-se um critrio pragmtico. No se avalia o seu
valor de verdade, mas sim sua utilidade.
Dois alertas so, aqui, necessrios. Em primeiro lugar, Hume no de-
limita, no estabelece um critrio formal para o fortalecimento da crena na
ocorrncia futura de um evento. No h como estabelecer o nmero de ob-
servaes, experimentos, ou eventos necessrios, para que se tenha confiana
no conhecimento produzido. Dessa forma, o grau de confiana no conheci-
mento no depende necessariamente e diretamente da quantidade de obser-
vaes. Em segundo lugar, ao afirmar que Hume supe que o conhecimento
320
das questes de fato no se baseia no conhecimento racional, no se est
afirmando que Hume recusa qualquer possibilidade de raciocnio no processo
de produo do conhecimento humano. Segundo Monteiro (1984), o que
Hume est efetuando um deslocamento do papel atribudo razo na pro-
duo do conhecimento. Esta deixa de ocupar o papel central que lhe atri-
budo na tradio racionalista, "desentronizada", de forma que o conheci-
mento perde seu atributo demonstrativo. O conhecimento, para Hume, ba-
seado, em vez disso, no hbito, um princpio no redutvel razo.
Toda essa concepo de conhecimento, especialmente do conhecimento
sobre questes de fato, tem, em Hume, uma marca que parece especial e que
possivelmente explica a importncia que atribuda ao seu pensamento. Ao
discutir o conhecimento, Hume opera uma inverso e passa a discuti-lo no
como algo que emana do objeto, mas como uma atividade do homem e tenta
explicar quais so os mecanismos responsveis, no sujeito, pela construo
de um conhecimento que se refere a eventos que supostamente esto fora
dele. Essa inverso, que coloca como foco central de suas preocupaes o
sujeito, permite-lhe escapar da questo metafsica da existncia material ou
espiritual do mundo. Hume no precisa (e no o faz) discutir a existncia
ou no de um mundo externo, independente do homem.
J, desde a discusso das impresses como sendo dados originrios do
conhecimento, Hume no se preocupa em discutir a fonte das impresses, a
relao do sujeito com o mundo exterior e independente dele. Prefere assumir
a origem do conhecimento na prpria percepo, como algo que faz parte
do sujeito. Essa mesma caracterstica est presente em toda a discusso do
conhecimento, at chegar s concepes de hbito e de crena, princpios
tidos como fundamentais para a compreenso do conhecimento humano e
tambm vistos como atividades ou mecanismos subjetivos.
Hume passa, ento, a discutir no o que emana do objeto do conheci-
mento para ser traduzido por um homem, mas aquilo que, no homem, lhe
permite encontrar explicaes e operar sobre o mundo. Esse passo o leva a
criticar algumas noes que, muitas vezes, foram tomadas como bsicas e
at como ponto de partida na anlise do conhecimento. Tal o caso da sua
crtica noo de substncia, de um substratum que daria unidade aos fe-
nmenos, de essncia, seja material (crtica tambm feita por Berkeley), seja
espiritual. Hume afirma que tal noo insustentvel j que da experincia
no poderiam emanar impresses de substncia. Hume critica tambm a pr-
pria noo de causalidade; a causalidade, para ele, no est nos fenmenos
da natureza, mas algo que, subjetivamente, o homem atribui aos fen-
menos. Assim, Hume no se cansa de afirmar que a conexo necessria entre
causa e efeito no pode ser vista ou percebida nos fenmenos que o homem
experincia e que a sua descoberta no emana dos fenmenos observados,
321
mas sim de mecanismos subjetivos. So estes que levam os homens a propor
conexes causais entre fenmenos, os quais apresentam, de per se, apenas
contigidade.
A primeira vez que um homem viu a comunicao do movimento pelo impulso,
como pelo choque de duas bolas de bilhar, no podia afirmar que havia co-
nexo, mas apenas conjuno entre um acontecimento e o outro. Aps observar
vrios exemplos da mesma natureza, declara-os conexos entre si. Que altera-
o ocorreu para dar origem a essa nova idia de conexo? Nenhuma, a no
ser que ele agora sente na sua imaginao que esses acontecimentos so co-
nexos e pode predizer logo a existncia de um deles ao se lhe apresentar o
outro. Quando dizemos, portanto, que um objeto est ligado a outro, queremos
significar apenas que se estabeleceu uma conexo entre ambos no nosso pen-
samento, provocando essa inferncia pela qual eles se convertem em provas
da existncia um do outro: concluso um tanto extraordinria, mas que parece
fundada numa evidncia suficiente. (Investigao sobre o entendimento huma-
no, VII, 59)
De tudo isso se conclui que, para Hume, a noo de uma conexo
causai entre os fenmenos baseada no na observao de uma cone-
xo necessria entre os eventos, mas apenas na observao da contigidade
entre eles. a experincia da contigidade, da proximidade temporal que
leva o homem a postular os fenmenos como numa relao de causa e efeito.
A conexo causai entre os fenmenos afirmada a partir, sempre, de fen-
menos observados; no possvel postular uma relao de causa e efeito que
no parta de eventos efetivamente observados. Assim, a conexo causai - a
inferncia indutiva - parte de fenmenos observados e refere-se sempre a
fenmenos observveis (a serem observados no futuro); como se a possibi-
lidade de atribuio de causalidade tivesse dois limites ou parmetros, aquilo
que foi observado e que lhe serve de base, e aquilo a que se refere e que
lhe serve de teste.
Essa nfase no observado como limite da inferncia indutiva poderia,
primeira vista, sugerir que, para Hume, este tambm o limite do conhe-
cimento cientfico. Isso no assim: segundo Monteiro (1984), a prpria
suposio de Hume de que pela via do hbito e da crena que o homem
chega a afirmar uma relao de causalidade entre eventos j o demonstra.
As "causas" da afirmao causai - o hbito, a crena - no so fenmenos
observados e observveis. No observamos os dois eventos ocorrendo con-
tiguamente; diante de um deles, observado, que a afirmao de uma relao
causai, inferimos o outro, inobservado, que o hbito, a crena. Ainda se-
gundo Monteiro, a proposio dessas "causas", a partir do efeito observado, ,
na realidade, a proposio de uma hiptese de trabalho. Hiptese que, apesar
de se referir a eventos inobservados e inobservveis, no ultrapassa os limites
322
da experincia. Tais hipteses "so sugeridas pela experincia, e depois de
formuladas encontram confirmao em outros tipos de experincia (...) no
so raciocnios baseados apenas em suposies" (pp. 53-54). O valor dessas
hipteses garantido tanto pelo seu poder explicativo como por sua simpli-
cidade.
Apesar de propor hipteses e de postular princpios no observveis,
Hume no pretende e no assume como tarefa da cincia a busca de uma
causa ltima dos fenmenos. A razo disso pode estar no fato de que Hume
afirma as hipteses como sendo sugeridas e confirmadas pela experincia.
O conhecimento cientfico, portanto, no apenas a reproduo ou a gene-
ralizao do observado, uma vez que vai alm disso, mas sempre, para
Hume, baseado - fundado - na observao.
Assim, o conhecimento cientfico caracteriza-se por, na busca de causas,
ultrapassar os limites da inferncia indutiva sem ultrapassar os limites da
experincia. Hume quem afirma:
Reconhece-se que o supremo esforo da razo humana reduzir os princpios
causadores dos fenmenos naturais a uma concepo mais simples e reportar
os numerosos efeitos particulares a umas poucas causas gerais por meio de
raciocnios baseados na analogia, na experincia e na observao. Mas quanto
s causas dessas causas gerais, seria em vo que tentaramos descobri-las; e
tampouco encontraremos jamais uma explicao delas que nos convena ple-
namente. Essas origens e princpios primeiros so completamente fechados
curiosidade e investigao humanas. (Investigao sobre o entendimento
humano, IV, 26)
No entanto, essa concepo de conhecimento como fruto de uma ati-
vidade subjetiva vem sempre temperada pela noo de que a prpria subje-
tividade humana tem um carter natural, ela mesma parte da natureza e
tem, portanto, um carter objetivo. Assim, o conhecimento ao qual no se
pode atribuir certeza e verdade absolutas por ser fruto da atividade humana,
a natureza que no desvenda seus mistrios aos olhos do homem e o prprio
homem que s no recndito de sua imaginao capaz de construir conhe-
cimento quase que sofrem uma nova inverso e adquirem um carter unifor-
me, "universal" e natural; pelo menos em medida suficiente para que o ho-
mem siga explicando e operando sobre si mesmo, a sociedade e a natureza.
E de maneira que Hume considera plenamente satisfatria.
Admite-se, universalmente, que existe uma grande uniformidade entre as aes
dos homens em todas as naes, e idades, e que a natureza humana permanece
sempre a mesma em seus princpios e operaes. Os mesmos motivos sempre
produzem as mesmas aes. Os mesmos acontecimentos seguem-se s mesmas
causas. (...) A humanidade mais ou meiws a mesma em todas as pocas e
323
lugares, de tal sorte que a Histria nada tem de novo ou de estranho para
nos contar sob este aspecto. Sua principal utilidade descobrir os princpios
constantes e universais da natureza humana. (...) E a terra, a gua, e os outros
elementos examinados por Aristteles e Hipcrates no so mais semelhantes
aos que podemos observar hoje do que os homens descritos por Polbio e
Tcito se parecem com os que governam atualmente o mundo. {Investigao
sobre o entendimento humano, VIII, 65)
As idias polticas de Hume, sem dvida, esto relacionadas com suas
posies filosficas e isso fica claro na sua defesa da liberdade de idias e
de associao, como sendo essenciais para o desenvolvimento do conheci-
mento e da cincia, e tal desenvolvimento como sendo fundamental para a
humanidade. Isso fica claro, ainda, na sua defesa de que as repblicas so
mais afeitas a tal estado de coisas, pois, nelas, o poder no estaria depositado
nas mos de um nico homem, com poderes absolutos, inclusive para delegar
esse poder. Nas repblicas, tambm, as leis seriam mais facilmente promul-
gadas e executadas, levando a uma maior liberdade e igualdade entre os
homens, conseqentemente, a uma maior curiosidade e engenhosidade, o que
levaria, por sua vez, a uma maior produo de conhecimento.
Hume critica as teorias contratualistas como as de Locke. A essas teo-
rias Hume contrape a noo de que o Estado e seu poder se formaram pela
acumulao de riquezas, que o poder obtido primordialmente pela usurpao
e no pelo consentimento entre os homens. Parece tambm estar contida
nessa suposio, a noo de que os homens, numa determinada sociedade,
tm interesses diferentes a defender. Da, possivelmente, que decorre a
posio de Hume de que o poder tem que ser respeitado porque necessrio
sobrevivncia da sociedade. Hume critica, tambm, as teorias que defendem
o poder de um governante como sendo de origem divina e de um governante
com direitos absolutos e afirma que, se um monarca tivesse direito divino
ao poder, todos os homens tambm teriam direitos divinos, passando a ser
defensvel, por exemplo, que mesmo aqueles em luta contra um determinado
Estado estariam agindo de acordo com esse direito.
possvel afirmar que as idias polticas de Hume so coerentes com
o que defende em relao ao conhecimento, j que acaba por assumir, a partir
dessa dupla crtica s origens do poder, que este deve ser criado, defendido
e mantido por suas implicaes pragmticas e no por questes de princpio:
Qual pois a necessidade de fazer assentar o dever de fidelidade ou obedincia
aos magistrados no de lealdade ou cumprimento das promessas, e de supor
que o consentimento de cada indivduo que o submete ao governo, quando
vemos que a fidelidade e a lealdade assentam ambas exatamente no mesmo
fundamento, e so ambas aceitas pelos homens devido aos evidentes interesses
e necessidades da sociedade humana? Diz-se que somos obrigados a obedecer
324
a nosso soberano porque lhe fizemos uma promessa tcita nesse sentido; mas
por que somos obrigados a cumprir nossa promessa? Devemos aqui afirmar
que o comrcio e as relaes entre os homens, que to grandes vantagens
oferecem, no possuiro segurana alguma se os homens no respeitarem seus
compromissos. De modo semelhante se pode dizer que seria totalmente impos-
svel viver em sociedade, ou pelo menos numa sociedade civilizada, sem leis,
magistrados e juizes para impedir os abusos dos fortes contra os fracos, dos
violentos contra os justos e eqitaivos. Como a obrigao de fidelidade tem
a mesma fora e autoridade que a obrigao de lealdatle, nada ganhamos em
reduzir uma outra; para fundamentar ambas bastam os interesses e neces-
sidades gerais da sociedade.
Se se perguntar qual a razo dessa obedincia que somos obrigados a prestar
ao governo, prontamente responderei que porque de outro modo a sociedade
no poderia subsistir. E esta resposta clara e inteligvel para todo e qualquer
homem. (Ensaios morais, polticos e literrios do contrato original, p. 233)
A teoria do conhecimento de Hume essencialmente antidogmtica,
supe como sendo essencial a liberdade de pensamento, investigao e as-
sociao e supe a possibilidade do conhecimento em todos os homens e
no apenas em alguns. Alm disso, pode-se se identificar nela aspectos re-
lacionados ao pragmatismo.
As suas idias sobre a sociedade, poltica e histria tm, tambm, ca-
ractersticas semelhantes. Supem a liberdade de expresso, a igualdade e o
antidogmatismo como pr-requisitos para a atuao poltica e para a conduo
da sociedade e dos negcios humanos. Mas supem, tambm, um certo prag-
matismo poltico expresso em sua defesa do respeito s leis estabelecidas,
do respeito autoridade como parte integrante do comportamento poltico
dos homens.
325
CAPITULO 18
ALTERA ES NA SO CIEDADE,
EFERVESCNCIA NAS IDIAS:
A FRAN A DO SCULO XVIII
As luzes foram um arco-ris, ou melhor dizendo, fogos cruzados.
J. Deprun
O perodo que vai de fins do sculo XVII at fins do sculo XVIII
caracteriza-se por ser uma fase em que uma srie de mudanas econmicas
e polticas se deu em diferentes partes do mundo, embora essas mudanas
no tenham ocorrido concomitantemente. Nesse perodo, enquanto a Ingla-
terra j havia realizado as transformaes econmicas caractersticas da Re-
voluo Industrial, o mesmo no havia ainda ocorrido com a Frana e a
Alemanha. A Frana, nesse perodo, mantinha ainda um regime feudal, mas
apareciam j os germes da revoluo que conduziria tambm esse pas na
direo do capitalismo.
Segundo Efimov, Galkine e Zubok (1981), at fins do sculo XVIII
reina ainda na Frana o feudalismo, predominando a uma populao cam-
ponesa de 23 milhes de pessoas, maioria dentre os 25 milhes que consti-
tuam a populao total. Vivendo em regime de servido, esses camponeses
tinham uma srie de deveres que envolviam o pagamento de impostos ao
Estado, dzimos ao clero e taxas feudais nobreza. Essa situao insustentvel
de empobrecimento da populao, aliada ao descontentamento da burguesia
- que via cerceada a to desejada liberdade de comrcio e produo - e aos
problemas econmicos da monarquia, gerou uma crise que acaba por culminar
em mudanas que instituram na Frana a Primeira Repblica em 1793.
Segundo Aquino e outros (1982), o capitalismo emergente na Frana
chocava-se com as fortes barreiras feudais que por todos os meios buscavam
impedir a desestabilizao do regime e a perda de privilgios da nobreza e
do clero. Nesse perodo de transio, em que o regime feudal vai sendo
desestruturado e substitudo por novas formas de organizao e produo e
em que uma nova classe - a burguesia - visa ascender ao poder substituindo
a nobreza e o clero, novas idias tambm vo se desenvolvendo, idias
essas que refletiam os anseios da sociedade nesse contexto de transformao.
Autores como Diderot (1713-1784), Voltaire (1694-1778), Helvtius (1715-
1771), d'Holbach (1723-1789), La Mettrie (1709-1751), Montesquieu (1689-
1755), Maupertuis (1698-1759), Buffon (1707-1788), Condillac (1715-1780),
Vauvenargues (1715-1747), d'Alembert (1717-1783) e Rousseau (1712-1778) po-
dem ser destacados como representantes do pensamento francs do sculo XVIII.
Alguns aspectos podem ser levantados como caractersticos do pensa-
mento francs desse perodo: a crena no poder da razo como instrumento
de obteno do conhecimento e de modificao da realidade, a nfase aos
dados obtidos por meio da observao e da experimentao, o antidogmatis-
mo (e, conseqentemente, a crtica religio) e a noo de progresso.
Embora possam ser identificadas essas caractersticas mais gerais no
pensamento francs do sculo XVIII, isto no significa que todos os pensa-
dores desse momento expressaram a mesma posio em relao a todos esses
aspectos; ao contrrio, pode-se observar que alguns deles apresentam oposi-
es ou nuanas em relao a uma ou mais dessas caractersticas em particular.
Esse um momento em que as opinies e posies so mais ampla-
mente veiculadas, e esta talvez possa ser considerada uma outra caracterstica,
fato que pode ter contribudo para que diferenas e nuanas aparecessem.
Nesse perodo, em vez de utilizarem o latim, os autores expressavam-se
na lngua ptria e faziam-no por meio de artigos, peas de teatro, contos, por
exemplo. Assim, houve um maior acesso s idias produzidas por parte da
sociedade, seja por terem uma caracterstica menos erudita e tcnica, seja
pela quantidade de reprodues feitas.
Um dos empreendimentos culturais desse momento foi a proposta de
elaborar uma Enciclopdia
1
que abordasse temas de todas as reas de conhe-
cimento humano (artes, cincias, etc), proposta essa iniciada por Diderot e
d'Alembert. A Enciclopdia foi um veculo de divulgao das idias dos
pensadores franceses, j que grande parte deles elaborou artigos expondo
suas opinies e crticas, sendo os mais famosos Diderot, d'Alembert, Voltaire,
Rousseau, Montesquieu e d'Holbach.
O RACIONALISMO FRANCS: APOIO NA OBSERVAO
E NA EXPERINCIA
Como j foi dito, uma das caractersticas desse perodo a nfase no
poder da razo. O s autores desse sculo so, portanto, racionalistas, j que
para eles a razo tem um papel primordial na vida do homem. Sendo con-
siderada uma caracterstica natural do ser humano, que inerente a todo
1 Ao todo, foram publicados dezessete volumes contendo artigos sobre cincia, msica,
histria, tica, religio, filosofia social, lingstica, biologia, etc.
328
indivduo, a razo vista como mecanismo, meio de obteno do conheci-
mento e guia das aes humanas.
Segundo Desn (1982), esse racionalismo, embora tenha herdado de
Descartes "(...) o gosto do raciocnio, a busca da evidncia intelectual, e,
sobretudo, a audcia de exercer livremente seu juzo e de levar a toda parte
o esprito da dvida metdica" (p. 75), a ele se ope.
O racionalismo do sculo XVIII contraria o de Descartes, pois, enquan-
to para este a razo tinha uma caracterstica de recipiente - isto , possua
idias inatas, verdades eternas... -, para os pensadores franceses desse perodo
ela tinha uma caracterstica de instrumento.
Ainda contrariamente a Descartes, que dava nfase ao processo dedu-
tivo - partia de verdades auto-evidentes e inatas e delas deduzia novos co-.
nhecimentos -, os pensadores franceses vo dar nfase observao e
experincia, no sentido de experienciado e experimental. Assim, a observao
e a experincia so os pontos de partida para o conhecimento; o raciocnio,
embora necessrio, no prescinde dos dados empricos.
Locke e Newton j haviam feito crticas a Descartes: o primeiro, ao
opor-se ao inatismo das idias, e o segundo, ao afirmar que as hipteses s
podem ser obtidas a partir dos fatos; em ambos, o mesmo suporte: a obser-
vao e a experincia como origem do conhecimento. O s pensadores fran-
ceses do sculo XVIII, opondo-se a Descartes, tm como seus grandes mes-
tres Locke e Newton.
A influncia desses dois pensadores evidencia-se na forma como se
discute, na Frana desse perodo, o processo do conhecimento. Segundo Cas-
sirer (1950), busca-se explicar o conhecer tal como os demais fenmenos da
natureza eram explicados, ou seja, sem a interposio de qualquer entidade
sobrenatural.
A noo de idias inatas que, para Descartes, estava vinculada atuao
de Deus substituda pela preocupao em descobrir os processos naturais
que esto envolvidos na aquisio do conhecimento pelo homem. O s pensa-
dores franceses desse perodo defendem a postura de que qualquer idia tem
origem em uma impresso anterior, mesmo que nem sempre possamos iden-
tificar qual seja ou quando ocorreu.
Tais idias foram desenvolvidas a partir das de Locke que, segundo
d'Alembert, havia sido o "() criador da filosofia cientfica como Newton
o foi da fsica cientfica" (Cassirer, 1950, p. 119).
Locke, combatendo a noo de idias inatas de Descartes, afirma que
todo conhecimento humano era obtido a partir da experincia. Ele afirmava,
no entanto, que faculdades humanas, tais como a comparao, a volio, o
juzo, etc, so fundamentais da alma. Segundo os filsofos franceses, embora
329
Locke tivesse dado um passo importante ao entendimento dos mecanismos
do conhecimento humano, havia parado no meio do caminho, j que acabou
por pressupor o inatismo das operaes psquicas. A postura de que o homem
se transforma em funo das impresses que vai registrando do mundo, se-
gundo os filsofos franceses, deveria valer tanto para o conhecimento que o
homem vai obtendo sobre o mundo quanto para as operaes psquicas (com-
parao, vontade, sentimentos, etc.) que passam a ser vistas como sensaes
transformadas.
Exemplos dessa posio podem ser encontrados em obras de autores
como Condillac e Voltaire. O primeiro afirma que a alma sente quando se
do mudanas em nosso corpo, sendo os sentidos a causa de todos os sen-
timentos. Busca encontrar os fundamentos das operaes psquicas, utilizando
observaes empricas, muito embora sua obra contenha tambm afirmaes
que, segundo Cassirer (1950), so especulativas. Assim, por meio de um
plano rigoroso e sistemtico, busca demonstrar - passo a passo - como cada
uma das faculdades humanas vai gradativamente se desenvolvendo. Para tal,
apresenta a imagem de uma esttua que, em funo das impresses que vo
sendo nela colocadas, vai pouco a pouco adquirindo vida, chegando a trans-
formar-se num ser humano.
Voltaire afirma que tal a importncia das impresses na formao
das idias do homem que uma possvel transformao na disposio de seus
rgos traria em conseqncia mudanas em seu "ser espiritual", ou seja,
transformar-se-iam com as mudanas corpreas os mundos religioso, moral,
intelectual, esttico, etc.
A base de todo o conhecimento humano, como se pode observar nos
exemplos acima, reside, ento, na experincia que, movendo a razo, pode
conduzir o homem por diferentes caminhos. Diderot sintetiza essa posio
ao enfatizar que o pensamento filosfico-cientfico deveria usar a observao
dos fatos, a reflexo sobre suas possveis combinaes e a verificao, por
meio da experincia, dos resultados da reflexo.
O PAPEL DA ANLISE NA ELABORAO DO CONHECIMENTO
Em relao produo de conhecimento cientfico, o sculo XVIII, na
Frana, toma rumos diferentes daqueles empreendidos no sculo anterior. O
sculo XVII caracterizou-se pela construo de sistemas filosficos baseados
na idia de que s se chegaria ao saber se se chegasse a certezas das quais
novos conhecimentos pudessem ser dedutivamente derivados. J no sculo
XVIII renuncia-se a esse procedimento, com base em Newton que propunha
a anlise em vez da deduo como procedimento para obteno de conheci-
330
mento. Assim a experincia, a observao e o pensamento deveriam buscar
a ordem das coisas nos prprios fatos e no mais nos conceitos. A anlise
possibilitaria a identificao daquilo que comum e permanente entre os
particulares, conduzindo a princpios gerais. Cabe razo, partindo de fatos
- recolhidos pela observao - relacion-los identificando sua dependncia.
por meio da anlise que Condillac mostra que as atividades corpreas
e psquicas possuem um denominador comum: as impresses. Ao explicar a
origem do conhecimento, coloca a sensao como fonte: no h mais Deus
mediando a relao entre o sujeito que conhece e o objeto do conhecimento.
A relao se d diretamente entre homem e mundo por meio da sensao,
da qual derivam todas as operaes intelectuais. O mtodo por intermdio
do qual se chega ao conhecimento o da anlise:
Consiste, partindo de um todo confuso, em perceber sucessiva e separadamente
os detalhes, de comeo os pontos mais importantes que ressaltam deles mes-
mos, a seguir as partes intermedirias, para chegar, finalmente, a uma percepo
simultnea e distinta. (...) um movimento de decomposio e de recomposi-
o. (Brhier, 1977a, p. 78)
As teorias acerca do Estado e da sociedade, como a de Montesquieu,
por exemplo, tendem a v-los como compostos por partes que se influenciam
mutuamente e que precisam ser identificadas. Montesquieu constri modelos
polticos a partir de seus elementos constitutivos. Segundo esse autor, pos-
svel identificar "(...) a lei (no sentido newtoniano) que governa o regime de
um povo, o 'esprito geral' de uma nao" (Desn, 1982, p. 95), a partir da
considerao de diferentes elementos fsicos (clima, solo, territrio) e sociais
(tradio, moeda, religio, leis).
AS REGULARIDADES DOS FENMENOS
NATURAIS FSICOS E SOCIAIS
A afirmao do potencial da razo humana no entendimento do mundo
relaciona-se idia de que todas as explicaes sobre a natureza que envol-
vem o sobrenatural devem ser abolidas, j que esta pode ser racionalmente
entendida e explicada.
A possibilidade de se chegar a leis sobre a natureza, assim como a
possibilidade humana de nela atuar, apoia-se no pressuposto de que h regu-
laridades e uniformidades nos fenmenos - quer fsicos, quer sociais - , j
que passam todos a ser considerados fenmenos naturais. Tais regularidades
se expressam em leis, e o conhecimento dessas leis se dar pela observao
dos fenmenos naturais, seguindo seu curso e registrando-o mediante expe-
rimentos, medida, observao e clculo.
331
A idia de que a natureza se comporta segundo seu prprio curso ex-
pressou-se, segundo Cassirer (1950), por meio de posturas materialistas me-
canicistas - como as de La Mettrie e d'Holbach - e por meio de posturas
que se opem a esse materialismo mecanicista, como a de d'Alembert. Este
ltimo, opondo-se a ambos, defende no ser necessrio buscar a essncia
ltima das coisas, mas buscar conexes e relaes entre os fenmenos, se-
gundo ele o possvel de se conhecer.
La Mettrie e d'Holbach consideravam a matria como essncia ltima
das coisas e afirmavam que todos os fenmenos, inclusive o pensamento,
so resultado de processos materiais. Segundo La Mettrie, lista de proprie-
dades da matria na qual j se inclua a extenso como fundamental, deveriam
ser acrescentadas as capacidades de sentir, recordar, pensar; o movimento da
matria poderia, ento, explicar no s nossas sensaes como nossa vontade,
nossos desejos, etc. Segundo d'Holbach, uma certa disposio dos tomos
forma o homem e o que o impulsiona o movimento desses tomos; o
destino humano encontra-se, portanto, dirigido por condies naturais que
independem da vontade ou dos desejos humanos.
A defesa de que existem regularidades que se expressam em leis pode
ser identificada em relao aos fenmenos sociais, nas posturas de Montes-
quieu, Voltaire e Diderot, que afirmam buscar em relao moral e ao direito
a ordem e a regularidade encontradas no mundo fsico, em apoio idia de
que todo o universo regido por leis e princpios ltimos que podem ser
descobertos.
Montesquieu, de acordo com Cassirer (1950), "Coloca-se como jurista,
a mesma questo que Newton se colocou como fsico; no se d por satisfeito
com leis do cosmos poltico empiricamente conhecidas, mas pretende reduzir
a multiplicidade destas leis a uns princpios determinados" (p. 269). Mon-
tesquieu tem como objeto de estudo a sociedade e para analis-la aplica a
noo de "lei geral", j que entende que
As leis, no seu sentido mais amplo, so relaes necessrias que derivam da
natureza das coisas e, nesse sentido, todos os seres tm suas leis; a divindade
possui suas leis; o mundo material possui suas leis; as inteligncias superiores
ao homem possuem suas leis; os animais possuem suas leis; o liomem possui
suas leis. (Do esprito das leis, Primeira parte, Livro primeiro, cap. I, p. 33)
Sendo as leis "relaes necessrias que derivam da natureza das coisas"
deve-se partir dos prprios fatos, de sua descrio e comparao, para se
chegar aos princpios mais gerais da organizao social.
Voltaire defende que existe um princpio universal da moral que os
homens podem descobrir por trs das diferenas de costumes e de opinies.
332
A afirmao de Voltaire, citada na obra de Cassirer (1950), deixa clara a
crena do pensador francs em leis que so universais para todos os homens:
Ainda que o que em um pais se denomine virtude se chame vcio em outro,
ainda que a maioria das regras sobre o bem e o mal sejam to diferentes
como os idiomas que se falam e os vestidos que se usam, me parece, sem
dvida, que existem leis naturais com respeito s quais os homens de todas
as partes do globo devem estar de acordo. (...) Assim como [Deus] dotou as
abelhas de um instinto poderoso em funo do qual podem traballiar em co-
mum e alimentar-se, dotou os homens de determinados sentimentos dos quais
nunca podero despojar-se e que so os vnculos eternos e as primeiras leis
da sociedade humana, (pp. 271-272)
Diderot tambm demonstra f na natureza moral e invarivel do ho-
mem; para ele as condutas humanas tm como base os instintos - a unifor-
midade de suas inclinaes, impulsos e necessidades sensveis - que so de
natureza fsica. Conceitos como os de liberdade e vontade, como algo intrn-
seco ao homem, no passam agora de meios de mascarar os fatos: o justo e
o injusto so por ele concebidos como relativos e determinados por neces-
sidades, por nossa vida. Defende que a conduta humana seja dirigida por
suas bases biolgicas e que a religio e as leis no limitem necessidades que
so naturais, pois obedecendo-se apenas natureza humana ser possvel
atingir a felicidade do homem e da sociedade.
O ANTIDO GMATISMO E A IDIA DE PRO GRESSO HUMANO
Como conseqncia do racionalismo empirista, as idias desse perodo
so caracterizadas pelo antidogmatismo; os pensadores contrapem-se s
idias preconcebidas, s idias baseadas na autoridade e combatem todas as
crenas, principalmente as da religio, pois, para eles, a superstio, o pre-
conceito e a ignorncia impediam o funcionamento natural da razo.
As explicaes sobrenaturais so, conseqentemente, eliminadas tanto
em relao aos fenmenos fsicos quanto em relao aos fenmenos sociais,
psicolgicos, etc.
O anteriormente citado combate s idias inatas guarda relao com a
postura antidogmtica, que passa a ser assumida pelos pensadores franceses
desse perodo; se para Descartes Deus era o fundamento ltimo das idias
inatas, para os pensadores franceses a mediao de Deus no processo de
conhecimento desnecessria.
O antidogmatismo expressa-se de vrias formas no que diz respeito
concepo de natureza: por meio da idia de que todo conhecimento sobre
o mundo deve ser construdo por intermdio do uso da observao, da ex-
333
perimentao e da razo, o que vai contra a idia de aceitar como verdadeira
uma proposio em funo de ser baseada numa autoridade; por meio da
idia de que os princpios explicativos apesar de universais no so absolutos,
mas o "ltimo" degrau alcanado pelo pensamento; por meio do combate a
toda e qualquer perspectiva religiosa na explicao do mundo, j que reli-
gio estavam associadas as idias de verdades eternas, sobrenaturais, indis-
cutveis, que prescindiam de provas concretas.
Nesse perodo, os estudos geolgicos desenvolvidos desvincularam-se
da noo de tempo apresentada na Bblia. Buffon representa esse empenho
elaborando uma histria do mundo baseada em observaes que nada tm a
ver com a perspectiva religiosa da formao do universo. Quanto espcie
humana, embora no a considere igual s demais espcies, as razes para
diferenci-la nada tm a ver com a idia de alma ou de homem criado "
imagem e semelhana de Deus". Ao contrrio, as diferenas apontadas por
Buffon fundam-se em razes que derivam da observao das atividades hu-
manas: falar, inventar, adaptar-se a diferentes situaes, etc.
Segundo Diderot, a integrao da matria explicaria tudo, inclusive a
evoluo biolgica. No que diz respeito a essas transformaes, Diderot chega
a mencionar um processo de seleo em que a natureza tende a suprimir
aquilo que no satisfaz as exigncias da vida. V-se, pois, que nenhuma
entidade sobrenatural desempenha qualquer papel na criao e desenvolvi-
mento do mundo: a natureza atuou e atua por si mesma.
Embora no se tenha uma concepo evolucionista das espcies, so
veiculadas, nesse perodo, noes relacionadas idia de seleo natural,
como j se viu em Diderot. La Mettrie diz que as ms formaes so elimi-
nadas e Maupertuis defende que nem todas as combinaes da matria per-
manecem, j que, conforme salientado por Desn (1982),
(...) os elementos da matria tendem a se organizar em formas vivas que s
se realizam, de maneira durvel, em seguida a numerosos tateamentos e fra-
cassos: subsistiram somente as combinaes felizes que do a iluso, para ns
atualmente, de uma finalidade, (p. 85)
Deus excludo, tambm, do destino do homem; as aes humanas
deixam de ser explicadas em funo de uma finalidade divina; o homem
passa a ser dono do seu destino e, como tal, criador da prpria sociedade.
Voltaire cr que o mundo foi deixado merc de sua prpria sorte; o
bem e o mal so realidades sociais e no, respectivamente, a iluminao de
Deus e o afastamento d'Ele pela alma pecadora; Montesquieu v as institui-
es como frutos do prprio homem, excluindo a perspectiva religiosa na
anlise da sociedade.
334
Alm de criticar o recurso s Escrituras ou a Deus nas explicaes
dos fenmenos, os pensadores do sculo XVIII questionam noes como
a alma e a crena em Deus, base da religio crist. A noo de alma
atacada por La Mettrie, para o qual "(...) no mais que uma palavra
vazia" (Cassirer, p. 86); d'Holbach, considerando que a teologia um
obstculo para a cincia, defende ser necessrio deixar de lado as idias
de Deus e imortalidade.
A excluso de Deus ou de elementos sobrenaturais como explicao
dos fenmenos - fsicos, sociais ou psicolgicos - no significa, necessaria-
mente, negar a existncia de Deus, como fazem La Mettrie, d'Holbach e
Helvtius; ao contrrio, alguns pensadores, como Voltaire e Rousseau, admi-
tem-na. Voltaire, por exemplo, afirma a existncia de um ser criador de todas
as coisas, responsvel pela ordem existente na natureza; nenhuma outra in-
terferncia teria exercido Deus sobre o mundo aps a sua criao. Alm da
idia de criao do mundo por Deus, Voltaire nada mais aceita do que afirma
a tradio judaico-crist.
Para os pensadores franceses, ateus ou no-ateus, o fato que Deus
deixa de ser o mediador entre o homem e o mundo, cabendo ao homem a
responsabilidade por aquilo que faz: Deus, quando admitido, o apenas en-
quanto iniciador e mantenedor do funcionamento da mquina newtoniana do
mundo, sem nele interferir.
O "Deus todo-poderoso" passa a ser substitudo pelo "homem todo-
poderoso": a crena no poder do homem intensa, e isso se d em funo
da crena no poder da razo, seja como instrumento de produo de conhe-
cimento, seja como guia das aes humanas. Inter-relacionada crena no
poder da razo est a idia de progresso, uma vez que se concebe a prpria
razo como agente do progresso humano; o progresso ocorre na medida em
que existe a aplicao crescente da razo no controle do ambiente fsico e
cultural.
Nesse perodo, comea-se a defender a idia de que a superao da
ignorncia leva ao progresso, de que a sociedade do presente melhor
que a do passado; a idia de que o acmulo do conhecimento obtido
levar, por sua prpria direo interna, obteno de uma sociedade cada
vez melhor.
Voltaire exemplifica essa crena, ao defender ser possvel ao homem
dotado de conhecimento libertar-se de preconceitos e modificar sua forma de
viver e de pensar. Segundo Brhier (1977a), as obras de Voltaire constituem-
se em "(...) campanhas contra os preconceitos e propaganda em favor do
esprito novo" (p. 140).
335
ROUSSEAU: UMA CRITICA A NOO DE PROGRESSO
A idia de progresso, como foi visto, est estritamente relacionada
crena no poder do conhecimento racionalmente obtido: quanto mais culta a
sociedade, melhor ela se torna; quanto mais culto o homem, melhor ele ser.
Assim, os pensadores franceses desse perodo acabam por vincular a prpria
moralidade ao saber.
Nesse coro de vozes - que vincula a moralidade cultura e que defende
o progresso como inerente ao desenvolvimento do conhecimento cientfico,
artstico, etc. - destoa Rousseau. Rousseau o nico a colocar em xeque o
elo de necessidade entre acmulo do conhecimento racionalmente obtido e
progresso da sociedade; o nico a dissolver o vnculo at ento inquestio-
nvel. "A unidade entre conscincia moral e conscincia culta em geral, que
at ento havia sido suposta de forma crdula e ingnua, [Rousseau] a coloca
como problemtica e questionvel ao extremo" (Cassirer, 1950, p. 298).
Ao analisar a sociedade de sua poca, Rousseau procura demonstrar
que, a despeito de todo o progresso das cincias e das conquistas alcanadas,
ela no apresentou uma melhoria em termos do prprio homem
2
; ao contrrio,
contribuiu para a decadncia em nvel dos costumes, valores e prticas: a
origem de suas misrias fruto do pretenso aperfeioamento humano.
Embora os costumes, valores e prticas possam ter se sofisticado e at
aprimorado, no se tornaram moralmente e espiritualmente melhores; em vez
de impulsos morais verdadeiros, desenvolveram-se o poder, a ambio, a
misria. Para Rousseau, a prpria sociedade a responsvel pela desigual-
dade, injustia e arbitrariedade existentes.
Desvinculando a tica do saber, Rousseau resgata o papel da vontade
no estabelecimento de um verdadeiro estado social, isto , um estado social no
qual reinem a igualdade e a justia.
Para Rousseau, essa vontade transcende a bondade individual, j que
o verdadeiro estado social se apoia na vontade geral. mediante um contrato
social que existe a submisso voluntria das diferentes vontades individuais
vontade geral, a qual soberana e por meio da qual os indivduos podem
se realizar em sua plenitude. A submisso voluntria d aos indivduos um
carter de sujeitos de vontade: eles atuam em funo daquilo que devem;
eles querem se submeter como um dever.
Conforme afirma Rousseau, "Quando os cidados se submetem s con-
dies que eles mesmos acordaram, ao aceitarem por deciso livre e racio-
2 Rousseau recorre anlise do homem, em seu estado natural, e mostra que, nesse
estado, o homem ignora o bem e o mal, no tem vcios nem virtudes, j que, estando
integrado natureza, atua exclusivamente em funo de sua permanncia e de sua espcie.
336
nal, no obedecem a ningum mais que sua prpria vontade" (em Cassirer,
1950, p. 289).
Ao resgatar a vontade, resgata um imperativo tico que deve estar unido
ao saber; ao mostrar que no existe o vnculo de necessidade entre razo e
moral, Rousseau mostra que h limites para a razo e que o saber no deve
ter um primado absoluto; ao estabelecer esses limites, acaba por reafirmar o
prprio racionalismo na medida em que identifica sua verdadeira importncia.
De acordo com Cassirer (1950), Rousseau substituiu um racionalismo
puramente terico, por um racionalismo tico:
Porque Rousseau um autntico filho do Iluminismo quando o combate e o
supera. Seu evangelho do sentimento no significa uma ruptura, porque no
atuam fatores puramente emotivos, mas atuam convices autenticamente in-
telectuais e morais. Com a sentimentalidade de Rousseau no se abre brecha
para um mero sentimentalismo, mas para uma fora e vontade ticas novas,
(p. 302)
INOVAES E LIMITES DO PENSAMENTO FRANCS
Com o que at aqui se discutiu, fica patente que o sculo XVIII, na
Frana, constituiu-se num perodo de questionamentos que colocavam em
xeque no s a prtica social (econmica, jurdica, religiosa, etc.) como tam-
bm as concepes das quais essa prtica derivava. Tais questionamentos
acarretaram a proposio de novos conceitos e pressupostos que, por sua vez,
acabaram por gerar novas propostas em todos os nveis da prtica social e
do conhecimento humano.
Vrios exemplos da revoluo na forma de pensar o homem, o mundo
e o conhecimento, nesse perodo, podem ser pinados como meio de ilustrar
como os mais diferentes assuntos, alm dos j mencionados, foram objeto
de anlise e crtica dos pensadores franceses desse sculo.
Por exemplo, toma forma a noo de natureza humana a qual supe
a existncia de caractersticas que so comuns a todos os homens. Essa noo
se relaciona de que os homens tm direitos que so prprios de todo ser
humano; nesse sentido, ope-se noo de que existem direitos que so
exclusivos de um dado grupo social, como era o caso da educao, proprie-
dade..., que se restringiam praticamente ao clero e nobreza. Por outro lado,
a despeito do coletivo implcito na noo de natureza humana, enfatiza-se o
individual, por meio da idia do indivduo como responsvel pela direo de
sua prpria vida e da sociedade. Isso fica claro, quando Voltaire advoga que,
para mudar a sociedade, preciso mudar o indivduo, o que seria feito me-
diante uma educao crtica.
337
O interesse dos pensadores franceses do sculo XVIII recai tambm
sobre muitas outras reas do conhecimento humano, o que se pode notar em
artigos presentes na Enciclopdia, nos quais se revelam as novas formas de
abordar essas reas e seus objetos de estudo. O s artigos sobre teoria da tica,
por exemplo, partem da idia de homem como ser de natureza socivel e
que, portanto, seguia uma tica social "natural". As bases dessa teoria deixam
de ser, portanto, o desejo de Deus para transformar-se em algo fundado na
prpria natureza humana.
Data dessa poca, tambm, o desenvolvimento do estudo de povos pri-
mitivos orientado pela preocupao de desvendar a origem da sociedade hu-
mana. Desenvolve-se, tambm, a teoria lingstica baseada na idia de que
o conhecimento depende do uso correto da linguagem. Revela-se um interesse
cientfico na natureza da linguagem que se expressa na presena de artigos
na Enciclopdia que versavam sobre gramtica e sinnimos.
A noo de homem enquanto um ser socivel ressaltada na poca, o
que acarreta mudanas na forma de conceber a histria humana, assim como
transformaes na forma de estud-la. Por exemplo, para Buffon, a histria
do homem a histria da sociedade; para d'Holbach, a felicidade do indiv-
duo vincula-se da sociedade na qual est inserido. Helvtius d nfase s
relaes dos indivduos com o meio social; o indivduo formado e essa
formao depende mais da educao que da natureza e fisiologia humanas.
O estudo histrico das sociedades foi empreendido por Voltaire, a partir da
busca de dados acerca dos costumes e das condies econmico-socais, em
vez do destaque de fatos particulares. Essa modificao reflete uma mudana
na prpria concepo de histria; segundo Desn (1982),
Duas concepes antigas da histria vo desmoronar-se aqui: a histria genea-
lgica (uma famlia, por mais prestigiosa que seja, no um povo) e a histria
militar. (...) A concepo moderna da histria aquela de uma histria que
abarca o conjunto das atividades humanas (...). (pp. 93-94)
O utros pensadores, preocupados com questes metodolgicas e com a
aplicao do modelo de investigao das cincias naturais a outras cincias,
chegam, nesse perodo, a problematizar a aplicabilidade direta desse modelo
s cincias que lidavam com a vida e com o homem. Esse questionamento
surge em funo do fato de que durante esse sculo, na Franca, o modelo
das cincias naturais - que tem fundamentalmente Newton como mestre -
vai estender-se a outros campos do conhecimento, uma vez que todos os
fenmenos passaram a ser vistos como naturais, quer os da fsica, qumica,
biologia, quer os sociais, psicolgicos, artsticos.
Segundo Cassirer (1950), coloca-se, nesse perodo, o problema de des-
cobrir se o modelo de investigao dos fenmenos fsicos pode ser aplicado
338
na ntegra para a investigao de todo e qualquer outro tipo de fenmeno.
Questiona-se o papel da matemtica, da lgica e da descrio na explicao
do mundo, discutindo-se as peculiaridades das diferentes reas de conheci-
mento. o que vemos presente nas idias de Diderot, quando este afirma
que a metodologia e a sistematizao necessrias a qualquer investigao
devem, no entanto, adequar-se aos diferentes objetos de estudo.
Buffon, um estudioso da biologia, afirmava que o conhecimento bio-
lgico tinha uma estrutura peculiar. Em funo dessa estrutura, no pode ser
dirigido exclusivamente pelas leis da matemtica, mas deve fundamentalmen-
te buscar seguir o curso histrico dos fenmenos. Assim, nas cincias bio-
lgicas, deve-se adotar o procedimento de busca "arqueolgica" em substi-
tuio ao mtodo de conceitos lgico-matemticos que tenderia, na biologia,
a produzir exclusivamente uma classificao dos indivduos em gneros e
espcies. H de se substituir a definio pela descrio, o gnero pelo indi-
vduo, substituio que resultaria na compreenso das transformaes ocor-
ridas no tempo; da a nfase na descrio e na investigao histrica.
Segundo Cassirer (1950), o ideal de um conhecimento natural mate-
mtico, importante no avano da fsica do sculo XVIII, vai sendo substitudo
por um ideal de um conhecimento natural puramente descritivo. Assim, em-
bora na matemtica descrio e mensurao coincidam, em cincias como a
biologia, por exemplo, a descrio ganha um novo sentido.
As propostas inovadoras nas vrias reas de conhecimento, as novas
idias e valores, as crticas s idias vigentes no passaram, obviamente,
despercebidas diante das estruturas do regime que visavam a combater. Assim
sendo, pode-se imaginar a resistncia oposta s novas idias e a seus repre-
sentantes pelos poderes estabelecidos. No de estranhar, portanto, que os
pensadores tivessem sofrido sanes: Voltaire precisou deixar Paris em fun-
o de sua obra Cartas filosficas; Diderot foi encarcerado por seis meses,
em funo de haver escrito duas obras, tambm condenadas; a Enciclopdia
foi proibida, Rousseau precisou fugir e La Mettrie foi exilado.
A despeito de inovadoras para a poca, impossvel desvincular as
propostas defendidas pelos pensadores desse perodo dos interesses de classe
que privilegiavam. Assim, se, por um lado, combatiam a Igreja e o regime
feudal, por outro, defendiam idias que valorizavam ou visavam a colocar
no poder camadas sociais s quais pertenciam, em geral, tais pensadores: a
burguesia ou mesmo a nobreza. Exemplos de como o contexto econmico,
poltico e social determinou idias e defesa de certos interesses podem ser
encontrados nas obras de praticamente todos os autores do perodo, dentre
os quais foram selecionados Montesquieu, Voltaire e Rousseau.
Nobre de nascimento, Montesquieu lutou contra o absolutismo e a Igre-
ja, mas mostrava-se favorvel monarquia moderada. Lembrado como o
339
autor da teoria dos trs poderes, inspirou-se no regime ingls, propondo a
separao dos poderes Legislativo, Executivo e Judicirio. Em sua teoria pre-
v, no entanto, excees a essa diviso de poderes: o monarca podia vetar
decises do legislativo e os nobres, quando infringissem as leis, no passa-
riam por julgamento comum a qualquer cidado, mas seriam julgados por
membros da prpria nobreza. Ao admitir que os nobres no passassem pelas
instncias normais de julgamento e estabelecendo, no legislativo, uma cmara
alta composta por nobres, Montesquieu deixa claro responder aos interesses
da nobreza.
Voltaire, embora defendesse que todos os homens podiam se libertar
de preconceitos e mudar sua forma de vida a partir de conhecimentos, espe-
rava que a mudana no regime vigente se desse no por movimentos popu-
lares, mas por meio de um monarca ilustrado (filsofo). Segundo Efimov e
outros (1981), temia a revoluo e defendia interesses de um grupo da no-
breza avanada e da burguesia.
Segundo os mesmos autores, Rousseau exprimia anseios da pequena
burguesia (pequenos proprietrios), propondo o aniquilamento da propriedade
senhorial, mas defendendo a manuteno da propriedade privada, acreditando
ser possvel mant-la ao mnimo. Alm disso, a separao entre as propostas
tericas por ele formuladas e sua prtica fica evidente, se compararmos as
idias veiculadas no Contrato social ou no Discurso sobre a desigualdade
com outros textos, em que se prope a resolver problemas prticos. Segundo
Fortes (1976), no plano terico vigora a idia de soberania da vontade geral,
enquanto no texto Consideraes sobre o governo da Polnia "() Rousseau
patrocina a causa de um conservadorismo aristocrtico pouco compatvel com
o igualitarismo republicano que advogava no plano da teoria" (p. 26). Soli-
citado pela nobreza polonesa para orientar a reorganizao poltica do pas,
no chega a ser nem um reformador, j que mantm intactas as estruturas
de poder e as leis. Mantm o senado, o rei e a dieta (cmara de repre-
sentantes), aquele que afirma que o povo deveria ser soberano, e contraria o
princpio de que toda lei deve ser ratificada pelo povo, ao atribuir s decises
das dietas carter definitivo.
Tais limites podem ser entendidos, se nos reportarmos ao contexto em
que viveram os pensadores franceses do sculo XVIII: um contexto de luta
da burguesia para ascender ao poder e da nobreza feudal para manter seus
privilgios. Conforme Marx e Engels (1980):
A produo de idias, de representaes e da conscincia est em primeiro
lugar direta e intimamente ligada atividade material e ao comrcio material
dos homens. (...) No a conscincia que determina a vida, mas a vida que
determina a conscincia, (pp. 25-26)
340
CAPITULO 19
AS PO SSIBILIDADES DA RAZO :
IMMANUEL KANT (1724-1804)
em todos os seus empreendimentos que cumpre razo
submeter-se crtica, cuja liberdade ela no pode lesar com
nenhuma interdio, sem se prejudicar a si prpria e sem
atrair para si suspeitas prejudiciais. No h nada to vanta-
joso, no h nada to sagrado, que se possa furtar a essa
inquisio decisiva, que no faz nenhuma considerao de
pessoas. Sobre essa liberdade a prpria existncia da razo
chega a se fundar.
Kant
Kant nasceu na cidade de Knigsberg, na Prssia, em 1724, e morreu
em 1804. Tinha dez irmos e sua famlia era pobre, profundamente religiosa,
sendo-lhe ministrada uma slida educao moral.
Kant estudou no Colgio Fridericianum, de orientao pietista, e, a
partir de 1740, na Universidade de Knigsberg, publicando seu primeiro es-
tudo em 1747. Aps essa data, com a morte do pai, teve de prover seu
sustento trabalhando como preceptor de famlias nobres at 1755. Durante
esse perodo, realizou estudos que lhe permitiram a publicao de algumas
obras e que lhe garantiram o diploma de concluso do curso de Filosofia e
o direito de exercer a docncia. Entretanto, aps 1770 que publica escritos
que lhe parecem definitivos e bem estabelecidos. Nesses escritos, Kant retoma
seus trabalhos anteriores, refutando algumas de suas antigas proposies. Des-
sa poca fazem parte as principais obras: Crtica da razo pura (1781) e
Prolegmenos a toda metafsica futura que possa apresentar-se como cincia
(1783), obras sobre a teoria do conhecimento: Fundamentao da metafsica
dos costumes (1785) e Crtica da razo prtica (1788), obras sobre a moral:
Crtica do juzo (1790), obra na qual aborda os juzos teleolgicos e a esttica.
Kant era um homem extremamente metdico, tanto em sua vida parti-
cular quanto em seus estudos. apontado por vrios estudiosos de seu sis-
tema como um dos pensadores mais rigorosos e ntegros da filosofia moderna.
Kant viveu numa poca em que o pensamento moderno tinha como
elementos fundamentais o homem, a liberdade e o individualismo, viso de
mundo que se desenvolveu vinculada burguesia. Esse pensamento burgus
se expressou de formas especficas, em diferentes pases - o empirismo e o
sensualismo, na Inglaterra, e o racionalismo, na Frana e Alemanha - em
funo das condies econmicas, sociais e polticas de cada um deles.
As condies econmicas e sociais e a participao da burguesia no
poder poltico j no sculo XVII, que favoreceram a ocorrncia da Revoluo
Industrial na Inglaterra antes de outros pases, justificam, tambm, ter a se
desenvolvido o empirismo e o sensualismo. Tal pensamento se expressa em
Hobbes, Locke, Newton, Berkeley e Hume, que tomam como elemento fun-
damental na elaborao do conhecimento a sensao, o emprico. Era possvel
tomar as condies observadas como elemento fundamental, dado que o pro-
jeto da burguesia j estava se realizando efetivamente naquele pas, poden-
do-se supor que as explicaes seriam estabelecidas pela associao dos fatos
observados, pelo hbito, etc.
As condies que garantiram a predominncia econmica e poltica da
burguesia inglesa bastante cedo no ocorreram na Alemanha. Esta se encon-
trava, at meados do sculo XIX, fragmentada em reinados e principados
independentes, com instituies predominantemente feudais, o que impedia
a unificao de mercados e da produo. Suas condies econmicas e sociais
eram bastante atrasadas e estagnadas, com uma pequena burguesia mercantil
e industrial. Nessas condies, segundo Goldman (1967), em que o estabe-
lecimento do poder burgus era problemtico, ainda que projetado pelos fi-
lsofos alemes como reflexo das influncias do pensamento ingls e francs,
a razo era enfatizada como a forma de alcanar o desenvolvimento neces-
srio; a razo projetaria o ideal daquilo que deve ser, dirigindo para a vontade,
para a ao moral as preocupaes centrais de seus pensadores. Para tanto,
supunham que leis a priori do pensamento e da ao garantiriam o acordo
entre os indivduos para a consecuo de tal projeto, dado que as condies
reais empricas, efetivamente, limitavam sua realizao.
O sistema filosfico de Kant pertence tradio racionalista da bur-
guesia alem, que enfatizava a liberdade e o individualismo (valores do pen-
samento burgus) e enfatizava a possibilidade de existirem condies a priori
do pensamento humano e da ao moral (valores da filosofia alem), uma
tradio cujos limites a obra de Kant comea a indicar.
O s nacionalistas consideravam que tudo o que decorresse do sensvel
era uma noo confusa. Supunham que a razo pudesse construir sistemas
a partir de noes a priori, baseada em processos especulativos. Pelo fato
de partirem de noes a priori consideravam possvel atingir verdades ne-
342
cessrias e absolutas. Como afirma Pascal (1985), "Era, com efeito, pela
anlise das noes a priori do esprito, ou das idias inatas, que o raciona-
lismo de Descartes, de Leibniz e de Wolff pretendia atingir verdades absolutas
e constituir uma metafsica" (p. 30).
Kant critica os racionalistas por elaborarem explicaes e mximas mo-
rais a partir de condies a priori, sem examinar os limites desses usos da
razo. Ele critica o que chama de "dogmatismo" dos racionalistas alemes,
ou seja, a
(...) pretenso de progredir apenas com um conhecimento puro a partir de
conceitos (o filosfico) segundo princpios h tempo usados pela razo, sem
se indagar contudo de que modo e com que direito chegou a eles. Dogmatismo
, portanto, o procedimento dogmtico da razo pura sem uma crtica prece-
dente da sua prpria capacidade. {Crtica da razo pura, XXXV)
Kant prope a crtica das capacidades da razo sob a influncia de
Hume (1711-1776), empirista ingls, que nega a possibilidade da razo pensar
a partir de conceitos a prior? a conexo de causa e efeito, pois se assim
fosse tais ligaes deveriam ocorrer necessariamente. Segundo Hume, a co-
nexo entre causa e efeito surge a partir do emprico
2
, da repetio da expe-
rincia, que cria no sujeito a noo de causa atravs do hbito. Tal suposio
leva Hume a desprezar qualquer metafsica, pois nega a pretenso de verdade
para qualquer proposio que no seja resultado da experincia.
1 O s conhecimentos a priori so juzos que se caracterizam por serem necessrios e
universais, que independem de toda a impresso dos sentidos. "(...) Na verdade, a expe-
rincia nos ensina que algo constitudo deste ou daquele modo, mas no que no possa
ser diferente." O juzo a priori, sendo necessrio, deve ser absoluto, ou seja, no pode
deixar de ser tal como , de tal modo que seu contrrio impossvel. "(...) a experincia
jamais d aos seus juzos universalidade verdadeira ou rigorosa, mas somente suposta e
comparativa (por induo), de maneira que temos propriamente que dizer: tanto quanto
percebemos at agora, no se encontra nenhuma exceo desta ou daquela regra " (Crtica
da razo pura, 3, 4). O s juzos a priori so universais, isto , vlidos para todos os casos,
no permitindo nenhuma exceo como possvel. Assim os juzos "tudo o que acontece
tem uma causa" e "a linha reta a mais curta entre dois pontos" so a priori, pois
necessrios e universais.
2 O s conhecimentos empricos, que possuem suas fontes na experincia, so juzos que
se caracterizam por serem particulares e contingentes, uma vez que enunciam que algo
pode ser ou no de determinado modo. Assim "a linha reta branca" um juzo particular
e contingente, pois nem todas as linhas retas so brancas e as que o so no o so neces-
sariamente. O s juzos da experincia so todos sintticos, pois acrescentam sempre algum
atributo ao conceito do sujeito. No juzo "um dia chuvoso um dia frio", o predicado
"dia frio" no est contido no sujeito "chuvoso", mas amplia-o, sendo assim um juzo
sinttico.
343
Kant considera fundamental o questionamento proposto por Hume so-
bre a possibilidade do conceito de causa no depender da experincia, mas
considera incorreta a posio de Hume no que diz respeito impossibilidade
de existir a metafsica, pois acredita que o homem no pode ser indiferente
a esses problemas, nos quais a experincia est inteiramente ausente e a razo
inevitavelmente age fora dos limites da experincia, concebendo realidades
transcendentais como a existncia de Deus, a imortalidade da alma e a liber-
dade do homem no mundo.
Apesar de aceitar a possibilidade da metafsica, Kant incorpora a ques-
to de Hume sobre a possibilidade do conceito de causa ser
(...) concebido a priori pela razo, tendo desta maneira uma verdade interior
independente de toda a experincia e, por conseguinte, uma utilidade mais
ampla no limitada simplesmente aos objetos da experincia (...). (Proleg-
menos, p. 9)
Kant prope que o conceito de causa no decorre da experincia, mas
uma capacidade que o homem possui a priori. O conceito de causa (entre
outros conceitos) seria uma forma de pensamento que o homem possui a priori,
cujo uso correto s se d, entretanto, no interior da experincia. Dessa forma,
ope-se tambm a Descartes, Leibnitz, Wolff, Berkeley e a seus primeiros
escritos, que colocavam a causa dos fenmenos numa inteligncia divina;
assim, o homem, e no um ser superior, que se torna o princpio da expli-
cao.
Kant transfere a preocupao com o mundo como objeto da cincia,
para o homem enquanto capaz de fazer a cincia do mundo. Ao explicar a
capacidade de entender humana, Kant associa homem e mundo na explicao
cientfica - no processo de conhecimento as condies humanas a priori se
vinculam experincia, o que impede que o sujeito que conhece se anule
frente ao objeto. Para Kant, na produo de conhecimento necessria a
existncia do objeto que desencadeia a ao do nosso pensamento e ao qual
todo o conhecimento deve se referir; fundamental, ainda, a participao de
um sujeito ativo que pense, conecte o que captado pelas impresses sen-
sveis, fornecendo, para isso, algo de sua prpria capacidade de conhecer.
A razo, portanto, no estaria subordinada experincia, mas determi-
naria, segundo suas exigncias, o que deveria ser observado; a razo projetaria
a partir de conceitos a priori o que buscar na natureza, objetivando descobrir
leis da prpria natureza. Tal associao, da razo com a experincia como
forma de produzir conhecimento, Kant considera uma revoluo na maneira
de pensar que j havia sido empreendida pela Matemtica e pela cincia da
natureza, dois conhecimentos tericos, ou especulativos, da razo. E assim,
344
na Crtica da razo pura, refere-se a essa revoluo empreendida pelos pes-
quisadores da natureza:
Quando Galileu deixou suas esferas rolar sobre a superfcie oblqua com um
peso por ele mesmo escolhido, ou quando Torricelli deixou o ar carregar um
peso de antemo pensado como igual ao de uma coluna de gua conhecida
por ele, ou quando ainda mais tarde Stahl transformou metais em cal e esta
de novo em metal retirando-lhes ou restituindo-lhes algo: isto foi uma reve-
lao para todos os pesquisadores da natureza. Deram-se conta de que a
razo s compreende o que ela mesma produz segundo o seu projeto, que ela
teria que ir frente com princpios dos seus juzos segundo leis constantes e
obrigar a natureza a responder s suas perguntas, mas sem se deixar conduzir
por ela como se estivesse presa a um lao; do contrrio, observaes feitas
ao acaso, sem um plano previamente projetado, no se interconectariam numa
lei necessria, coisa que a razo todavia procura e necessita. A razo tem
que ir natureza, tendo numa das mos os princpios unicamente segundo os
quais fenmenos concordantes entre si podem valer como leis, e na outra o
experimento que ela imaginou segundo seus princpios, claro que para ser
instruda pela natureza, no porm na qualidade de um aluno que se deixa
ditar tudo o que o professor quer, mas sim na de um juiz nomeado que obriga
as testemunhas a responder s perguntas que lhes prope. E assim at mesmo
a Fsica deve a to vantajosa revoluo na sua maneira de pensar apenas
idia de procurar na natureza (no lhe imputar), segundo o que a prpria
razo coloca nela, aquilo que precisa aprender da mesura e sobre o que nada
poderia saber por si prpria. Atravs disso, a Cincia da Natureza foi, pela
primeira vez, posta no caminho seguro de uma cincia, j que por muitos
sculos nada mais liavia sido que um simples tatear. (XIII e XIV)
A Metafsica, a partir do uso que os racionalistas dogmticos faziam
da razo, no chegava a certeza ou unanimidade sobre suas concluses e nem
possua argumentos slidos em que se basear. A partir da concluso de que
o grau de certeza dos conhecimentos da matemtica e da fsica decorria do
fato de o conhecimento formulado por essas cincias se basearem na vincu-
lao que se estabelece entre razo e experincia, produzindo juzos sintticos
a priori
3
, Kant pergunta-se se haveria a possibilidade da Metafsica, um co-
nhecimento especulativo da razo que no se dirige aos objetos experienci-
veis, encontrar o caminho seguro da cincia. Essa preocupao com o esta-
belecimento das possibilidades da razo orienta a estruturao do seu sistema
filosfico.
3 O s juzos sintticos a priori so fundamentais para a cincia, pois, por serem sintticos,
ampliam o conhecimento dos objetos e, por serem a priori, so juzos universais e neces-
srios.
345
Na perspectiva de criticar o uso da razo, ou seja, discernir o que a
razo pode fazer ou o que ela incapaz de fazer, Kant prope o sistema
crtico que apresentado em trs obras fundamentais: a Crtica da razo
pura investiga o uso terico da razo que se aplica ao pensamento cientfico,
aos pensamentos que tratam de questes de fato, ou seja, busca estabelecer
as possibilidades da razo ao conhecer; a Crtica da razo prtica investiga
o seu uso prtico, no qual a razo determina a vontade e os princpios do
comportamento moral, ou seja, estabelece como os homens devem agir em
relao aos outros homens, o que ele deve fazer para garantir o bem geral;
a Crtica do juzo analisa a ao da razo nas formas de pensamento teleo-
lgico e esttico, dedicando-se ao sentimento de prazer e dor.
Na Crtica da razo pura, Kant analisa o mtodo de produo de co-
nhecimento das cincias naturais. Naquele momento, a fsica e a matem-
tica conseguiam explicar com segurana seus fenmenos, a partir de leis
universais e necessrias, unindo experincia e razo. Segundo Brhier (1977a),
No de duvidar que Kant tenha adotado por tipo de conhecimento o aspecto
do conhecimento que se havia tornado familiar fsica de Newton: duma parte,
uma srie de experincias esparsas, adquiridas independentemente uma da ou-
tra; doutra, um conceito ou lei que o esprito descobre e que cria a ligao ou
unidade entre essas experincias. Duma parte, portanto, materiais passivamente
acumulados; doutra, uma inteligncia ativa que liga essas experincias para
pens-las. (p. 195)
Kant denomina sensibilidade faculdade por meio da qual nossa mente
recebe, passivamente, representaes e o objeto nos dado de forma diversa,
dispersa, mltipla; a faculdade das intuies. O entendimento a faculdade
que organiza o diverso, o mltiplo, e pensa as representaes da sensibilidade,
desempenhando uma funo ativa.
Segundo Krner (1983),
Uma das hipteses fundamentais de Kant consiste em que o ato de julgar e o
de perceber so formas diferentes e irredutveis. Neste ponto se ope tanto aos
seus predecessores racionalistas, para quem a percepo era uma espcie de
faculdade de julgar de grau inferior, como a seus mestres empiristas que se
inclinavam a assimilar a faculdade de julgar de perceber. Kant expressa a
aguda distino entre o ato de julgar e o de perceber como se se tratasse de
duas fases diferentes da mente: sensibilidade e entendimento, (p. 26)
O conhecimento produzido pela cincia deve se referir a objetos:
Seja qual for o modo e sejam quais forem os meios pelos quais um conheci-
mento possa referir-se a objetos, a intuio o modo como se refere imedia-
tamente aos mesmos e ao qual tende como um meio todo pensamento. Contudo,
346
esta intuio s acontece na medida em que o objeto nos for dado; a ns
homens pelo menos, isto s por sua vez possvel pelo fato do objeto afetar
a mente de certa maneira. A capacidade (receptividade) de obter repre-
sentaes mediante o modo como somos afetados por objetos denomina-se
sensibilidade. Portanto, pela sensibilidade nos so dados objetos e apenas ela
nos fornece intuies; pelo entendimento, ao invs, os objetos so pensados e
dele se originam conceitos. No entanto, por meio de certas caractersticas,
seja diretamente (directe) ou por rodeios (ndirecte), todo o pensamento tem
por fim que se referir a intuies, em ns portanto, sensibilidade, pois de
outro modo nenhum objeto nos pode ser dado. {Crtica da razo pura, 33)
Assim, entendimento e sensibilidade no tm, cada qual, seu objeto
prprio; conceitos e intuies so necessrios para a elaborao do conheci-
mento, no tendo, nenhum desses elementos, preponderncia sobre o outro
(...) nem conceitos sem uma intuio de certa maneira correspondente a eles
nem intuio sem conceitos podem fornecer um conhecimento. (...) Sem sen-
sibilidade nenhum objeto nos seria dado, e sem entendimento nenhum seria
pensado. Pensamentos sem contedo so vazios, intuies sem conceitos so
cegas. Portanto, tanto necessrio tomar os conceitos sensveis (isto , acres-
centar-lhes o objeto na intuio) quanto tornar as suas intuies compreens-
veis (isto , p-las sob conceitos). (Crtica da razo pura, 74, 75)
A Crtica da razo pura expe, em sua primeira parte - Esttica trans-
cendental
4
- , o processo segundo o qual ocorre a recepo, a captao passiva
do objeto, processo que Kant denomina sensibilidade. A sensibilidade a
faculdade das intuies. Estas dependem de um objeto que as desencadeie e
dependem tambm da nossa capacidade de sermos afetados. As impresses
produzidas pelos objetos no ser humano - as sensaes - so as intuies
denominadas empricas.
O efeito de um objeto sobre a capacidade de representao, na medida em
que somos afetados pelo mesmo, sensao. Aquela intuio que se refere ao
objeto mediante a sensao denomina-se emprica {Crtica da razo pura, 34)
A nossa capacidade de sermos afetados pelo objeto (as formas de cap-
tao) est a priori no ser humano, ou seja, precede qualquer experincia,
4 Transcendental o princpio segundo o qual nossa maneira de conhecer os objetos
envolve condies a priori, ou seja, que toda a experincia deve ser submetida aos nossos
conceitos a priori. "Denomino transcendental todo o conhecimento que em geral se ocupa
no tanto com objetos, mas com o nosso modo de conhecer objetos na medida em que
este deve ser possvel a priori" {Crtica da razo pura, p. 25).
"Denomino esttica transcedental uma cincia de todos os princpios da sensibilidade a
priori" (idem, 36).
347
sendo, portanto, necessria a e igual em todos os seres humanos. Ela de-
nominada intuio pura. Ela permite que as impresses fornecidas pelas sen-
saes, que so diversas, mltiplas e dispersas, sejam ordenadas a partir de
uma capacidade da mente.
(...) A forma pura de intuies sensveis em geral, na qual todo o mltiplo dos
fenmenos intudo em certas relaes, ser encontrada a priori na mente.
Essa forma pura da sensibilidade se denomina ela mesma intuio pura. (Cr-
tica da razo pura, 34, 35)
Se retirarmos da sensibilidade tudo o que provm da sensao (cor,
dureza, etc), portanto tudo o que a matria lhe fornece, restaro somente as
formas da sensibilidade, ou seja, a intuio pura, a nica coisa que a sensi-
bilidade nos fornece a priori como condio de captao - o espao e o
tempo.
O espao no um conceito emprico abstrado de experincias externas. Pois
a representao de espao j tem que estar subjacente para certas sensaes
se referirem a algo fora de mim (isto , a algo num lugar do espao diverso
daquele em que me encontro), e igualmente para eu poder represent-las
como fora de mim e uma ao lado da outra e por conseguinte no simples-
mente como diferentes, mas como situadas em lugares diferentes. Logo, a re-
presentao do espao no pode ser tomada emprestada, mediante a experincia,
das relaes do fenmeno externo, mas esta prpria experincia externa
primeiramente possvel s mediante referida representao. (Crtica da razo
pura, 38)
Assim o espao nos representa os objetos fora de ns e juntos no es-
pao; nele so determinadas as figuras, magnitudes e relaes recprocas. O
espao no representa nenhuma propriedade das coisas e de suas relaes,
no do objeto, uma condio de sensibilidade do sujeito que conhece,
que est a priori dada no sujeito e a condio de recepo dos objetos
externos.
O tempo no um conceito emprico abstrado de qualquer experincia. Com
efeito, a simultaneidade ou a sucesso nem sequer se apresentaria percepo
se a representao do tempo no estivesse subjacente a priori. Somente a pres-
supondo pode-se representar que algo seja num e mesmo tempo (simultneo)
ou em tempos diferentes (sucessivo). (Crtica da razo pura, 46)
Tal como o espao, o tempo no pertence s coisas, ou seja, os fen-
menos podem ser suprimidos do tempo, mas o tempo no pode ser eliminado
dos fenmenos. Para Kant, o tempo a condio subjetiva da intuio das
coisas, j que no posso justapor as coisas a menos que tenha a idia de
justaposio. "Se a condio particular de nossa sensibilidade for suprimida,
348
desaparece tambm o conceito do tempo, que no adere aos prprios objetos
mas apenas ao sujeito que os intui" (Crtica da razo pura, 54).
Kant justifica apenas essas duas formas - espao e tempo - como con-
dies a priori de toda a sensibilidade, pois so as nicas que independem
de algo emprico. Tal noo exemplificada quando fala do movimento.
Que enfim a esttica transcendental no pode conter mais que estes dois ele-
mentos, a sabei; espao e tempo, fica claro pelo fato de todos os outros con-
ceitos pertencentes sensibilidade, mesmo o de movimento, que rene ambos
os elementos, pressuporem algo de emprico. Com efeito, o movimento pres-
supe a percepo de algo mvel. Mas no espao, considerado em si mesmo,
nada mvel: por conseguinte, o que se move tem que ser algo encontrado
no espao s mediante a experincia, portanto um dado emprico. Do mesmo
modo, a esttica transcendental no pode contar o conceito de mudana entre
os seus dados a priori, pois o prprio tempo no muda, mas sim algo que
no tempo. Logo, para isso, requer-se a percepo de alguma existncia e da
sucesso das suas determinaes, por conseguinte experincia. (Critica da ra-
zo pura, 58)
Dessa forma, segundo Kant, espao e tempo, condies a priori da
sensibilidade, no so propriedades das coisas nem tm uma existncia em
si mesmos. Ao contrrio, so as condies do sujeito humano, da capacidade
do homem de captao, so os modos de sermos afetados pelos objetos, que
no necessariamente podem ser generalizveis a outros seres.
Relativamente s intuies de outros entes pensantes, com efeito no podemos
absolutamente julgar se esto vinculadas s mesmas condies que limitam
nossa intuio e nos so universalmente vlidas. (Crtica da razo pura, 43)
A concepo de espao e de tempo reflete uma influncia de Newton,
que supunha o espao e o tempo no como propriedades das coisas. Entre-
tanto, Kant transpe ao homem o que Newton atribua a Deus. O espao e
o tempo, considerados o sensrio de Deus em Newton, passam a ser a con-
dio de captao subjetiva do homem em Kant. Como aponta Cassirer
(1968),
Esta subjetividade o mesmo que a idia coperniciana de que deve girar o
espectador e no o universo; indica como ponto de partida, no o objeto, mas
sim certas leis especficas do conhecimento, que devem ser reduzidas a uma
determinada forma de objetividade (seja do tipo terico, ou tico, ou esttico).
Uma vez que se tenha compreendido isto, desaparece imediatamente aquele
sentido secundrio do "subjetivo" que leva junto a aparncia do individual e
do caprichoso. Com o sentido que aqui se lhe d, o conceito do subjetivo
expressa sempre a fundamentao em um mtodo necessrio e em uma lei
geral da razo. (p. 183)
349
Considerando que os objetos nos aparecem em funo do modo como
afetam nossos sentidos, isto , que os objetos so captados pelos seres hu-
manos segundo as condies de sensibilidade, espao e tempo, no intumos
as coisas tais como elas so em si mesmas, mas sim do modo como as
conhecemos. Portanto, no conhecemos as coisas em si (noumeno), mas so-
mente tal como elas nos aparecem (fenmenos).
Quisemos, portanto, dizer: que toda nossa intuio no seno a repre-
sentao de fenmeno; que as coisas que intumos no so em si mesmas tal
qual as intumos, nem que as suas relaes so em si mesmas constitudas do
modo como nos aparecem e que, se suprimssemos o nosso sujeito ou tambm
apenas a constituio subjetiva dos sentidos em geral, em tal caso desapare-
ceriam toda a constituio, todas as relaes dos objetos no espao e no
tempo, e mesmo espao e tempo. Todas essas coisas enquanto fenmenos no
podem existir em si mesmas, mas somente em ns. O que h com os objetos
em si e separados de toda esta receptividade da nossa sensibilidade, perma-
nece-nos inteiramente desconhecido. No conhecemos seno o nosso modo de
perceb-los, o qual nos peculiar e no tem que concernir necessariamente
a todo ente, mas sim a todo homem. {Critica da razo pura, 59)
Com isto Kant apresenta uma nova relao entre sujeito e objeto no
processo de conhecimento. O s racionalistas supunham um acordo entre a
ordem das idias e as coisas, sendo Deus o princpio dessa harmonia. Hume
supunha que os princpios da natureza estavam de acordo, segundo uma har-
monia preestabelecida com a natureza humana. Em Kant, o objeto neces-
sariamente submetido ao sujeito, pois "(...) o fenmeno aquilo que de modo
algum pode encontrar-se no objeto em si mesmo, mas sempre na sua relao
com o sujeito sendo inseparvel da representao do primeiro" {Crtica da
razo pura, 70).
O conhecimento no tem validade objetiva no que se refere coisa em
si, mas ele tem validade objetiva no que se refere ao fenmeno, pois uma
regra que vale universalmente e sem limite para todos os homens.
A sensibilidade refere-se a como o sujeito afetado, a como produz
intuies. Tais intuies devem ser pensadas, organizadas, reunidas para ela-
borao do conhecimento. A segunda parte da Crtica da razo pura - Ana-
ltica transcendental - descreve esse processo de pensar as intuies reali-
zado pelo entendimento.
5 "A parte da lgica transcendental, portanto, que expe os elementos do conhecimento
puro do entendimento e os princpios sem os quais um objeto de maneira alguma pode
ser pensado, a analtica transcendental, e ao mesmo tempo uma lgica da verdade"
{Crtica da razo pura, 87).
A lgica a cincia das regras do entendimento. Kant estabelece uma diferena entre a
lgica geral (formal) e a cincia do entendimento que prope - lgica transcendental. A
350
Segundo Kant a unio de experincia e razo ocorre a partir da ao
conjunta de faculdades que o homem possui.
O entendimento pode elaborar conceitos a priori e a posteriori. O s
conceitos a posteriori so elaborados a partir de abstraes ou composies
das percepes empricas; por exemplo, "esta casa branca". Aqui a noo
geral de "branco" aplicada a uma coisa particular. Tais conceitos expressam
o que dado na percepo. A outra forma por meio da qual o entendimento
age por intermdio de conceitos a priori. Tais conceitos no so abstrados
da percepo, mas o homem dispe deles antes de qualquer experincia.
A suposio da existncia de conceitos a priori implica que, embora
eles independam da experincia para serem elaborados, eles determinam as
formas de pensar as experincias. Por exemplo, s possvel estabelecer
conceitos que descrevem relaes causais entre os fenmenos porque o con-
ceito de causa existe a priori nos homens. Assim, a partir de tais conceitos,
o entendimento tem a possibilidade de formar juzos, ou seja, age relacio-
nando representaes e reduzindo-as a uma unidade. Kant exemplifica:
no juzo "todos os corpos so divisveis", o conceito de "corpo" est rela-
cionado ao conceito "divisvel".
Tais conceitos a priori se distinguem dos a posteriori por ampliar o
conhecimento para alm do que dado pela percepo. Krner (1983) ressalta
a importncia dos conceitos a priori ao afirmar que
Ao empregar conceitos a posteriori, digamos, de forma figurada, que no es-
tamos seno mostrando um espelho percepo tal e como se d ou iluminamos
um aspecto dela; por outro lado, ao empregar conceitos a priori transformamos
nossas percepes em um novo produto, (p. 28)
Para determinar quais seriam os conceitos que se referem a priori aos
objetos, Kant partiu dos juzos que os lgicos propunham at ento. Estabe-
leceu, assim, uma tbua de categorias (conceitos) que permite classificar os
juzos em quatro grupos de trs: categoria de quantidade (unidade, plurali-
dade, totalidade), qualidade (realidade, negao e limitao), relao (subs-
lgica geral (formal) ocupa-se simplesmente das formas de pensamento, sem se referir
ao contedo do mesmo; assim, por meio das formas de pensamento, podem-se propor
conhecimentos, em funo de regras, que no correspondam a objetos. Para Kant o co-
nhecimento deve se referir a objetos, portanto, formula "(...) a idia de uma cincia relativa
ao conhecimento puro do entendimento e da razo mediante a qual pensamos objetos de
modo inteiramente a priori. Uma tal ciicia, que determinasse a origem, o mbito e a
validade objetiva de tais conhecimentos, teria de se denominar lgica transcendental (...)"
(Crtica da razo pura, 81).
351
tncia e acidente, causa e efeito, ao recproca) e modalidade (possibilidade,
existncia e necessidade).
Brhier (1977a) fornece alguns exemplos da unidade que o entendi-
mento pode realizar por meio das categorias:
O entendimento no une em geral; une somente tal ou qual conceito a priori;
por exemplo, para determinar a grandeza de uma linha, une o diverso do espao
segundo o conceito de quantidade; para determinar a intensidade do calor, une
os dados da sensibilidade sob o conceito de qualidade; para captar a sucesso
necessria dos fenmenos, utiliza o conceito de causalidade, (p. 198)
O entendimento pode pensar a partir das prprias categorias estabele-
cendo unio entre elas, ou pode pensar a partir de intuies, empricas ou
a priori. Por exemplo, na matemtica possvel, por meio dos conceitos,
sem nenhuma intuio sensvel, formular juzos.
Assim o entendimento pode pensar por intermdio de seus conceitos
puros, sem nenhuma limitao, o que resultaria em juzos possveis, mas no
necessariamente reais; isto estabelece uma diferena entre pensar e conhecer:
Pensar um objeto e conhecer um objeto no , portanto, a mesma coisa. O
conhecimento requer dois elementos: primeiro o conceito pelo qual em geral
um objeto pensado (a categoria) e em segundo a intuio pela qual dado.
Com efeito, se ao conceito no pudesse ser dada uma intuio correspondente
seria um pensamento segundo a frma, mas sem nenhum objeto, atravs dele
no sendo absolutamente possvel conhecimento algum de qualquer coisa por-
que, por mais que eu soubesse, nada haveria nem poderia haver ao qual pu-
desse ser aplicado meu pensamento. Ora, toda intuio possvel a ns
sensver (Esttica); portanto, o pensamento de um objeto em geral mediante
um conceito puro do entendimento pode tornar-se conhecimento em ns so-
mente na medida em que tal conceito for referido a objetos dos sentidos. (...)
Por isso, mediante a intuio as categorias no nos fornecem tambm conhe-
cimento algum das coisas seno apenas atravs da sua aplicao intuio
emprica, isto , servem s possibilidade do conhecimento emprico. Este
chama-se, porm, experincia Por conseguinte, as categorias no possuem
nenhum outro uso para o conhecimento das coisas seno apenas na medida
em que estas forem admitidas como objetos de experincia possvel. (Crtica
da razo pura, 146, 147 e 148)
Para compreender como conceitos a priori do entendimento determi-
nam a experincia, ou seja, como as leis da natureza so estabelecidas, con-
6 Sensvel no sentido de referente faculdade da sensibilidade. Pode ser, portanto, pura
ou emprica; contrape-se, aqui, intuio inteligvel, s possvel a um Ser Superior. (N.
do A.)
352
siderando que conceitos e intuies empricas so heterogneos (os conceitos-
pertencem ao nvel do inteligvel e a intuio emprica ao nvel do sensvel),
Kant percebe a necessidade de uma nova faculdade que denomina imagina-
o. Essa faculdade, como assinala Pascal (1985), estabelece "(...) certa ho-
mogeneidade entre o sensvel dado na intuio e as categorias intelectuais,
entre o que confuso e o que introduz a ordem" (p. 74). A intuio, que
ser ordenada pelos conceitos, fornece-nos o sensvel de forma mltipla e
dispersa. A imaginao realiza a composio da multiplicidade que nos
dada pela intuio, numa ao denominada sntese.
Por sntese entendo, no sentido mais amplo, a ao de acrescentar diversas
representaes umas s outras e de conceber a sua multiplicidade num co-
nhecimento. (...) Mas a sntese de um mltiplo (seja dado empiricamente ou
a priori) produz primeiro um conlwcimento que, verdade, pode ser de incio
tosco e confuso e necessita, portanto, da anlise, todavia, a sntese que coleta
propriamente os elementos em conhecimentos e os rene num certo contedo,
sendo portanto o primeiro a que devemos prestar ateno se quisermos julgar
sobre a origem primeira do nosso conlwcimento. A sntese em geral, como
veremos futuramente, o simples efeito da capacidade da imaginao, uma
funo cega embora indispensvel da alma, sem a qual de modo algum tera-
mos um conhecimento, mas da qual raramente somos conscientes. Reportar
essa sntese a conceitos , todavia, uma funo que cabe ao entendimento e
pela qual nos proporciona pela primeira vez o conhecimento em sentido pr-
prio. (Crtica da razo pura, 103)
Para ligar conceitos s intuies sensveis, alm de estabelecer snteses,
a imaginao deve traduzir os conceitos em operaes aplicveis sensibi-
lidade, determinando as condies temporais em que a categoria aplicvel
aos objetos da experincia. Essas operaes so denominadas esquemas. As-
sim, a imaginao, sob o mando do entendimento, produz esquemas dos con-
ceitos, ou seja, os conceitos (ou categorias) tm que ser esquematizados para
se referir s intuies. Esquema "(...) significa uma regra de sntese da ca-
pacidade de imaginao (...)" (Crtica da razo pura, 180).
Kant prope um esquema de cada categoria.
O esquema das categorias de quantidade (unidade, pluralidade e totalidade)
o nmero. Um objeto dado na percepo uma quantidade somente se como
quantidade pode se comparar com outras quantidades, ou seja, se se pode medir.
A medida implica a adio de unidades. que necessariamente uma sucesso
no tempo. (...) O esquema das categorias de qualidade (realidade, negao,
limitao) o grau de intensidade. Toda percepo emprica implica uma sen-
sao que deve ser capaz de aumentar ou decrescer em intensidade. (...) En-
quanto nas categorias de relao (substncia, causalidade e interao), o
353
esquema ou determinao da substncia a permanncia no tempo, o da cau-
salidade "a sucesso de uma diversidade contanto que esteja sujeita a uma
norma". (...) O s esquemas das categorias de modalidade (possibilidade-im-
possibilidade, existncia-no existncia, necessidade-contingncia) so os se-
guintes: o esquema de possibilidade a possibilidade no tempo e no mera
possibilidade lgica. O esquema de existncia (Wirklichkeit) "ser num tempo
determinado". O esquema de necessidade o "ser de um objeto em todo
tempo".
8
(Korner, 1983, pp. 67-68)
Foram descritas trs faculdades envolvidas na produo do conheci-
mento: a sensibilidade, que possibilita que o conhecimento se inicie por meio
de intuies; a imaginao, que produz esquemas dos conceitos e snteses
das intuies; o entendimento, que julga, que d unidade aos fenmenos.
Cabe finalmente destacar a razo.
A unidade dada pelo entendimento baseia-se sempre em intuies. A
razo pretende tambm uma unidade, mas total e definitiva, agindo sobre os
conceitos do entendimento, possibilitando a unidade das leis empricas.
Se o entendimento uma faculdade da unidade dos fenmenos mediante regras,
a razo a faculdade da unidade das regras do entendimento sob princpios.
Portanto, ela jamais se refere imediatamente experincia ou a qualquer ob-
jeto, mas ao entendimento, para dar aos seus mltiplos conhecimentos unidade
a priori mediante conceitos, a qual pode denominar-se unidade da razo e
de natureza completamente diferente da que pode ser produzida pelo entendi-
mento. (Crtica da razo pura, 358, 359)
Nisto constitui seu papel no processo de conhecimento (seu uso lgico, te-
rico ou especulativo).
O uso lgico no o nico a que a razo pode se propor. Ela pode
formar idias fora da experincia - idias puras da razo - que levam os
conceitos do entendimento ao mximo de extenso e de unidade.
(...) as snteses operadas pelo entendimento na experincia no bastam razo;
o mundo emprico no nos satisfaz, visto no ser mais que um conjunto de
fenmenos, e no um todo nico. A exigncia da razo a de representar-se
o universo como uma totalidade acabada. Por certo, a razo, com suas idias,
no apreende nenhum objeto, mas esta idia de universo, este ideal de um
universo, impele o esprito a levar adiante, sem cessar, as suas snteses em-
pricas, sem nunca se dar por satisfeito com seus conceitos. (Pascal, 1983, p. 88)
7 Crtica da razo pura, 183.
8 Crtica da razo pura, 184.
354
Assim, a razo, ao buscar o absoluto, o universal, chegaria a trs tipos de
idias: relativas ao sujeito, idia da imortalidade da alma (unidade absoluta
do sujeito pensante); relativas ao objeto enquanto fenmeno, idia de mundo
(unidade absoluta da srie das condies do fenmeno); relativas ao objeto
enquanto pensamento em geral, ou seja, a coisa que contm a condio da
possibilidade de tudo o que pode ser pensado, a idia de Deus - o ente de todos
os entes (unidade absoluta da condio de todos os objetos do pensamento).
A terceira parte da Crtica da razo pura - Dialtica transcendental -
refere-se iluso da razo ao pretender obter conhecimentos da existncia
de Deus, da alma e do mundo. Constitui uma iluso, pois a razo impele o
entendimento a usar suas categorias fora dos limites da experincia possvel.
Tal iluso natural pode ser denunciada, refutada, mas no evitada e dissipada.
Assim, quando a razo tenta conhecer o mundo fora dos limites da experin-
cia se coloca vrios problemas. A partir da categoria de quantidade, a razo
coloca-se o problema da grandeza do mundo no espao e no tempo, ou seja,
se ele finito ou infinito. A partir da categoria de qualidade, coloca-se o
problema da composio da matria no espao, ou seja, se o mundo com-
posto de partes simples ou nenhuma coisa do mundo composta de partes
simples. A partir da categoria de relao, problematiza as causas do mundo,
ou seja, possvel supor causas que no tenham causas e que, portanto,
envolvem a liberdade, ou no existe liberdade e tudo no mundo acontece
segundo leis naturais. A partir da categoria de modalidade, questiona-se: se
o mundo implica um ser absolutamente necessrio como sua causa, ou se
no necessita de nenhum ser, nem pertencente ao mundo, nem externo a ele,
como sua causa. Kant discute, ainda, na dialtica, as iluses da razo ao
tentar conhecer a alma - a possibilidade de conhecer o ser do homem - e
Deus - se possvel provar a existncia de Deus.
Conclui pela impossibilidade de se resolver tais questes, pois essas
idias da razo no so passveis de ser objetos da experincia possvel, no
podem se expor a uma intuio sensvel, no so possveis juzos sintticos
a priori sobre elas. Portanto, sobre tais idias, objeto da Metafsica, no se
pode produzir nenhum conhecimento objetivo. Segundo Kant, os racionalistas
dogmticos teriam se conduzido pela iluso de conhecer tais idias.
Por meio da Crtica da razo pura, Kant responde a um interesse da
razo referente ao que posso saber, determinando os limites da prpria razo
visando a impedir erros. Ele se questiona sobre a possibilidade de existir
uma outra fonte de conhecimento pertencente ao domnio da razo pura:
(...) a que causa dever-se-ia imputar de outro modo a nsia indomvel de
tomar p firme em esferas que ultrapassam de todo os limites da experincia?
A razo pressente objetos que se revestem de um grande interesse para ela.
355
Enceta o caminho da simples especulao para se aproximar destes objetos;
estes ltimos, no entanto, se esquivam dela. Presumivelmente poder esperar
melhor sorte na nica senda que ainda lhe resta a saber a do uso prtico.
{Crtica da razo pura, 824)
O uso prtico da razo constituir-se-ia a possibilidade de ela elaborar
um conjunto de princpios a priori para o uso adequado de suas faculdades
fora dos limites da experincia. Isto significa que, se a razo erra ao pretender
conhecer alm dos limites do sensvel, no seu uso prtico, no que se refere
s aes do homem no mundo, a razo deve atuar tendo como mvel no a
sensibilidade, mas sim princpios necessrios e universais.
Tudo na natureza age segundo leis. S um ser racional tem a capacidade de
agir segundo a representao das leis, isto , segundo princpios, ou: s ele
tem uma vontade. Como para derivar as aes das leis necessria a razo,
a vontade no outra coisa seno razo prtica. Se a razo determina infa-
livelmente a vontade, as aes de um tal ser, que so conhecidas como obje-
tivamente necessrias, so tambm subjetivamente necessrias, isto , a
vontade a faculdade de escolher s aquilo que a razo, independentemente
da inclinao , reconhece como praticamente necessrio, quer dizer, como
bom. (...) Praticamente bom porm aquilo que determina a vontade por meio
de representaes da razo, por conseguinte, no por causas subjetivas, mas
objetivamente, quer dizer, por princpios que so vlidos para todo o ser ra-
cional como tal. Distingue-se do agradvel, pois que este s influi na vontade
por meio da sensao em virtude de causas puramente subjetivas que valem
apenas para a sensibilidade deste ou daquele, e no como princpio da razo
que vlido para todos. {Fundamentao da metafsica dos costumes, 36, 37 e 38)
A "boa vontade" para atingir seus fins, necessrios e universais, deve,
portanto, libertar-se dos entraves subjetivos advindos de nossa sensibilidade.
Kant distingue agir segundo normas particulares e segundo normas universais,
ao definir mxima e lei.
Mxima o principio subjetivo da ao e tem de se distinguir do princpio
objetivo, quer dizer da lei prtica. Aquela contm a regra prtica que deter-
mina a razo em conformidade com as condies do sujeito (muitas vezes em
conformidade com a sua ignorncia ou as suas inclinaes), e portanto o
princpio segundo o qual o sujeito age; a lei, porm, o principio objetivo,
vlido para todo o ser racional, princpio segundo o qual ele deve agir, quer
dizer um imperativo. {Fundamentao da metafsica dos costumes, 51)
9 "Chama-se inclinao a dependncia em que a faculdade de desejar est em face das
sensaes; a inclinao prova sempre portanto uma necessidade (Bedrfnis)" (Nota de
Kant).
356
A partir dessa forma de conceber a lei moral, Kant diferencia-se de
Hume. Este propunha as aes morais decorrentes do hbito - o que poderia
possibilitar formas de atuao particulares -, Kant prope uma moral guiada
por leis que determinariam a priori, sem atender a inclinaes sensveis par-
ticulares (por exemplo, a felicidade), o que se deve fazer, ou seja, o uso da
liberdade. Essas leis constituiriam imperativos para o comportamento huma-
no, vlidas para todos e, portanto, necessrias e universais.
A representao de um principio objetivo enquanto obrigante para uma von-
tade, chama-se um mandamento (da razo), e a frmula do mandamento cha-
ma-se Imperativo.
Todos os imperativos se exprimem pelo verbo dever (solleu), e mostram assim
a relao de uma lei objetiva da razo para uma vontade que segundo a sua
constituio subjetiva no por ela necessariamente determinada (uma obri-
gao). (Fundamentao da metafsica dos costumes, 38)
Tal imperativo estabelecido pela razo como necessrio, sem qualquer
inteno, norteado pelo dever, chamado imperativo categrico. Buscando
a universalidade da lei moral, Kant apresenta um nico imperativo categrico:
"Age apenas segundo uma mxima tal que possas ao mesmo tempo querer
que ela se torne lei universal" (Fundamentao da metafsica dos cos-
tumes, 52).
No que se refere ao fenmeno, devo explic-lo por meio de leis natu-
rais, buscando uma causalidade necessria; entretanto, a ao moral deve
supor algo que no seja produto de uma causa, no qual seria possvel uma
causa livre, ou seja, a liberdade.
O conceito de liberdade, na medida em que sua realidade pode demonstrar-se
mediante uma lei apodtica da razo prtica, constitui a coroao de todo o
edifcio de um sistema da razo pura, ainda da especulativa, e todos os demais
conceitos (Deus e a imortalidade) que nesta carecem de apoio como meras
idias, se enlaam com este conceito, e, com ele e graas a ele, adquirem
existncia e realidade objetiva, quer dizer, que sua possibilidade se demonstra
pelo fato de que a liberdade real, pois esta idia se revela mediante a lei
moral. (Crtica da razo prtica, pp. 7-8)
A moral (uso prtico da razo) refere-se s aes que o homem
(...) deve fazer caso a vontade seja livre, caso exista um Deus e um mundo
futuro. Ora, j que isto se refere ao nosso comportamento com vistas ao fim
supremo, ento o propsito ltimo da sbia e providente natureza na consti-
tuio de nossa razo est propriamente voltado s para o moral. (Crtica da
razo pura, 828, 829)
357
Assim, na Crtica da razo prtica, a imortalidade da alma e a exis-
tncia de Deus so postuladas (e no conhecidas) para que se tenha o em-
basamento da lei moral, ou seja, como devo agir no mundo.
Portanto, a razo pura contm, no em seu uso especulativo, mas sim num
certo uso prtico, a saber, o uso moral, princpios da possibilidade da expe-
rincia, ou seja, de tais aes que de acordo com os preceitos morais, poderiam
ser encontradas na histria do ser humano. (Crtica da razo pura, 835)
A idia de liberdade seria, portanto, realizada na natureza, no desenvolvi-
mento da espcie humana.
Kant supe que as aes humanas seriam determinadas por certas leis
naturais universais.
A histria, que se ocupa da narrativa dessas manifestaes, por mais profun-
damente ocultas que possam estar as suas causas, permite todavia esperar
que, com a observao, em suas linhas gerais do jogo da liberdade da vontade
humana, ela possa descobrir a um curso regular - desta forma, o que se
mostra confuso e irregular nos sujeitos individuais poder ser reconhecido,
no conjunto da espcie, como um desenvolvimento continuamente progressivo,
embora lento, das suas disposies originais. (Idia de uma histria universal
de um ponto de vista cosmopolita, p. 9)
Prope que o homem teria disposies naturais que estariam destinadas a se
desenvolver completamente e conforme um fim; mas tal desenvolvimento
dar-se-ia completamente na espcie e no no indivduo, pois a vida de cada
indivduo seria demasiado curta para isso. O homem deveria tirar de si prprio
as condies desse desenvolvimento, por meio do uso de sua prpria razo.
Ele no deveria ser guiado pelo instinto, ou ser provido e ensinado pelo co-
nhecimento inato; ele deveria antes tirar tudo de si mesmo. A obteno dos
meios de subsistncia de suas vestimentas, a conquista da segwana externa
e da defesa (razo pela qual a natureza no lhe deu os chifres do touro, nem
as garras do leo, nem os dentes do cachorro, mas somente mos), todos os
prazeres que podem tornar a vida agradvel, mesmo sua perspiccia e pru-
dncia e at a bondade de sua vontade tiveram de ser inteiramente sua prpria
obra. (Idia de uma histria universal de um ponto de vista cosmopolita, p. 12)
O homem tem uma inclinao a associar-se com outros homens, o que
permite o desenvolvimento de suas disposies naturais. Por outro lado, o
homem tem uma forte tendncia a isolar-se na medida em que age em funo
de seu prprio proveito. o conflito provocado pelas pretenses egostas,
essa insociabilidade, essa oposio que leva o homem a superar sua tendncia
preguia, movido pela busca de projeo, pela nsia de dominao. Segundo
Kant,
358
(...) a desenvolvem-se aos poucos todos os talentos, forma-se o gosto e tem
incio, atravs de um progressivo iluminar-se (Aufklrung), a fundao de um
modo de pensar que pode transformar, com o tempo, as toscas disposies
naturais para o discernimento moral em princpios prticos determinados (...).
(Idia de uma histria universal de um ponto de vista cosmopolita, p. 13)
Somente em sociedade, e principalmente naquela que permite maior liberdade
(ou seja, a que permite a coexistncia da liberdade de todos), o homem con-
seguiria alcanar o mais alto grau de desenvolvimento de suas disposies.
Isto seria garantido por uma constituio civil que permitiria que a insocia-
bilidade necessria a esse desenvolvimento fosse disciplinada, ou seja, a li-
berdade estaria submetida a leis exteriores. A constituio civil constituiria
a mais elevada tarefa da espcie humana.
Essa preocupao com a ao moral, a liberdade, reflete uma assimi-
lao feita por Kant de algumas idias da Revoluo Francesa, principalmente
das de Rousseau, que no atribua s cincias e s artes a possibilidade de
o homem atingir o Bem e acreditava ser a moral determinada pelo interior
do homem e no exteriormente a ele.
Eu era por natureza curioso e vido de saber; a isto atribua a honra do
homem e zombava da multido ignorante. Rousseau me ps no caminho direito.
Ensinou-me a desprezar um privilgio insignificante e atribuir ao valor moral
a verdadeira dignidade de nossa espcie. Rousseau foi, em certo sentido, o
Newton da ordem moral, descobriu no seio da tica aquilo que promove a
unidade da natureza humana, da mesma maneira que Newton encontrou o
princpio que liga entre si todas as leis da natureza fsica. (Observaes sobre
o belo e o sublime, em Benda, 1943, p. 22)
No que tange ao moral, o modelo de Kant Rousseau; no que
tange a leis da natureza, Newton seu modelo - foi o primeiro a propor um
nico princpio que estabeleceu ordem e regularidade nos fenmenos da na-
tureza. Como para Newton, em Kant a natureza mecnica e tal percepo
da natureza determinada por condies estritamente humanas, o que no
significa, necessariamente, que ela seja assim.
10
Segundo Martin (1963),
(...) a extenso do conceito kantiano de natureza no inclui mais as plantas,
os animais, as montanhas, nem mesmo o Sol, a Lua e as estrelas, mas se limita
10 Kant considera possvel de sei' conhecido cientificamente somente aquilo que, na na-
tureza, pode ser explicado por meio de leis mecnicas (relaes de causa e efeito), tendo
como modelo fundamental a Fsica. A Biologia, por exemplo, que no era considerada
cincia na poca de Kant, pois no podia ser subordinada a tais leis, ser vista como outro
tipo de conhecimento - teleolgico - apresentado na Critica do juzo. (N. do A.)
359
legalidade como tal. Kant define, efetivamente, a natureza como a legalidade
dos fenmenos no espao, (p. 79)
Na Crtica da razo pura, Kant expe sua concepo de natureza: "Por
natureza (no sentido emprico) entendemos a interconexo dos fenmenos
quanto sua existncia, segundo regras necessrias, isto , segundo leis"
(263). Para conhecer tais leis, so necessrios conceitos a priori do entendi-
mento que determinam a experincia e o que pode ser conhecido do objeto.
Somos ns que introduzimos ordem e regularidade nos fenmenos na medida
em que pensamos. Assim, o entendimento estabelece relaes; a natureza
a unidade dessas relaes. As leis so, portanto, relativas ao sujeito, s suas
faculdades de captao e unio, que permitem estabelecer relaes de causa
e efeito e unir essas relaes segundo uma lei no que se refere aos fenmenos
(e no s coisas em si).
Com efeito nem as leis existem nos fenmenos, mas s relativamente no sujeito
ao qual os fenmenos inerem na medida em que possui entendimento, nem os
fenmenos existem em si, mas s relativamente quele mesmo ente na medida
em que possui sentidos. Coisas em si mesmas teriam sua conformidade a leis
de modo necessrio, mesmo independente de um entendimento que as conhe-
cesse. Fenmenos, todavia, so somente representaes de coisas que existem
no conhecidas segundo o que possam ser em si mesmas. (Crtica da razo
pura, 164)
As preocupaes de Kant com a natureza no se restringem a expressar
uma concepo mecnica sobre ela e a estabelecer formas de conhec-la. Ele
chega a propor, em sua obra pr-crtica - Histria natural geral e teoria do
cu (1755) -, uma teoria, hoje conhecida como teoria Kant-Laplace, uma
teoria que atribua uma explicao causai para o movimento dos astros em
torno do Sol, contrapondo-se a Newton que atribua a esse movimento uma
origem divina.
As possibilidades da razo no se limitam ao mundo da natureza -
Crtica da razo pura - e ao mundo da liberdade - Crtica da razo prtica.
Ainda tentando delimitar quais seriam as reais possibilidades do ser humano,
Kant escreveu a Crtica da faculdade de julgar, em que procura reunir a
ao moral e o conhecimento do mundo.
Suas proposies, ao reunirem explicaes do mundo com a explicao
do homem, constituem um paradigma filosfico pelo qual passaram muitas
tendncias de pensadores posteriores, como Fichte, Hegel, Comte, Marx, Sar-
tre, Heidegger, Luckcs, entre outros. As proposies kantianas no teriam
efeito apenas sobre concepes filosficas que se seguiram, mas tambm,
como afirma Cocho (1980), se refletiriam no campo cientfico, gerando uma
nova forma de ver e interpretar os fatos que impulsionou o desenvolvimento
360
de cincias globalizantes, totalizadoras e abstratas, que atenderam s neces-
sidades tecnolgicas da segunda revoluo industrial.
A proposta de integrar num sistema global as vrias reas da ao
humana - moral, cientfica e esttica -, por meio de diferentes papis que
assumem as diferentes faculdades, uma marca de seu pensamento. Mas a
marca fundamental a busca de limites da ao humana, tentando mostrar
que a liberdade do homem est em usar a razo dentro de seus limites.
361
CAPITULO 20
O REAL EDIFICADO PELA RAZO :
GEO RG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
(1770-1831)
... Nada h no cu e na terra que no contenha, ao mesmo
tempo, o ser e o nada.
Hegel
Georg Wilhelm Friedrich Hegel nasceu em Stuttgart em 1770 e morreu
em Berlim em 1831. Realizou seus estudos iniciais em teologia, tendo se
formado pastor em 1793. Ampliou sua formao estudando grego, latim, his-
tria, filosofia, destacando-se sempre pela seriedade com que norteava seus
estudos. Iniciou a carreira universitria em 1801 como professor da Univer-
sidade de Iena, carreira que atinge o apogeu quando nomeado reitor da
Universidade de Berlim.
O carter revolucionrio de suas idias polticas e religiosas o torna
alvo de acusaes e suspeitas por parte da corte e da Igreja luterana. A pri-
meira edio de Fenomenologia do esprito data de 1807 e a ela se seguiram
os dois volumes de Cincia da lgica (1812 e 1816), a Enciclopdia das
cincias filosficas abreviada (1817) e os Princpios da filosofia do direito
ou Direito natural e cincia do Estado abreviados (1821). Edies pstumas
de suas Obras completas trouxeram luz outros ttulos como os contidos
nas Lies - Esttica, Filosofia da histria, Histria da filosofia, Filosofia
da religio, em edio publicada entre 1832 e 1845.
Reunidos sob o ttulo Cursos de Iena, so publicados, entre 1927 e
1930, trabalhos de Hegel at ento inditos: Lgica, Metafsica, Filosofia da
natureza e Filosofia do esprito.
As preocupaes de Hegel no se dirigem a aspectos especficos da
vida humana, suas origens ou insero no mundo. Seu sistema revela preo-
cupao mais ampla, voltada ao direito, histria, poltica, enquanto m-
bitos diversos da realizao do homem em seu mundo, esta sim o foco pri-
mordial. Nas palavras de Brhier (1977b): "Hegel revela em sua filosofia
um saber enciclopdico, o que, alis, fizeram ou tentaram fazer muitos filo-
sofos de uma poca que visava, sobretudo, a no deixar escapar qualquer
elemento positivo da cultura humana (...)" (p. 146).
Tal tentativa, mesmo que ambiciosa, compatvel com a perspectiva
de Hegel em relao a si prprio e sua filosofia: julgava-se porta-voz pri-
vilegiado de sua poca e considerava que sua filosofia seria a resposta ltima
que se poderia produzir, destinando-se ao sepultamento as doutrinas que o
precederam.
O ra, Hegel julga que chegou o tempo de responder definitivamente, de acabar
a filosofia, isto , de chegar enfim exposio sistemtica da cincia, desse
saber absoluto a que a humanidade aspirava h vinte e quatro sculos; e que
a ele que essa tarefa est reservada. (Chtelet, 1981, p. 170)
A compreenso das idias fundamentais que marcaram o pensamento
filosfico hegeliano requer a retomada de aspectos relativos influncia que
Hegel, assim como os demais idealistas alemes dessa poca, recebeu a partir
da difuso dos princpios que nortearam a Revoluo Francesa de 1789. No
por acaso que Marcuse (1978) afirma que os idealistas alemes,
em grande parte, escreveram suas filosofias em resposta ao desafio vindo da
Frana reorganizao do Estado e da sociedade em bases racionais, de modo
que as instituies sociais e polticas se ajustassem liberdade e aos interesses
do indivduo, (p. 17)
O s ideais revolucionrios de liberdade, igualdade e fraternidade foram
efusivamente recebidos na Alemanha, especialmente entre os representantes
da intelectualidade. Entretanto, naquele pas, ainda se encontravam presentes
resqucios da velha ordem feudal e do despotismo poltico que, supostamente,
haviam sido abolidos pelo movimento revolucionrio francs. A essa situao
acrescia-se a no-unificao dos territrios alemes na forma de uma nao
(o que s bem mais tarde viria a ocorrer) e as dificuldades que isso repre-
sentava para o desenvolvimento econmico naquele pas, em contraste com
o significativo desenvolvimento industrial que j ocorria na Inglaterra e
mesmo na Frana.
Nesse contexto, aos intelectuais alemes coube oferecer uma resposta
- uma doutrina filosfica - que recuperasse os ideais que defendiam e bus-
casse superar a discrepncia entre aqueles ideais e a situao histrica em
que se encontravam. Assim, as principais caractersticas do pensamento he-
geliano devem ser entendidas sob a perspectiva de um movimento filosfico
que permitisse a libertao do homem como sujeito autnomo, capaz de di-
rigir seu prprio desenvolvimento, sob a gide dos ideais revolucionrios de
1789.
364
Para o idealismo alemo, to bem representado por Hegel, "a situao
do homem no mundo, seu trabalho e lazer, deveriam, doravante, depender
de sua prpria atividade racional livre e no de qualquer autoridade externa"
(Marcuse, 1978, p. 17).
O contexto filosfico no qual esse movimento se desenvolveu estava
fortemente marcado pelo empirismo ingls. Tentando superar os limites que
criticava em tal postura filosfica, o idealismo alemo buscava leis universais
e defendia a possibilidade de se atingir, pela razo, conceitos necessrios e
igualmente universais. Em contrapartida, o empirismo ingls acreditava que
as leis gerais eram criaes humanas e, como tal, no representativas do real.
Defendendo a supremacia da experincia sobre a razo, o empirismo
ingls colocava os fatos como critrios ltimos de verdade; a isto se opor
Hegel por julgar que, limitando-se ao dado, o homem acaba por ter que se
limitar ordem existente das coisas. A nfase na razo coloca o homem
como livre e capaz de se desenvolver se estiver dominado por uma vontade
racional, possibilitando assim a transformao da realidade de acordo com
critrios racionais. "O problema no era pois um problema meramente filo-
sfico, mas ligava-se ao destino histrico da humanidade" (Marcuse, 1978,
p. 30).
Alm da critica ao empirismo ingls, Hegel tambm manifesta uma
objeo ao kantismo, no que se refere impossibilidade de se conhecer a
coisa-em-si (noumeno), o que, segundo Hegel, limitaria a razo, mantendo-a
vulnervel s crticas empiristas.
Enquanto as coisas-em-si estiverem fora do alcance da razo, esta continuar
a ser mero princpio subjetivo privado de poder sobre a estrutura objetiva da
realidade; e o mundo se separa em duas partes: a subjetividade e a objetividade,
o entendimento e a sensibilidade, o pensamento e a existncia. (...) Se o homem
no conseguisse reunir as partes separadas de seu mundo, e trazer a natureza
e a sociedade para dentro do campo de sua razo, estaria para sempre conde-
nado frustrao. O papel da filosofia, neste perodo de desintegrao geral,
era o de evidenciar o princpio que restauraria a perdida unidade e totalidade.
(Marcuse, 1978, pp. 34-35)
A respeito da influncia de diferentes pensadores sobre o hegelianismo,
Corbisier (1981) afirma, entre outras coisas, que Hegel herda:
De Herclito de feso (...) a idia de dialtica entendida como estrutura da
realidade e do pensamento. De Aristteles, trs noes capitais: a do universal,
imanente e no transcendente ao individual (antiplatonismo); a do movimento,
e do vir-a-ser, entendido como passagem da potncia para o ato e, finalmente,
a das relaes entre a razo e a experincia, cuja necessidade interna deve ser
revelada pelo pensamento, pois s h cincia do universal e do necessrio. Do
365
racionalismo cartesiano, a idia da racionalidade do real, da coincidncia da
res cogitans com a res extensa (...). (p. 26)
O hegelianismo, enquanto sistema filosfico, no pode se separar de
seu carter dialtico, na medida em que a dialtica que expressa o movi-
mento constante e complexo a que est submetida toda a realidade. Para
apreender o movimento do mundo, o pensamento deve submeter-se aos pro-
cedimentos que orientam o desenvolvimento das coisas, sendo o prprio pen-
samento tambm dialtico. A dialtica, portanto, est nas coisas e no pensa-
mento, j que o mundo real e o pensamento constituem uma unidade indis-
solvel, submetida lei universal da contradio.
A compreenso da dialtica hegeliana envolve a idia de que toda a
realidade essencialmente "negativa". A negatividade parte da natureza dos
seres do mundo objetivo e do prprio homem, coloca em oposio aquilo
que os seres so e suas potencialidades, sugerindo um estado de limitao,
bem como a necessidade de superar tal estado em direo a outro. A tal
motivao ou luta dos seres em direo quilo que no so, Hegel atribui a
fora de um dever. Dever de perecer, de negar o estado anterior para ser
substitudo pelo novo que realiza uma potencialidade presente no velho. To-
das as transformaes no mundo ocorrem conforme esse processo. "No mun-
do, no h progresso uniforme: o aparecimento de cada condio nova en-
volve um salto; o nascimento do novo a morte do velho" (Marcuse, 1978,
p. 138). A negatividade , portanto, a matriz do processo e transformao
contnua de toda a realidade.
Tal processo de transformao expressa-se num movimento constante
e contraditrio que constitui, essencialmente, a dialtica. Hegel caracterizou
esse movimento em trs fases: em si (tese), para si (anttese) e em si-para
si (sntese). O movimento da realidade expressa-se, portanto, por meio de
um movimento tridico, no qual cada ser {em si/tese) est limitado s qua-
lidades que possui (qualidades que o distinguem de outros seres) e se nega,
buscando superar-se e transformar-se, adquirindo novas qualidades. O ser
que se nega e se transforma (para (/anttese) volta a si buscando um novo
estado (em si-para //sntese), que recupera a essncia que se preservou nesse
fluxo de transformaes, por meio da negao da negao.
O sistema filosfico hegeliano sustenta-se, em grande parte, no conceito
de ser nele proposto, exatamente porque tudo o que existe ser. Conforme
o concebeu Hegel, o conceito de ser veio romper a idia de um mundo
composto por coisas (ou seres) cuja identidade mantm-se at que aquele ser
deixe de existir. Em outras palavras, rompe-se, com Hegel, a idia de que
uma coisa s pode ser ela mesma e que, ao transformar-se, perde sua iden-
tidade para jamais ser recuperada.
366
O ser , fundamentalmente, um vir-a-ser. O modo como o ser apresen-
ta-se em determinado momento apenas um modo de seu existir, que con-
templa apenas uma entre as mltiplas potencialidades que pode desenvolver,
que constituem as prprias etapas de seu desenvolvimento, de sua transfor-
mao. Para existir verdadeiramente, o ser deve superar o estado atual em
que se apresenta e, ultrapassando os limites dados por esse estado, vir-a-ser
o que no , ou seja, buscar um novo estado de sua existncia. Por sua vez,
todo estado de existncia deve, necessariamente, ser ultrapassado. algo de
negativo, que deve ser abandonado procura do novo, que uma vez mais se
apresentar como um limite a ser superado. Para Hegel, essa a lei do de-
senvolvimento histrico que, vlida para todos os seres, regula o movimento
de transformao no mundo, num processo contnuo em que cada ser perece,
e, uma vez perecendo, transforma-se em outro que passar pelo mesmo pro-
cesso.
Verifica-se, assim, que Hegel no identifica o ser ao estado atual em
que se apresenta, da mesma forma que no concebe tal estado como definitivo
ou imutvel. Ao contrrio, Hegel concebe o ser como um "ser em processo",
que, estando em permanente mudana, conserva-se a si mesmo em cada es-
tgio do processo por que passa. Essa concepo no significa a anulao
da identidade do ser, mas a colocao dessa identidade no processo contra-
ditrio que orienta o seu desenvolvimento. Se o verdadeiro ser um ser em
movimento, s assim pode ser compreendido.
Sobre a constituio do ser, Hegel afirma ainda que a negatividade
parte inerente sua natureza, j que, para ser o que realmente , o ser deve
realizar suas potencialidades, de modo a vir-a-ser uma nova fase de sua exis-
tncia. Essa nova fase se apresenta como um novo estado a ser superado, no
processo de contnuo movimento que j descrevemos. A idia de progresso
traz consigo a idia de negatividade, e esta, por sua vez, leva Hegel a iden-
tificar o "ser" e o "nada", posto que, para que algo possa efetivamente ser,
deve passar a ser o que no . Assim, todo o ser contm em si o prprio ser
e seu oposto, o nada. O ser e o nada revelam-se, portanto, idnticos.
A Unidade, de que so momentos inseparveis o ser e o nada, difere em si
mesma destes momentos, e representa, em relao a eles, um terceiro momento
que , na sua forma mais particular, o devir. A passagem de um a outro a
mesma coisa que o devir, com a diferena prxima de que, na passagem, os
dois termos, o termo inicial e o termo final, esto em repouso e distantes um
do outro, efectuando-se a passagem, por assim dizer, entre os dois. Sempre
que se trata do ser e do nada, este "terceiro " deve existir, pois o ser e o nada
no existem por si mesmos, mas somente neste terceiro. (Hegel, em D'Hont,
1981, p. 89)
367
Como todos os seres, o homem tambm est em processo de contnua
transformao. A capacidade de compreenso e interferncia que os seres pos-
suem sobre seu prprio processo de desenvolvimento distingue-os entre si.
S o homem capaz de compreender o processo por que passa e nele inter-
ferir. Tal capacidade, inerente ao homem, advm do uso da razo de que est
dotado, assim como da liberdade que est pressuposta por e pressupe
essa condio racional.
Se o homem est em processo de contnua transformao, o mesmo se
aplica ao conhecimento por ele produzido. O conhecimento um processo
contnuo que no pode ser desvinculado das condies histricas que o de-
terminaram. tambm progressivo, no existindo verdades eternas. A ver-
dade est submetida razo humana, e a razo humana, est submetida
sua histria.
Na histria, encontram-se os critrios para definir o que racional, e
apenas o que racional, para Hegel, pode ser verdadeiro.
Hegel dizia que quem estuda histria sabe muito bem que a humanidade ca-
minha rumo a um autoconhecimento e um autodesenvolvimento cada vez maio-
res. A histria, segundo ele, demonstra de forma inequvoca a evoluo rumo
a uma racionalidade e liberdade, maiores. claro que s vezes ela d umas
cabriolas, mas o todo revela uma marcha inexorvel para frente. Para Hegel,
portanto, a histria persegue um objetivo definido. (Gaarder, 1995, p. 388)
O homem s atinge a autoconscincia quando conhece suas potencia-
lidades e livre para realiz-las, processo que s se realiza pelo confronto
entre indivduos em sua relao de trabalho.
O trabalho desempenha importante papel na medida em que funciona
como elemento integrador entre indivduos oriundos de diferentes posies
e com diferentes necessidades numa dada sociedade. Essa relao entre in-
divduos "opostos" intermediada pelos objetos produzidos pelo trabalhador,
que, por terem sido produzidos pelo homem, passam a fazer parte desse
homem, que neles se reconhece. "O s objetos de seu trabalho no mais sero
coisas mortas que o acorrentam a outros homens, mas produtos de seu tra-
balho e, como tal, parte integrante do seu prprio ser" (Marcuse, 1978, p. 117).
Hegel assinala que o processo de trabalho envolve dois domnios opos-
tos: o trabalhador (ou "escravo") e o "senhor", que no produz diretamente,
mas apropria-se dos produtos do trabalho do outro. Tambm para o senhor,
o trabalho o processo de criao da autoconscincia: ao lidar com os objetos
produzidos pelo trabalhador, est lidando com a autoconscincia daquele, que
est objetifcada nos objetos por ele produzidos. Nessa relao, o senhor
percebe que no independente do escravo. Por meio das relaes mediati-
zadas pelo trabalho, "cada um dos termos (envolvidos na relao) reconhece
368
que tem sua essncia no outro e que s atinge sua verdade pelo outro" (Mar-
cuse, 1978, p. 118).
O senhor obriga o escravo ao trabalho, ao passo que ele prprio goza os pra-
zeres da vida. O senhor no cultiva seu jardim, no faz cozer seus alimentos,
no acende seu fogo: ele tem o escravo para isso. O senhor no conhece mais
os rigores do mundo material, mna vez que interps um escravo entre ele e o
mundo. O senhor, porque l o reconhecimento de sua superioridade no olhar
submisso de seu escravo, livre, ao passo que este ltimo se v despojado
dos frutos de seu trabalho, numa situao de submisso absoluta.
Entretanto, essa situao vai se transformar dialeticamente porque a posio
do senhor obriga uma contradio interna: o senhor s o porque reconhecido
como tal pela conscincia do escravo e tambm porque vive do trabalho desse
escravo. Nesse sentido, ele uma espcie de escravo de seu escravo.
De fato, o escravo, que era mais ainda o escravo da vida do que o escravo de
seu senhor (foi por medo de morrer que se submeteu), vai encontrar uma nova
forma de liberdade. Colocado numa situao infeliz em que s conhece pro-
vaes, aprende a se afastar de todos os eventos exteriores, a libertar-se de
tudo o que o oprime, desenvolvendo uma conscincia pessoal. Mas, sobretudo,
o escravo incessantemente ocupado com o trabalho, aprende a vencer a natureza
ao utilizar as leis da matria e recupera uma certa forma de liberdade (o do-
mnio da natureza) por intermdio de seu trabalho. Por uma converso dialtica
exemplar, o trabalho servil devolve-lhe a liberdade. Desse modo, o escravo,
transformado pelas provaes e pelo prprio trabalho, ensina a seu senhor a
verdadeira liberdade que o domnio de si mesmo. (Vergez e Huisman, 1988,
p. 278)
A relao senhor-escravo permite a superao da oposio sujeito e
objeto, assim como, pela autoconscincia, supera-se a oposio entre pensa-
mento e mundo exterior. O esprito humano autoconsciente capaz de apreen-
der o mundo em sua totalidade, no mais como algo dicotomicamente sepa-
rado do pensamento. Isto porque a razo, para Hegel,
no apenas, como em Kant, o entendimento humano, o conjunto dos princ-
pios e das regras segundo as quais pensamos o mundo. Ela igualmente a
realidade profunda das coisas, a essncia do prprio Ser. Ela no s um
modo de pensar as coisas, mas o prprio modo de ser das coisas. (Vergez e
Huisman, 1988, p. 276)
por isso que Hegel afirma: "O racional real e o real racional"
(em Vergez e Huisman, 1988, p. 276).
O sistema hegeliano busca reproduzir a trajetria do esprito em direo
apreenso do mundo em sua totalidade.
369
O sistema , portanto, uma vasta epopia do esprito (...); em Seu esforo por
conhecer-se, o esprito produz, sucessivamente, todas as formas do real; pri-
meiro os quadros de seu pensamento, depois a natureza, depois a histria;
impossvel captar algumas das formas isoladamente, mas somente na evoluo
ou no desenvolvimento que as produz. (Brhier, 1977b, p. 149)
O grande movimento tridico, pois, expresso no sistema hegeliano,
toma como tese o Ser, entendido como "o conjunto dos caracteres lgicos e
pensveis que tem em si toda a realidade" (Brhier, 1977b, p. 155); como
anttese a Natureza, entendida como a exteriorizao do Ser nas coisas fsicas
e orgnicas e, finalmente, toma como sntese o Esprito, entendido como a
reinteriorizao do mundo exterior pelo Ser. Esse movimento se reproduz
dialeticamente, em cada um de seus momentos, ou seja, Ser, Natureza e Es-
prito contm em si a possibilidade de negar-se e superar-se, atingindo, assim,
outros estgios de seu prprio desenvolvimento.
Desse modo, "no interior do domnio do Ser, h um ser em si, um ser
para si ou manifestao do ser, que a Essncia (...) um ser voltado para si
que o conceito (...)" (Brhier, 1977b, p. 155). Portanto, o ser que se nega
e se supera se constitui Idia, "unidade absoluta do conceito e da objetivi-
dade" (Hegel, Enciclopdia das cincias filosficas, 213).
Ao negar-se, a Idia constitui-se Natureza, manifestando-se em seu
oposto, o que, nas palavras de Hegel, significa dizer que "a natureza a idia
absoluta, na forma da alteridade..." (Propedutique phijosophique, troisime
cours, 96).
Assim entendida, a Natureza o elemento mediador entre o Ser e o
Esprito. Em seu movimento tridico, a Natureza encontra sua superao no
momento em que, conquistada pelo Esprito, reconduzida ao plano da Idia.
"O vir-a-ser da natureza um vir-a-ser na direo do Esprito" (Hegel,
Propedutique philosophique, troisime cours, 96).
Finalmente, tambm o Esprito desenvolve-se, dialeticamente, por meio
dos estgios do movimento tridico - Esprito subjetivo, Esprito objetivo e
Esprito absoluto - que se apresentam como as mais elevadas etapas de de-
senvolvimento que a racionalidade humana pode atingir, em que se encontram
as atividades que permitem as mais altas realizaes espirituais: o direito, a
moral, a arte, a religio e, principalmente, a filosofia. Em outras palavras,
esse progresso do Esprito continua e se concluir atravs da histria dos ho-
mens. Cada povo, cada civilizao, de certo modo, tem por misso realizar
uma etapa desse progresso do Espirito. O Esprito humano de incio uma
conscincia confusa, um esprito puramente subjetivo, a sensao imediata.
Depois, ele consegue encamar-se, objetivar-se sob a forma de civilizaes, de
instituies organizadas. Tal o esprito objetivo que se realiza naquilo que
370
Hegel chama de "o mundo da cultura". Enfim, o Esprito se descobre mais
claramente na conscincia artstica e na conscincia religiosa para finalmente
apreender-se na Filosofia (...) como Saber Absoluto. (Vergez e Huisman, 1988,
pp. 276-277)
Depreende-se desse sistema o carter idealista da filosofia de Hegel, uma
vez que, para ele, a Idia no se confunde com o pensamento subjetivo,
confinado aos limites de cada indivduo. A Idia constitui-se a prpria rea-
lidade, na medida em que o mundo real nada mais que a exteriorizao
deliberada da Idia. Decorre da que o pensamento no depende das coisas,
mas estas que dependem dele. Marcuse (1978) lembra, a propsito, as
palavras do prprio Hegel: "Ainda no se havia percebido, desde que o Sol
se fixara no finnamento, os planetas girando sua volta, que a existncia
do homem tinha como centro a sua cabea, isto , o pensamento, sob cuja
inspirao se construiu o mundo da realidade" (p. 19).
Enquanto sistema filosfico que se props e se marcou por seu carter
idealista, sua importncia no se fez sentir apenas no pensamento alemo do
incio do sculo XIX, mas serviu de inspirao para outras correntes filos-
ficas que se desenvolveram posteriormente. A marca dessa influncia a
ruptura da unidade do hegelianismo, em duas tendncias opostas: a "direita"
e a "esquerda" hegelianas.
"direita" coube as interpretaes mais ortodoxas da obra de Hegel,
ou seja, aquelas que buscavam salientar aspectos do pensamento hegeliano
que justificassem as verdades da religio crist ou que permitissem derivar
posturas polticas conservadoras. A "esquerda" hegeliana, ao contrrio, en-
fatizava o papel crtico do pensamento de Hegel, retomando a proposta dia-
ltica para anlise das questes concretas que afetavam o homem da Alema-
nha da poca, o que, inclusive em alguns casos, significou a crtica do carter
teolgico da obra de Hegel.
Entre os mais conhecidos representantes da esquerda hegeliana encon-
tra-se Feuerbach (1804-1872). Embora tenha sido discpulo de Hegel, definiu
sua dissidncia em relao ao mestre ao buscar o desenvolvimento de uma
filosofia materialista. Crtico do cristianismo, suas obras geraram polmicas,
ao lado das de Bruno Bauer, outro representante da "esquerda" hegeliana.
Significativa ainda a influncia do pensamento hegeliano na formao
terica de pensadores como Marx e Engels - influncia reconhecida pelo
prprio Marx -, especialmente quando recuperam as categorias da dialtica
de Hegel.
A riqueza do sistema filosfico hegeliano revela-se nas polmicas que
gerou e que contriburam para a divulgao das idias de Hegel no apenas
no meio intelectual alemo, mas tambm em outros pases da Europa. Tal
371
difuso no significou sempre busca de fidelidade s idias originais do autor
e, por vezes, gerou crticas exacerbadas que levaram o hegelianismo a um
certo abandono.
No nosso sculo, a doutrina filosfica de Hegel retomada para ganhar
novo e significativo espao, graas ao existencialismo, que buscou nas obras
do jovem Hegel aspectos que emprestassem apoio sua doutrina; graas a
correntes teolgicas que se dedicam ao estudo e difuso das idias hege-
lianas; finalmente, graas ao reconhecimento da dimenso precisa da influn-
cia do pensamento dialtico de Hegel sobre o pensamento de Marx.
372
CAPITULO 21
H UMA O RDEM IMUTVEL NA NATUREZA E
O CO NHECIMENTO A REFLETE:
AUGUSTE CO MTE (1798-1857)
Amor por princpio e a Ordem por base; o Progresso por fim.
Comte
Auguste Comte nasceu na Frana (Montpellier) em 1798, vivu grande
parte da sua vida em Paris, onde morreu em 1857. Estudou na Escola Poli-
tcnica de Paris e medicina em Montpellier, mas no terminou nenhum dos
cursos, tendo feito boa parte de seus estudos por conta prpria. Durante sua
vida, tentou, mas no conseguiu, ser admitido como docente permanente na
Escola Politcnica. Desenvolveu vrias atividades para sobreviver; foi pro-
fessor particular, tutor, examinador da Escola Politcnica e, por vrios anos
(1817-1824), conviveu e foi secretrio de Saint Simon
1
com quem rompeu
por discordar do rumo que suas idias tomaram.
Comte publicou vrios livros e fez conferncias pblicas, bem como
conferncias a cientistas, que no lhe renderam dinheiro, mas que tinham
como objetivo tornar conhecida sua filosofia e arrebanhar-lhe adeptos. Foram,
em parte, esses objetivos que lhe garantiram o sustento, por meio de contri-
buies. Dentre essas conferncias, foram importantes as conferncias pbli-
cas de astronomia, destinadas ao pblico leigo (e aos trabalhadores, especial-
mente), que tinham a preocupao pedaggica de, por meio do estudo da
mais avanada das cincias, ensinar que o universo e a sociedade eram sub-
metidos a leis invariveis, eram ordenados. Tambm importantes foram as
conferncias que deram origem aos volumes assim igualmente intitulados
1 Saint Simon (1760-1825) foi um pensador francs que desenvolveu um conjunto de
idias sobre a organizao da sociedade baseada no governo dos sbios e cientistas, com
o objetivo de garantir uma sociedade industrial em que as condies materiais e espirituais
de todos fossem melhoradas. Seu sistema envolvia, tambm, uma proposta religiosa.
considerado um dos socialistas utpicos.
Curso de filosofia positiva, dirigidas a um pblico de cientistas e que tinham
como objetivo dar a conhecer a sua filosofia.
Em 1845, Comte conheceu Clotilde de Vaux que morreu um ano de-
pois, de quem se tornou amigo e que marcou profundamente seus ltimos
trabalhos. Atribui-se admirao de Comte a Clotilde de Vaux muitos dos
aspectos contidos na sua proposta de uma Religio da humanidade, como o
papel que a atribui mulher em geral, e a Clotilde (que ocupa lugar de
destaque nos ritos religiosos previstos) em particular.
Dentre seus livros publicados, destacam-se: Curso de filosofia positiva
(cujo primeiro volume foi publicado em 1830 e o sexto e ltimo em 1842),
Tratado elementar de geometria analtica (1843), Tratado filosfico de as-
tronomia popular (1844), A poltica positiva (1851-4), Catecismo positivo
(1854) e Sntese subjetiva ou sistema universal de idias sobre o estado
normal da humanidade (1856).
Comte vive na Frana num momento ps-revolucionrio, quando a bur-
guesia havia ascendido ao poder. Na primeira metade do sculo XIX, a luta
pela manuteno do poder, por parte da burguesia, e pela sua tomada, por
parte de uma crescente classe de trabalhadores, desencadeia no apenas uma
srie de convulses sociais e polticas, mas tambm um conjunto de ideolo-
gias e sistemas que tem por objetivo dar sustentao aos vrios setores em
luta.
Comte toma o partido da parcela mais conservadora da burguesia, que
defendia um regime ditatorial e no parlamentarista e que buscava criar as
condies para se fortalecer no poder e impedir quaisquer ameaas, identifi-
cadas com todas as tentativas democratizantes ou revolucionrias. Nesse sen-
tido, sua proposta de uma filosofia e de reforma das cincias tem como
objetivo sustentar essa ideologia, e suas idias de reforma da sociedade e at
de uma nova religio so coerentes com essa viso.
Apesar do pensamento de Comte parecer ser uma resposta s condies
histricas especficas do capitalismo francs do sculo XIX, os lemas posi-
tivistas que emergem do pensamento de Comte difundiram-se alm das fron-
teiras francesas, chegando a influenciar a poltica (e a sociedade) de pases
em situao histrica bastante diferente da Frana. Tal o caso do Brasil,
como o reconhecem no apenas autores brasileiros, mas, de uma maneira
geral, vrios estudiosos de Comte:
No fim dos anos 1840 uma Sociedade Positivista foi fundada e desde ento a
doutrina de Comte comeou a ganhar adeptos. De acordo com o prprio plano
de Comte, a Sociedade tornou-se mais e mais um tipo de religio secular com
seu prprio ritual; alguma coisa disto sobrevive at hoje na Frana, embora
tenha preservado sua maior fertilidade no Brasil. (Kolakowski, 1972, p. 63)
374
A seita religiosa praticamente no chega a se propagar na Frana. Mas o aml-
gama poltico ideolgico da religio positivista lanara razes na Amrica La-
tina: no Brasil, no Chile, no Mxico. A revoluo brasileira de 1889 ser obra
das seitas positivistas: desde ento a bandeira brasileira tem a divisa Ordem e
Progresso. Benjamin Constant, o ministro da Instruo Pblica nessa poca,
reforma o ensino de acordo com os pontos de vista de Comte. (Verdenal, 1974,
P- 234)
Apesar de ser discutvel (e isso tem sido analisado por autores brasi-
leiros) o peso do positivismo para o estabelecimento da Repblica no Brasil,
inegvel seu papel, pelo menos no que diz respeito influncia de alguns
homens que abraavam o positivismo e que foram importantes nesse mo-
mento histrico. Tal o caso de Benjamin Constant e dos militares brasileiros,
que estavam convencidos de que os ideais positivistas serviriam de modelo
s reformas polticas, sociais e econmicas que ento se processavam.
Maar (1981) afirma que, embora no se possa atribuir influncia deci-
siva ao movimento positivista ortodoxo na instalao da Repblica, as idias
positivistas influenciaram o seu estabelecimento e at, em alguns casos, al-
gumas medidas institucionais. Exemplo disto seria a constituio gacha de
1891 que estabelece, entre outras coisas, algumas medidas trabalhistas que
objetivavam "integrar" o trabalhador sociedade, a possibilidade de perma-
nncia indefinida no governo do chefe de estado e poderes muito limitados
assemblia. Maar lembra ainda que o iderio positivista esteve, e talvez
ainda esteja, presente no Brasil: nas idias que pregam a necessidade de um
estado forte, a necessidade dos militares como um poder moderador, nas
idias que apontam como desvios perigosos o no reconhecimento de uma
pretensa harmonia entre as classes sociais, nas idias que, portanto, acabam
por privilegiar a fora sobre a lei. E, acima de tudo, tais idias esto repre-
sentadas at hoje no lema da bandeira brasileira, O rdem e Progresso, que
ainda permeia muito a ideologia nacional.
Se as concepes polticas de Comte so indispensveis para se com-
preender a influncia que exerceu na elaborao de determinadas pos-
turas polticas, a influncia de sua obra no pensamento moderno e contem-
porneo no se restringe a tais concepes. Comte elabora, tambm, uma
proposta para as cincias, pretende ser o fundador de uma nova cincia, a
sociologia (termo que ele cunhou), e funda uma religio. A compreenso das
propostas de Comte e de sua influncia depende da compreenso de cada
um desses aspectos e, principalmente, do entendimento da totalidade de seu
pensamento.
Vrios estudiosos de Comte vem uma ruptura entre sua proposta para
a cincia e a proposta de uma religio como base de uma pretensa reforma
375
social. Acreditam que suas posies antimetafsicas e antiteolgicas, no que
se refere ao conhecimento cientfico, no so compatveis com sua proposta
de uma religio. Indubitavelmente, sua influncia posterior contou com adep-
tos que s assumiram seu cientificismo, e com seguidores que assumiram
toda sua proposta. No entanto, outros estudiosos de Comte enfatizaram que
esse fato (a aceitao apenas de suas idias a respeito da cincia) no revela,
em si, uma incoerncia no pensamento do prprio Comte (mas revelaria con-
dies histricas especficas a que estariam submetidos seus seguidores). Tais
estudiosos afirmam que suas propostas de reforma social e de uma "religio
da humanidade" so conseqncias necessrias que esto contidas em suas
propostas para a cincia; so o corolrio necessrio de suas crenas polticas;
de sua viso de histria como um progresso contnuo do conhecimento e do
esprito humano, progresso apenas possvel com e dentro de uma ordem ab-
soluta; e de sua viso de uma natureza absolutamente ordenada segundo leis
invariveis. Esses estudiosos vem, assim, as idias de Comte como um sis-
tema unitrio no qual, segundo Verdenal (1974),
em ltima anlise o positivismo a frmula filosfica que permite transmutar
a cincia em religio: a cincia, desembaraada de todo alm terico da espe-
culao, converte-se em religio despojada de perspectiva teolgica e reduzida
aos "fatos" da prtica religiosa: os ritos sociais, (p. 245)
A palavra "positivo" e os significados a ela associados marcam diver-
sos temas discutidos por Comte, como a histria, a filosofia, a cincia e a
religio.
Considerada de inicio em sita acepo mais antiga e comum, a palavra positivo
designa real, em oposio a quimrico. Desta tica convm plenamente ao
novo espirito filosfico, caracterizado segundo sua constante dedicao a pes-
quisas verdadeiramente acessveis a nossa inteligncia (...). Num segundo sen-
tido muito vizinho do precedente, embora distinto, esse termo fundamental
indica o contraste entre til e ocioso. Lembra, ento, em filosofia, o destino
necessrio de todas as nossas especulaes sadias para aperfeioamento con-
tnuo de nossa verdadeira condio individual ou coletiva, em lugar da v
satisfao de uma curiosidade estril. Segundo uma terceira significao usual
essa feliz expresso , freqentemente, empregada para qualificar a oposio
entre a certeza e a indeciso. Indica, assim, a aptido caracterstica de tal
filosofia para construir espontaneamente a harmonia lgica no indivduo, e a
comunho espiritual na espcie inteira, em lugar destas dvidas indefinidas e
destes debates interminveis que devia suscitar o antigo regime mental. Uma
quarta acepo ordinria, muitas vezes confundida com a precedente, consiste
em opor o preciso ao vago. Este sentido lembra a tendncia constante do
verdadeiro esprito filosfico a obter em toda aparte o grau de preciso com-
patvel com a natureza dos fenmenos e conforme as exigncias de nossas
376
verdadeiras necessidades (...).
preciso, enfim, observar especialmente uma quinta aplicao, menos usada
que as outras, embora igualmente universal, quando se emprega a palavra
positivo como contrria a negativo. Sob este aspecto, indica uma das mais
eminentes propriedades da verdadeira filosofia moderna, mostrando-a desti-
nada sobretudo, por sua prpria natureza, no a destruir, mas a organizar.
(Discurso sobre o esprito positivo, l
s
parte, VII)
Alm desses cinco atributos, Comte acrescenta mais um significado
ligado, embora no diretamente, palavra positivo, e que, para ele, deve
marcar tal pensamento.
O nico carter essencial do novo espirito filosfico, no ainda indicado di-
retamente pela palavra positivo, consiste em sua tendncia necessria a subs-
tituir, em todos os lugares, absoluto por relativo. (Discurso sobre o esprito
positivo, l
s
parte, VII)
Comte supe, no entanto, que o pensamento nem sempre foi marcado
por essas caractersticas. O pensamento positivo, que ele considera j existir,
no sculo XIX, em vrios ramos do conhecimento (e que o prprio Comte
acreditava estar trazendo para o ltimo ramo do conhecimento - a sociologia)
visto como fruto de uma longa histria do desenvolvimento do pensamento.
Esse desenvolvimento expressaria uma lei necessria de transformao do
esprito humano, que Comte chama de lei dos trs estados, segundo a qual,
numa sucesso necessria, o pensamento humano passaria por trs momentos,
trs formas de conhecimento, sendo caracterizado, em cada estado, por as-
pectos diferentes, at atingir, no seu ltimo momento, o estado positivo. Com-
te, embora expresse essa lei como absoluta, j que todas as reas do conhe-
cimento humano assim se desenvolveriam, no acredita que todas as reas
do conhecimento se desenvolvam concomitantemente e v nessa lei uma regra
da histria do desenvolvimento da humanidade e uma regra da histria do
desenvolvimento do indivduo.
Em outros termos, o espirito humano, por sua natureza, emprega sucessiva-
mente, e em cada uma das suas investigaes, trs mtodos de filosofar, cujo
carter essencialmente diferente e mesmo radicalmente oposto: primeiro, o
mtodo teolgico, em seguida, o mtodo metafsico, finalmente, o mtodo po-
sitivo. Dai trs sortes de filosofia, ou de sistemas gerais de concepes sobre
o conjunto de fenmenos, que se excluem mutuamente: a primeira o ponto
de partida necessrio da inteligncia humana; a terceira, seu estado fixo e
definitivo; a segunda, unicamente destinada a servir de transio.
No estado teolgico, o esprito humano, dirigindo essencialmente suas inves-
tigaes para a natureza ntima dos seres, as causas primeiras e finais de
todos os efeitos que o tocam, numa palavra, para os conhecimentos absolutos,
377
apresenta os fenmenos como produzidos pela ao direta e contnua de agen-
tes sobrenaturais mais ou menos numerosos, cuja interveno arbitrria ex-
plica todas as anomalias aparentes do universo.
No estado metafsico, que no fiaido nada mais do que simples modificao
geral do primeiro, os agentes ^sobrenaturais so substitudos por foras abs-
tratas, verdadeiras entidades (abstraes personificadas) inerentes aos diver-
sos seres do mundo, e concebidas como capazes de engendrar por elas
prprias todos os fenmenos observados, cuja explicao consiste, ento, em
determinar para cada um uma entidade correspondente.
Enfim, no estado positivo, o espirito humano, reconhecendo a impossibilidade
de obter noes absolutas, renuncia a procurar a origem e o destino do uni-
verso, a conhecer as causas ntimas dos fenmenos, para preocupar-se unica-
mente em descobrir, graas ao uso bem combinado do raciocnio e da
observao, suas leis efetivas, a saber, as relaes invariveis de sucesso e
de similitude. A explicao dos fatos, reduzidas ento a seus termos reais, se
resume de agora em diante na ligao estabelecida entre os diversos fenme-
nos particulares e alguns fatos gerais, cujo nmero o progresso da cincia
tende cada vez mais a diminuir.
O sistema teolgico chegou mais alta perfeio de que suscetvel quando
substituiu, pela ao providencial de um ser nico, o jogo variado de nume-
rosas divindades independentes, que primitivamente tinham sido imaginadas.
Do mesmo modo, o ltimo termo do sistema metafsico consiste em conceber,
em lugar de diferentes entidades particulares, uma nica grande entidade ge-
ral, a natureza, considerada como fonte exclusiva de todos os fenmenos. Pa-
ralelamente, a perfeio do sistema positivo qual este tende sem cessar,
apesar de ser muito provvel que nunca deva atingi-la, seria poder representar
todos os diversos fenmenos observveis como casos particulares dum nico fato
geral, como a gravitao o exemplifica. (Curso de filosofia positiva, 1* lio, II)
A lei dos trs estados carrega consigo, ou expressa, uma concepo de
histria. Comte fundamenta suas noes da positiva filosofia e do esprito
positivo na noo de que esse estado decorrncia de uma evoluo histrica.
Essa evoluo vista por ele como o desenvolvimento do esprito e do co-
nhecimento, e, apenas como conseqncia dessa transformao, desenvol-
vem-se, ento, as condies materiais e as instituies sociais. A histria
vista como uma evoluo necessria, no sentido de que os vrios estgios e
momentos tm de ser preenchidos necessariamente, e como uma evoluo
linear que implica sempre a superposio, o melhoramento, mas, jamais, rup-
turas, revolues. A histria, tambm, para Comte, percorre um caminho que
predeterminado no sentido de que cada estado leva ao outro e no sentido
de que seu fim est, tambm, desde o incio estabelecido.
O esprito positivo, em virtude de sua natureza eminentemente relativa, o
nico a poder representar convenientemente todas as grandes pocas histricas.
378
como tantas fases determinadas duma mesma evoluo fundamental, onde cada
uma resulta da precedente e prepara a seguinte, segundo leis invariveis que
fixam sua participao especial na progresso comum, de maneira a sempre
permitir, sem maior inconseqncia do que parcialidade, fazer exata justia
filosfica a qualquer sorte de cooperao. {Discurso sobre o esprito positivo,
2
8
parte, X)
A histria vista, assim, como um conjunto de fases imveis em si
mesmas, que num contnuo se substituem umas s outras, de forma que cada
estgio superior ao anterior, decorrncia necessria deste e preparao, tam-
bm necessria, para o prximo estgio, at que se chegue, finalmente, ao
estado superior.
Sob outro aspecto, considera sempre o estado presente como resultado neces-
srio do conjunto da evoluo anterior, de modo afazer constantemente pre-
valecer a apreciao racional do passado no exame atual dos negcios
humanos - o que logo afasta as tendncias puramente crticas, incompatveis com
toda sadia concepo histrica. (Discurso sobre o esprito positivo, 2
a
parte, X)
A histria transforma-se num desenrolar que guiado por dois princ-
pios bsicos. O princpio de ordem - de uma transformao ordenada e or-
deira, que no comporta transformaes violentas, que no comporta saltos,
que flui num contnuo. E o princpio do progresso - a transformao que
ocorre no desenrolar da histria uma transformao que leva a melhora-
mentos lineares e cumulativos. Nesse sentido, a histria que se resume ao
desenvolvimento, ao progresso linear e segundo uma ordem preestabelecida
e que nada mais que o desenvolvimento do esprito e do pensamento se-
gundo leis tambm preestabelecidas explicada (e compreendida) pela mera
apresentao de suas fases. Nessa viso de histria cabe ao homem apenas
o papel de resignao: preciso aguardar o desenvolvimento e aguard-lo
respeitando sua ordem natural, seu tempo, seus limites, num processo de
espera que , ele tambm, ordeiro.
Para a nova filosofia, a ordem constitui sem cessar a condio fundamental
do progresso e, reciprocamente, o progresso vem a ser a meta necessria da
ordem; como no mecanismo animal, o equilbrio e a progresso so mutua-
mente indispensveis, a titulo de fundamento ou destinao. (Discurso sobre
o espirito positivo, 2- parte, X)
Esses dois princpios, de ordem e de progresso, so inseparveis entre
si: "() o progresso constitui, como a ordem, uma das duas condies
fundamentais da civilizao moderna " (Discurso sobre o esprito positivo,
2- parte, IX), eles permeiam no apenas a viso de histria e a concepo
de sociedade de Comte, mas tambm sua concepo de cincia.
379
Ao discutir o conhecimento no seu estgio positivo, Comte erige o
conhecimento que cientfico no conhecimento real, til, preciso, certo, po-
sitivo e, nesse sentido, o erige no conhecimento que o homem deve buscar
para que possa no apenas reconhecer a ordem da natureza, mas, tambm,
nela interferir em seu benefcio. Trata-se, ento, de discutir quais as bases
desse conhecimento. E Comte encontra esses fundamentos nos fatos, afir-
mando que o conhecimento cientfico real porque o conhecimento cientfico
parte do real, parte dos fatos tal como se apresentam e que, de resto, apre-
sentam-se ao homem tal como so. Para ele, no se podem discutir os me-
canismos que permitem ao homem conhecer (e tal discusso no passaria de
um retorno teologia ou metafsica). Tudo o que se pode estudar so as
condies orgnicas - fisiologia, anatomia - que levam ao conhecimento e os
"processos realmente empregados para obter os diversos conhecimentos exa-
tos que (o homem) j adquiriu" {Curso de filosofia positiva, \- lio, VIII).
Assim, para Comte, trata-se de descobrir que mtodos os homens tm
empregado para chegar ao conhecimento, para, desses mtodos, extrair sua
base correta. Comte descobre essa base metodolgica nos fatos, agora des-
providos de quaisquer roupagens que o obrigue a discuti-los em sua relao
com o sujeito que produz conhecimento.
Todos os bons espritos repetem, desde Bacon, que somente so reais os co-
nhecimentos que repousam sobre fatos observados. Essa mxima fundamental
evidentemente incontestvel, se for aplicada, como convm, ao estado viril
de nossa inteligncia. {Curso de filosofia positiva, l
s
lio, EI)
Circunscreve seus esforos ao domnio, que agora progride rapidamente, da
verdadeira observao, nica base possvel de conhecimentos verdadeiramente
acessveis, sabiamente adaptados a nossas necessidades reais. A lgica espe-
culativa tinha at ento consistido em raciocinar, de maneira mais ou menos
sutil, conforme princpios confusos que, no comportando qualquer prova su-
ficiente, suscitavam sempre debates sem sada. Reconhece de agora em diante,
como regra fundamental, que toda proposio que no seja estritamente redu-
tvel ao simples enunciado de um fato, particular ou geral, no pode oferecer
nenhum sentido real e inteligvel. Os princpios que emprega so apenas fatos
verdadeiros, somente mais gerais e mais abstratos do que aqueles dos quais
deve formar o elo. Seja qual for, porm, o modo, racional ou experimental,
de proceder sua descoberta, sempre de sua conformidade, direta ou indi-
reta, com os fenmenos observados que resulta exclusivamente sua eficcia
cientfica. {Discurso sobre o esprito positivo, l
s
parte, III)
Comte, entretanto, no supe que a mera acumulao de fatos leve
cincia e, fazendo o que acredita ser uma crtica ao empirismo, assume que
os fatos acumulados, que so a base e a origem do conhecimento, s se
380
transformam em conhecimento cientfico porque o homem os relaciona a
hipteses, por meio do raciocnio. Assim, para ele, os fatos so acumulados
pela observao, mas essa observao submetida imaginao que permite
relacionar tais fatos; relacion-los para que se estabeleam as leis gerais e
invariveis a que esses esto submetidos.
A pura imaginao perde assim, irrevogavelmente, sua antiga supremacia men-
tal, e se subordina necessariamente observao, de maneira a constituir um
estado lgico plenamente normal, sem cessar, entretanto, de exercer, nas es-
peculaes positivas, ofcio capital e inesgotvel, para criar ou aperfeioar os
meios de ligao definitiva ou provisria. Numa palavra, a revoluo funda-
mental, que caracteriza a virilidade de nossa inteligncia, consiste essencial-
mente em substituir em toda parte a inacessvel determinao das causas
propriamente ditas pela simples pesquisa das leis, isto , relaes constantes
que existem entre os fenmenos observados. Quer se trate dos menores quer
dos mais sublimes efeitos, do clwque ou da gravidade, do pensamento ou da
moralidade, deles s podemos conhecer as diversas ligaes mtuas prprias
sua realizao, sem nunca penetrar no mistrio de sua produo. (Discurso
sobre o esprito positivo, I
a
parte, III)
O conhecimento cientfico , portanto, para Comte, baseado na obser-
vao dos fatos e nas relaes entre fatos que so estabelecidas pelo racio-
cnio. Essas relaes excluem tentativas de descobrir a origem, ou uma causa
subjacente aos fenmenos, e so, na verdade, a descrio das leis que os
regem. Comte afirma: "Nossas pesquisas positivas devem essencialmente re-
duzir-se, em todos os gneros, apreciao sistemtica daquilo que , re-
nunciando a descobrir sua primeira origem e seu destino final" (Discurso
sobre o esprito positivo, I
a
parte, III).
As leis dos fenmenos devem traduzir, necessariamente, o que ocorre
na natureza e, como dogma, Comte parte do princpio de que tais leis so
invariveis.
Para Comte, o conhecimento cientfico seria constitudo por um con-
junto de leis: "Ato leis dos fenmenos consiste realmente a cincia (...)"
(Discurso sobre o esprito positivo, l
8
parte, III). A descoberta das leis tem
por objetivo bsico satisfazer a curiosidade humana
(...) as cincias possuem, antes de tudo, destinao mais direta e elevada, a
saber, a de satisfazer a necessidade fundamental sentida por nossa inteligncia,
de conhecer as leis dos fenmenos. (Curso de filosofia positiva, l
s
lio, III)
Alm desse objetivo fundamental do conhecimento positivo, este deve,
tambm, ser til: "(...) cincia, da previdncia: previdncia, da ao" (Cur-
so de filosofia positiva, I
a
lio, III).
381
Esses aspectos relativos ao conhecimento cientfico so, assim, expli-
citados pelo prprio Comte:
Ora, considerando a destinao constante dessas leis, pode-se dizer, sem exa-
gero algum, que a verdadeira cincia, longe de ser formada por simples ob-
servaes, tende sempre a dispensar, quanto possvel, a explorao direta,
substituindo-a por essa previso racional que constitui, sob todos os aspectos,
o principal carter do esprito positivo, como o conjunto dos estudos astro-
nmicos nos far sentir claramente. Tal previso, conseqncia necessria das
relaes constantes descobertas entre os fenmenos, no permitir nunca con-
fundir a cincia real com essa v erudio, que acumula maquinalmente fatos
sem aspirar a deduzi-los uns dos outros. Esse grande atributo de todas as
nossas especulaes sadias no interessa menos sua utilidade efetiva do que
sua prpria dignidade; pois a explorao direta dos fenmenos acontecidos
no bastar para nos permitir modificar-lhes o acontecimento, se no nos
conduzisse a prev-los convenientemente. Assim, o verdadeiro esprito positivo
consiste, sobretudo, em ver para crer, em estudar o que , afim de concluir
disso o que ser, segundo o dogma geral da invariabilidade das leis naturais.
(Discurso sobre o esprito positivo, 1 * parte, III)
O conhecimento cientfico positivo, que estabelece as leis que regem
os fenmenos de forma a refletir o modo como tais leis operam na natureza,
tem, para Comte, ainda, duas caractersticas: um conhecimento sempre cer-
to, no se admitindo conjecturas, e um conhecimento que sempre tem algum
grau de preciso, embora esse grau varie de cincia para cincia, dependendo
do seu objeto de estudo. Assim, Comte refora a noo de que o conheci-
mento cientfico um conhecimento que no admite dvidas e indetermina-
es e o desvincula de todo conhecimento especulativo.
Se, conforme a explicao precedente, as diversas cincias devem necessaria-
mente apresentar uma preciso muito desigual no resulta da, de modo algum,
sua certeza. Cada uma pode oferecer resultados to certos como qualquer
outra, desde que saiba encerrar suas concluses no grau de preciso que os
fenmenos correspondentes comportam, condio nem sempre fcil de cumprir.
Numa cincia qualquer, tudo o que simplesmente conjectura! apenas mais
ou menos provvel, no est a seu domnio essencial; tudo o que positivo,
isto , fundado em fatos bem constatados, certo - no h distino a esse
respeito. (Curso de filosofia positiva, 2
S
lio, XI)
No entanto, embora assumindo que o conhecimento cientfico certo,
Comte o afirma, tambm, relativo. O conhecimento relativo porque os ho-
mens s o alcanam na medida de suas possibilidades, isto , limitados pelo
seu aparato sensorial, que no lhes permite a tudo perceber, a tudo observar.
relativo, ainda, porque, para Comte, o conhecimento, medido por sua uti-
lidade, transforma-se e incorpora novos conhecimentos, levando, assim, a seu
382
desenvolvimento, permitindo ao homem sua utilizao mais ampla e a des-
crio de mais fatos; embora no lhe permita descrever tudo o que h.
(...) importa, ademais, sentir que esse estudo dos fenmenos, ao invs de poder
de algum modo tornar-se absoluto, deve sempre permanecer relativo nossa
organizao e nossa situao. Reconhecendo, sob esse duplo aspecto, a im-
perfeio necessria de nossos diversos meios especulativos, percebe-se que,
longe de poder estudar completamente alguma existncia efetiva, de modo
algum poderamos garantir a possibilidade de constatar assim, ainda que mui-
to superficialmente, todas as existncias reais, cuja maior parte talvez deva
nos escapar totalmente. Se a perda de um sentido importante basta para nos
esconder radicalmente uma ordem inteira de fenmenos naturais, cabe pensar,
reciprocamente, que a aquisio de um sentido novo nos desvendaria uma
classe de fatos, de que no temos agora idia alguma, a menos de crer que
a diversidade dos sentidos, to diferentes entre os principais tipos de anima-
lidade, se encontre levada, em nosso organismo, ao mais alto grau que possa
exigir a explorao total de nosso mundo exterior, suposio evidentemente
gratuita e quase ridicida.
(...) Se portanto, sob o primeiro aspecto, se reconhece que nossas especulaes
devem sempre depender das diversas condies essenciais de nossa existncia
individual, preciso igualmente admitir, sob o segundo, que no esto menos
subordinadas ao conjunto da progresso social, de maneira a nunca poder
comportar essafixidez absoluta que os metafsicos supuseram. Ora, a lei geral
do movimento fundamental da Humanidade consiste, a esse respeito, em que
nossas teorias tendem, cada vez mais, a representar exatamente os assuntos
exteriores de nossas constantes investigaes, sem que entretanto a verdadeira
constituio de cada um deles possa, em caso algum, ser plenamente aprecia-
da. A perfeio cientfica deve limitar-se aproximao desse limite ideal,
tanto quanto o exigem nossas diversas necessidades reais. (Discurso sobre o
esprito positivo, l
s
parte, III)
interessante notar que a defesa do carter relativo do conhecimento
parece incoerente com outras afirmaes de Comte. Ao discutir as caracte-
rsticas do aparato sensorial dos homens, Comte introduz a presena do su-
jeito que produz o conhecimento. E esta uma questo que Comte explici-
tamente afirma querer evitar, uma vez que abre a discusso sobre o papel da
subjetividade na produo de conhecimento. O outro aspecto apontado por
Comte como constituindo o carter relativo do conhecimento, que a trans-
formao que o conhecimento, sofre no sentido de seu aprimoramento, parece
indicar os limites que o termo relativo tem na concepo de Comte: ao afirmar
a relatividade do conhecimento, apelando para sua transformao e desen-
volvimento no decorrer da histria, Comte, num certo sentido, absolutiza o
conhecimento porque supe esse desenvolvimento como linear e sempre pro-
gressivo.
383
Mais do que isto, segundo Brhier (1977b) e Kolakowski (1972), o
reconhecimento de que o conhecimento cientfico relativo s necessidades
cotidianas o que permite a Comte retirar do conjunto do conhecimento
cientfico os resultados que lhe parecem incompatveis com aquilo que ele
acredita ser a ordem da natureza que tais conhecimentos deveriam expressar.
Comte recusa-se, por exemplo, a aceitar a teoria da evoluo, j que esta
impede classificaes permanentes. Brhier afirma: "Comte condena estas
pesquisas como sendo contrrias positividade verdadeira (...) as pesquisas
que podem ser feitas fora dos limites da experincia corrente so inteis e,
ademais, infinitas" (p. 264).
Kolakowski (1972) vai alm e afirma:
Aquelas reas do mundo que permitem apenas classificaes fluidas, que re-
velam transies qualitativas continuas ou quaisquer caractersticas enigmti-
cas, perturbam-no e irritam-no (...). Comte um fantico no que diz respeito
busca de uma ordem definitiva e eterna, (p. 77)
A noo de ordem remete noo de organizao e aqui se chega a
uma ltima caracterstica dentre as levantadas por Comte como pertencentes
ao pensamento positivo e, portanto, pertencentes tambm, inevitavelmente,
cincia. nesse sentido que se deve compreender a afirmao de Comte de
que o pensamento positivo se ope ao negativo ( crtica) porque busca no
destruir, mas organizar. Para organizar o conhecimento necessrio supor
uma ordem preexistente; mais que isto, a ordem do conhecimento deve supor,
por princpio, uma ordem, tambm, na prpria natureza. A natureza com-
posta, para ele, por classes de fenmenos ordenados de forma imutvel e
inexorvel e cabe cincia, apenas, apreender e descrever tal ordem.
(...) todos os acontecimentos reais, compreendendo os de nossa prpria exis-
tncia individual e coletiva, esto sempre sujeitos a relaes naturais de su-
cesso e de similitude essencialmente independentes de nossa interveno. (...)
Embora essa ordem tenha sido ignorada por muito tempo, seu imprio inevi-
tvel nem por isso deixou de tender a regular, sem que quisssemos, toda
nossa existncia, primeiro, ativa, e, em seguida, contemplativa ou mesmo afe-
tiva. Na medida em que a conhecemos, nossas concepes se tomaram menos
vagas, nossas inclinaes menos caprichosas, nossa conduta menos arbitrria.
Desde que aprendemos seu conjunto, tende a regularizar, em todos os gneros,
a sabedoria humana, apresentando sempre nossa economia artificial como um
judicioso prolongamento dessa irresistvel economia natural. Esta preciso
estudar e respeitar, para chegar a aperfeio-la. Mesmo naquilo que nos ofe-
rece de verdadeiramente fatal, isto , de no modificvel, essa ordem exterior
indispensvel para a direo de nossa existncia, a despeito das recrimina-
es artificiais de tantas inteligncias orgulhosas. (...) Incapazes de criar, s
sabemos modificar, em nosso proveito, uma ordem essencialmente superior
384
nossa influncia. Supondo possvel a independncia absoluta, sonhada pelo
orgulho metafsico, percebemos logo que, longe de melhorar nosso destino,
ela impediria todo florescimento real de nossa existncia, at mesmo privada.
(Discurso preliminar sobre o conjunto do positivismo, p. 110)
Esses trechos deixam clara a completa recusa de Comte em admitir
a indeterminao ou acaso em qualquer fenmeno da natureza, e Comte
afirma ser
(...) aberrao radical de quase todos os gemetras atuais (...) o pretenso
clculo do acaso, em que se supe necessariamente que os fatos correspon-
dentes no seguem lei alguma. (Discurso preliminar sobre o conjunto do po-
sitivismo, p. 109)
Entretanto, Comte supe graus de possibilidade diferentes do homem
intervir nessa natureza rigidamente ordenada. Essa possibilidade maior em
relao aos fenmenos referentes existncia do homem (individual ou co-
letiva) e menor em relao aos fenmenos no diretamente vinculados exis-
tncia humana, chegando a zero na astronomia, que diz respeito aos fen-
menos mais gerais da natureza e, tambm, mais distantes do homem. Porm,
mesmo as modificaes possveis no passam, para Comte, de modificaes
secundrias nos fenmenos, j que no criam uma nova ordem e no podem
alterar a lei que rege os fenmenos. Por isto, Comte enfatiza e critica a falsa
noo que essas transformaes secundrias freqentemente geram. A noo
de que, se possvel controlar e transformar fenmenos, estes no seriam,
ento, sujeitos a leis imutveis. Partindo dessas noes de ordem na natureza
e da imutabilidade de suas leis e de uma conseqente ordenao do conhe-
cimento, Comte prope uma classificao para as cincias. Essa classificao
est fundamentada no que concebe como sendo o objetivo das cincias - o
estabelecimento das leis que regem os fenmenos - e que, para Comte, no
pode ser confundida com o objetivo das artes (da tecnologia) de buscar apli-
cao prtica imediata para o conhecimento.
E, pois, evidente que, depois de ter concebido, de maneira geral, o estudo da
natureza como servindo de base racional ao sobre ela, o esprito humano
deva proceder a pesquisas tericas, fazendo completamente abstrao de toda
considerao prtica; porquanto nossos meios para descobrir a verdade so
de tal modo fracos que, se no os concentrssemos exclusivamente neste fim,
se, na procura desta verdade nos impusssemos, ao mesmo tempo, a condio
estranlia de encontrar nela uma utilidade prtica imediata, quase nos seriam
sempre impossvel chegar a ela. (Curso de filosofia positiva, 2- lio, III)
A partir desse suposto, Comte estabelece uma diviso entre "cincias
abstratas", que ele considera fundamentais, e as "cincias concretas":
385
E preciso distinguir, em relao a todas as ordens de fenmenos, dois gneros
de cincias naturais: umas, abstratas, gerais, tendo por objeto a descoberta
das leis que regem as diversas classes de fenmenos e que consideram todos
os casos possveis de conceber; outras, concretas, particulares, descritivas,
designadas algumas vezes sob o nome de cincias naturais propriamente ditas,
e que consistem na aplicao dessas leis histria efetiva dos diferentes seres
existentes. As primeiras so, pois, fundamentais, sendo a elas que neste curso
nossos estudos se limitaro. As outras, seja qual for sua importncia, so de
fato apenas secundrias e no devem, por conseguinte, fazer parte dum tra-
balho cuja extenso extrema nos obriga a reduzir ao mnimo seu desenvolvi-
mento possvel. (Curso de filosofia positiva, 2
S
lio, IV)
Para as cincias fundamentais, e segundo uma ordem que da prpria
natureza, Comte estabelece uma classificao que obedece ao grau de sim-
plicidade e generalidade do objeto a que cada cincia fundamental se refere.
Assim, sua classificao se inicia com as cincias que se ocupam dos fen-
menos mais simples e mais distantes dos homens e que so, tambm, os mais
gerais. O s fenmenos mais simples e mais gerais influenciam os mais parti-
culares e mais complexos e, por isto, o conhecimento destes supe o conhe-
cimento necessrio dos primeiros. Essa ordenao se constitui, para Comte,
numa hierarquia rgida e que tem uma s direo, no havendo a possibilidade
de que os fenmenos mais particulares, como, por exemplo, os fenmenos
qumicos, exeram qualquer influncia sobre fenmenos mais gerais, como,
por exemplo, os fenmenos fsicos.
Num primeiro momento, Comte hierarquiza cinco cincias fundamen-
tais, com o intuito de esclarecer e aplicar seus critrios de classificao:
Como resultado dessa discusso, a filosofia positiva se encontra, pois, natu-
ralmente dividida em cinco cincias fundamentais, cuja sucesso determinada
pela subordinao necessria e invarivel, fundada, independentemente de
toda opinio hipottica, na simples comparao aprofundada dos fenmenos
correspondentes: a astronomia, a fsica, a qumica, a filosofia e, enfim, a fsica
social. A primeira considera os fenmenos mais gerais, mais simples, mais
abstratos e mais afastados da humanidade, e que influenciam todos os outros
sem serem influenciados por estes. Os fenmenos considerados pela ltima
so, ao contrrio, os mais particulares, mais complicados, mais concretos e
mais diretamente interessantes para o homem; dependem, mais ou menos, de
todos os precedentes, sem exercer sobre eles influncia alguma. Entre esses
extremos, os graus de especialidade, de complicao e de personalidade dos
fenmenos vo gradualmente aumentando, assim como sua dependncia su-
cessiva. Tal a ntima relao geral que a verdadeira observao filosfica,
convenientemente empregada, ao contrrio de vs distines arbitrrias, nos
conduz a estabelecer entre as diversas cincias fundamentais. Este deve ser,
portanto, o plano deste curso. (Curso de filosofia positiva, 2
8
lio, X)
386
A essas cinco cincias, acrescenta, ento, uma sexta, que vem a ser a
base para todas as outras cincias fundamentais.
E, de resto, evidente que, colocando a cincia matemtica no topo da filosofia
positiva, apenas estamos estendendo ainda mais a aplicao desse princpio
de classificao, fundado na dependncia sucessiva das cincias, resultante do
grau de abstrao de seus fenmenos respectivos. (...) V-se que os fenmenos
geomtricos e mecnicos so, entre todos, os mais gerais, os mais simples, os
mais abstratos, os mais irredutveis e os mais independentes de todos os outros,
de que constituem, ao contrrio, a base. (...) Como resultado definitivo temos
a matemtica, a astronomia, a fsica, a qumica, afisiologia, e a fsica social;
tal a frmula enciclopdica que, dentre o grande nmero de classificaes
que comportam as seis cincias fundamentais, a nica logicamente conforme
hierarquia natural e invarivel dos fenmenos. No preciso lembrar a im-
portncia desse resultado, com que o leitor deve familiarizar-se para dele
fazer, em toda a extenso deste curso, uma aplicao contnua. (Curso de
filosofia positiva, 2
S
lio, XII)
Uma ltima caracterstica significativa da proposta de Comte para a
cincia sua defesa de que todas as cincias devem se utilizar de um mtodo
nico.
A unidade do mtodo no significa que Comte defenda que todas as
cincias devam se submeter aos mesmos procedimentos de investigao; ao
contrrio, procedimentos especficos so vistos como adaptados estreitamente
aos objetos a que se referem, assim, por exemplo, a qumica deve utilizar da
experimentao, enquanto a biologia deve utilizar da comparao e classifi-
cao. Essa unidade se refere, para Comte, aplicao da filosofia positiva
a todos os ramos do conhecimento, e, nesse sentido, pode-se entender como
unidade do mtodo a aplicao de procedimentos que levem descoberta e
descrio das leis que regem os fenmenos, a partir dos fatos e do raciocnio
que permitem relacion-los segundo essas leis, a fim de alcanar um conhe-
cimento positivo que, como j foi dito, deve sen real, til, certo, preciso,
que busca organizar e no destruir e que relativo,
A nica unidade indispensvel a unidade do mtodo, que pode e deve evi-
dentemente existir e j se encontra, na maior parte, estabelecida. Quanto
doutrina, no necessrio ser una, basta que seja homognea. E, pois, sob o
duplo ponto de vista da unidade dos mtodos e da homogeneidade das dou-
trinas que consideraremos, neste curso, as diferentes classes de teorias posi-
tivas. Tendendo a diminuir o mais possvel, o nmero das leis gerais
necessrias para a explicao positiva dos fenmenos naturais, o que , com
efeito, a meta filosfica da cincia, consideraremos entretanto, como temerrio
aspirar um dia, ainda que para um futuro muito afastado, a reduzi-las rigo-
rosamente a uma s. (Curso de filosofia positiva, 1* lio, X)
387
A garantia de uma unidade do mtodo a todas as cincias est associada
ao que Comte talvez considere seu grande empreendimento: a criao de uma
fsica social, ou uma sociologia, ou seja, a criao de uma cincia que se
ocuparia da explicao da sociedade, possvel pela aplicao do mesmo m-
todo j empregado nas outras cincias.
Eis a grande mas, evidentemente, nica lacuna que se trata de preencher para
constituir a filosofia positiva. J agora que o esprito humano fundou a fsica
celeste; a fsica terrestre, quer mecnica, quer qumica; a fsica orgnica, seja
vegetal, seja animal, resta-lhe, para terminar o sistema das cincias de obser-
vao, fundar a fsica social. Tal hoje, em vrias direes capitais, a maior
e mais urgente necessidade de nossa inteligncia. Tal , ouso dizer, o primeiro
objetivo deste curso, sua meta especial. {Curso de filosofia positiva, l
s
lio, VI)
Essa meta que Comte se coloca, a criao de uma nova cincia - a da
sociedade -, implica uma viso de sociedade e um conjunto de propostas
para ela.
Assim como ocorre com as outras cincias que se ocupam de fatos que
so regidos por leis naturais e imutveis, tambm a sociedade vista, por
Comte, como governada por leis que so imutveis em si mesmas e que so
independentes da vontade dos indivduos ou do coletivo.
Essas leis, que so da mesma natureza das que governam a fsica ou
a biologia, so, no entanto, leis prprias e particulares aos fenmenos
sociais. Estes so vistos como fenmenos mais complexos, como fenme-
nos regidos por suas prprias leis que no se constituem em mera extenso
de outras, como da fisiologia, por exemplo. A fisiologia, que estuda os indiv-
duos, no substitui o estudo da sociedade, embora fundamente esse estudo.
Em todos os fenmenos sociais observa-se, primeiramente, a influncia das
leis fisiolgicas do indivduo e, ademais, alguma coisa de particular que mo-
difica seus efeitos e que provm da ao dos indivduos uns sobre os outros,
algo que se complica particularmente na espcie humana por causa da ao
de cada gerao sobre aquele que lhe segue. E, pois evidente que, para estudar
convenientemente os fenmenos sociais, preciso partir de incio do conheci-
mento aprofundado das leis relativas vida individual. Por outro lado, essa
subordinao necessria dos dois estudos no prescreve, de modo algum, como
certos fisiologistas de primeira ordem foram levados a crer, a necessidade de
ver na fsica social simples apndice da fisiologia. A despeito de os fenmenos
serem por certo homogneos, no so idnticos, e a separao das duas cin-
cias duma importncia verdadeiramente fundamental. Pois seria impossvel
tratar o estudo coletivo da espcie como pura deduo do estudo do indivduo,
porquanto as condies sociais, que modificam a ao das leis fisiolgicas,
constituem precisamente a considerao mais essencial. Assim, a fsica social
deve fundar-se num corpo de observaes diretas que l/ie seja prprio, aten-
388
tando, como convm, para sua ntima relao necessria com a fisiologia
propriamente dita (Curso de filosofia positiva, 2- lio, IX)
Comte faz, tambm, uma distino entre o indivduo e o coletivo. Ca-
racteriza o homem como ser inteligente e dotado de sociabilidade (o que o
diferencia dos animais) e reivindica para o coletivo, para o grupo social, uma
superioridade perante o indivduo. dessa concepo que decorre sua noo
de que os homens, enquanto indivduos numa sociedade, existem como subs-
titutos efmeros de outros indivduos e que, como tal, tm importncia, ape-
nas, como perpetuadores da espcie. esse carter, o de um grupo constan-
temente modificado pela substituio de indivduos particulares, mas que se
perpetua e que permanece essencialmente o mesmo (apesar dos indivduos
particulares) por garantir a sobrevivncia da espcie e por submeter-se s
mesmas leis naturais, que garante, de um lado, a superioridade do coletivo
sobre o individual, de outro lado, a preocupao da sociologia com o grupo
social, e de outro, ainda, a noo de que os objetivos a serem alcanados
pela sociedade so os objetivos relevantes ao grupo e no ao indivduo. Ade-
mais, isto leva noo de que, no verdadeiro esprito positivo, a felicidade
individual obtida pela felicidade do grupo.
O esprito positivo, ao contrrio, diretamente social, tanto quanto possvel,
e sem nenhum esforo, precisamente por causa de sua realidade caracterstica.
Para ele, o liomem propriamente dito no existe, existindo apenas a humani-
dade, j que nosso desenvolvimento provm da sociedade, a partir de qualquer
perspectiva que se o considere. Se a idia de sociedade parece ainda uma
abstrao de nossa inteligncia, sobretudo em virtude do antigo regime fi-
losfico, porquanto, a bem dizer, idia de indivduo que pertence tal ca-
rter, ao menos em nossa espcie. O conjunto da nova filosofia sempre tender
a salientar, tanto na vida ativa quanto na vida especulativa, a ligao de cada
um a todos, sob uma multido de aspectos diferentes, de maneira a tornar
involuntariamente familiar o ntimo sentimento de solidariedade social, con-
venientemente desdobrado para todos os tempos e todos os lugares. No so-
mente a ativa procura do bem pblico ser, sem cessar, considerada como o
modo mais prprio de assegurar comumente a felicidade privada, graas a
uma influncia ao mesmo tempo mais direta e mais pura e, finalmente, mais
eficaz; o mais completo exerccio possvel das tendncias gerais tornar-se- a
principal fonte da felicidade pessoal, ainda que no devesse trazer excepcio-
nalmente outra recompensa alm de uma inevitvel satisfao interior. (Dis-
curso sobre o espirito positivo, 2* parte, XV)
Para Comte, o desenvolvimento da humanidade, que passa pelos trs
estados (o teolgico, o metafsico e o positivo), resume-se, essencialmente,
no desenvolvimento do esprito, do conhecimento. Nesse desenvolvimento,
as estruturas bsicas da sociedade - a famlia, a propriedade, a religio, a
linguagem, a relao do poder espiritual e do poder temporal (Brhier, 1977b,
389
p. 267) - mantm-se, fundamentalmente, inalteradas. Essas estruturas so
consideradas definitivas e bsicas em qualquer estgio do desenvolvimento
social, s ocorrendo, na passagem de um momento a outro, aperfeioamentos
em cada uma delas. Assim, mais uma vez, Comte subordina a dinmica a
uma esttica, subordina o progresso ordem; o progresso um mero deslo-
camento, um mero aperfeioamento de estruturas que so perenes e imutveis.
A sociologia caracteriza-se, ento, pela preocupao em descobrir que leis
governam a sociedade e no pela preocupao com a sua transformao.
No se pode primeiramente desconhecer a aptido espontnea dessa filosofia
a constituir diretamente a conciliao fundamental, ainda procurada de to
vs maneiras, entre as exigncias simultneas da ordem e do progresso. Bas-
ta-lhe, para isso, estender at os fenmenos sociais uma tendncia plenamente
conforme a sua natureza e que tornou agora muito familiar em todos os outros
casos essenciais. Num assunto qualquer, o espirito positivo leva sempre a es-
tabelecer exata harmonia elementar entre as idias de existncia e as idias
de movimento, donde resulta mais especialmente, no que respeita aos corpos
vivos, a correlao permanente das idias de organizao com as idias de
vida e, em seguida, graas a uma ltima especializao peculiar ao organismo
social, a solidariedade continua das idias de ordem com as idias de pro-
gresso. (Discurso sobre o esprito positivo, 2
S
parte, X)
Essas noes ajudam a esclarecer por que Comte um defensor ferre-
nho do poder estabelecido e um crtico de toda e qualquer tentativa de mu-
dana de poder, seja nas suas estruturas, seja nos seus ocupantes.
Sob essas condies naturais, a escola positiva tende, de um lado, a consolidar
todos os poderes atuais, sejam quais forem seus possuidores; de outro, a im-
por-lhes obrigaes morais cada vez mais conformes s verdadeiras necessi-
dades dos povos. (Discurso sobre o espirito positivo, 3
S
parte, XVI)
Para Comte, qualquer insubordinao ao poder corrompe uma ordem
preestabelecida, alm de levar falsa noo de que o fato de existirem di-
ferentes grupos sociais implicaria uma oposio insolvel de interesses entre
esses grupos. Qualquer proposta ou ao que dificulte ou impea a aceitao
da concepo de que os diferentes grupos sociais existentes so complemen-
tares e necessrios uns aos outros (industriais e trabalhadores, por exemplo)
e de que a harmonia entre eles benfica e indispensvel sociedade (cujo
progresso depende da ordem) vista como falsa e perigosa. J que Comte
supe que a sociedade depende e necessita de ordem para progredir, supe,
como conseqncia, que depende tambm de instituies fortes e permanen-
tes, depende da existncia de diferentes grupos sociais e de uma coexistncia
pacfica e harmoniosa entre eles.
390
So essas concepes que do origem a um programa social que no
implica mudanas e transformaes sociais, mas que implica, isso sim, criar
condies para que esses elementos necessrios sociedade se mantenham.
desta forma que deve ser compreendido seu programa social, baseado em
dois aspectos fundamentais: uma educao universal, que ensine e convena
os homens (e especialmente os trabalhadores) da imutabilidade e inexorabi-
lidade das leis naturais a que esto submetidos, e trabalho para todos, o que
garante que cada indivduo cumpra seu papel social. Nesse sentido, so con-
dies que preenchem um dever e no condies que garantem um direito.
So essas concepes que originam, tambm, a noo de que o poder
a que os trabalhadores podem e devem aspirar o poder espiritual, que
defendido por Comte como o nico que realmente importa e que supera todo
poder material ou temporal.
Se o povo est agora e deve permanecer a partir desse momento indiferente
posse direta do poder poltico, nunca pode renunciar sua indispensvel
participao contnua no poder moral. Este o nico verdadeiramente aces-
svel a todos, sem perigo algum para a ordem universal. Muito pelo contrrio:
traz-lhe grandes vantagens cotidianas, autorizando cada um, em nome duma
comum doutrina fundamental, a chamar convenientemente as mais altas po-
tncias a seus diversos deveres essenciais. Na verdade, os preconceitos ine-
rentes ao estado transitrio ou revolucionrio tiveram que encontrar tambm
algum acesso em nossos proletrios alimentando, com efeito, inoportunas ilu-
ses sobre o alcance indefinido das medidas polticas propriamente ditas. Im-
pedem de apreciar quanto ajusta satisfao dos grandes interesses populares
depende hoje muito mais das opinies e dos costumes do que das prprias
instituies, cuja verdadeira regenerao, atualmente impossvel, exige, antes
de tudo, uma reorganizao espiritual. No entanto, podemos assegurar que a
escola positiva ter muito maior facilidade em fazer penetrar este salutar en-
sino nos espritos popidares que em qualquer outra parte, seja porque a me-
tafsica negativa ai no pode enraizar-se tanto, seja, sobretudo, por causa do
impulso constante das necessidades sociais inerentes sua situao necessria.
Essas necessidades se reportam essencialmente a duas condies fundamentais,
uma espiritual, outra temporal de natureza profundamente conexa. Trata-se
com efeito, de assegurar convenientemente a todos, primeiro, uma educao
normal, depois o trabalho regular. Tal , no fundo, o verdadeiro programa
social dos proletrios. No pode mais existir verdadeira popularidade a no
ser para uma poltica que tenda necessariamente para esse duplo destino.
(Discurso sobre o esprito positivo, 3* parte, XIX)
A perspectiva e as propostas de Comte para a sociedade so comple-
tamente coerentes com sua noo de que a transformao, a evoluo, o
desenvolvimento so, antes de tudo, desenvolvimento e transformao do
esprito. So coerentes, portanto, com a concepo que defende que a luta
391
pela transformao a luta pela transformao e pelo desenvolvimento das
idias e da moral.
Atacando a desordem atual em sua verdadeira fonte, necessariamente mental,
constitui, to profundamente quanto possvel, a harmonia lgica, regenerando,
de inicio, os mtodos antes das doutrinas, por uma tripla converso simultnea
da natureza das questes dominantes, da maneira de trat-las e das condies
prvias de sua elaborao. Demonstra, com efeito, de uma parte, que as prin-
cipais dificuldades sociais no so hoje essencialmente polticas, mas sobre-
tudo morais, de sorte que sua soluo possvel depende realmente das opinies
e dos costumes, muito mais do que as instituies, o que tende a extinguir
uma atividade perturbadora, transformando a agitao poltica em movimento
filosfico. {Discurso sobre o esprito positivo, 2* parte, X)
S quando a moral tiver completado sua evoluo poder-se- pensar
na reforma das instituies. Assim, para Comte, as nicas mudanas e trans-
formaes bem-vindas e necessrias so morais e s depois de completadas
se poderia pensar em mudanas materiais.
A tendncia correspondente dos homens de Estado a impedir hoje, tanto quanto
possvel, todo grande movimento poltico encontra-se alis espontaneamente
conforme as exigncias fundamentais de uma situao que s comportar real-
mente instituies provisrias, enquanto uma verdadeira filosofia geral no
vincular suficientemente as inteligncias. Desconhecida pelos poderes atuais,
essa resistncia instintiva colabora para facilitar a verdadeira soluo, aju-
dando a transformar uma estril agitao poltica numa ativa progresso fi-
losfica, de maneira a seguir, enfim, a marcha prescrita pela natureza,
adequada reorganizao final, que deve primeiro ocorrer nas idias para
passar em seguida aos costumes e, finalmente, s instituies. {Discurso sobre
o espirito positivo, 2
S
parte, IX)
A partir da no difcil compreender por que Comte prope, em vez
de mudanas nas estruturas e instituies sociais, mudanas que resultariam
em/de uma nova religio. Em vez de mudar a vida material, muda-se, de-
senvolve-se, trabalha-se a vida moral. Isto seria feito por meio de uma nova
religio, a religio da humanidade que, se permite as reformas morais ne-
cessrias, mantm, de resto, a prpria estrutura das religies - cultos, igrejas,
santos, preces, etc. - e no interfere nas estruturas da sociedade.
Se a religio da humanidade permite as reformas necessrias ao de-
senvolvimento do esprito positivo, ela deve ser perfeitamente conforme com
os princpios do conhecimento cientfico positivo. Com admirvel coerncia,
Comte consegue combinar cincia positiva e religio positiva, ao erigir em
ente supremo da religio da humanidade, ao sustentar, como dogma de sua
religio, os princpios e leis imutveis da natureza que, se so descobertos
392
pela investigao cientfica, slo popularizados e propagados, na forma de
dogma, por meio de sua religio.
A f positiva expe diretamente as leis efetivas dos diversos fenmenos obser-
vveis, tanto interiores como exteriores; isto , suas relaes constantes de
sucesso e de semelhana, as quais nos permitem prever uns por meio dos
outros. Ela afasta, como radicalmente inacessvel e profundamente ociosa, toda
pesquisa acerca das causas propriamente ditas, primeiras ou finais, de quais-
quer acontecimentos. Em suas concepes tericas, ela explica sempre como
e nunca porque. Quando, porm, indica os meios de dirigir nossa atividade,
ela faz, pelo contrrio, prevalecer constantemente a considerao do fim, j
que, ento, o efeito prtico dimana com certeza de uma vontade inteligente.
(...)
O dogma fundamental da religio universal consiste, portanto, na existncia
constatada de uma ordem imutvel a que esto sujeitos os acontecimentos de
todo gnero. Esta ordem , ao mesmo tempo, objetiva e subjetiva
-
por outras
palavras, diz igualmente respeito ao objeto contemplado e ao sujeito contem-
plador. Leis fsicas supem, com efeito, leis lgicas, e reciprocamente. Se o
nosso entendimento no seguisse espontaneamente regra alguma, no poderia
ele nunca apreciar a harmonia exterior. Sendo o mundo mais simples e mais
poderoso que o homem, a regularidade deste seria ainda menos concilivel
com a desordem daquele. Toda f positiva assenta, pois, nesta dupla harmonia
entre o objeto e o sujeito. (Catecismo positivista, pp. 143-144)
Por suas concepes a respeito do conhecimento e da sociedade e por
sua capacidade de unir em um sistema coerente suas noes, Comte visto
como o grande representante de uma burguesia que, na segunda metade do
sculo XIX, j havia perdido seu carter libertrio e progressista e havia, ao
se entrincheirar no poder, assumido um carter conservador. As estruturas
econmicas, sociais e polticas, estabelecidas por essa burguesia e que lhe
permitiam um contnuo acmulo de capital, para serem perpetuadas e desen-
volvidas, precisavam ser acrescidas de um iderio, de um sistema explicativo
que afastasse as ameaas contidas nas lutas sociais e polticas emergentes e
nas propostas de transformao que o prprio capitalismo gerara, Comte cum-
priu esse papel com maestria.
393
CAPITULO 22
A PRTICA, A HISTRIA EA CO NSTRU O
DO CO NHECIMENTO : KARL MARX (1818-1883)
... e toda cincia seria suprflua, se a forma de manifestao
e a essncia das coisas coincidissem imediatamente. , ,
Marx
O sculo XIX foi um sculo de grande desenvolvimento do capitalismo
e de mudanas radicais no mundo. Esse perodo poderia se dividido em dois
grandes momentos.
O primeiro deles - at 1848 - caracterizou-se pela expanso do capi-
talismo nos pases industrializados, pelo seu impulso inicial nos pases no
desenvolvidos e pela sua primeira grande crise nos pases desenvolvidos
(1830-1840). Nesse perodo, assistiu-se expanso e ao crescimento das for-
as produtivas, da economia, e, portanto, da riqueza; associados ao imenso
avano da cincia. De par com o crescimento econmico e com o crescimento
da riqueza, cresceu, tambm, a classe trabalhadora: cresceu em nmero, cres-
ceu em pobreza e cresceu em conscincia poltica (como o atesta o surgimento
de propostas de cunho socialista).
O crescimento sem limites e obstculos do capitalismo era visto, por
seus defensores, como o nico caminho de soluo para suas crises e para
a pobreza. Simultaneamente surgiam propostas que defendiam que a crise
e a pobreza eram inerentes ao sistema capitalista e que apenas por meio de
uma reordenao econmica e poltica seria possvel super-las. tambm
caracterstico desse momento a conscincia de cada um dos principais grupos
sociais (trabalhadores e burguesia) de que suas propostas eram incompatveis
entre si, mas que cada uma delas exigia mudanas urgentes: mudanas qu
so buscadas em 1848, por exemplo, quando explode um perodo revolucio-
nrio por quase toda a Europa. Nesse momento, os trabalhadores lutavam
por transformaes de cunho socialista, enquanto a burguesia e as classes mdias
procuravam uma soluo menos radical. O momento revolucionrio de 1848,
do ponto de vista das propostas dos trabalhadores, foi um fracasso; do ponto
de vista do sistema capitalista permitiu mudanas, de cunho poltico e eco-
nmico, que traziam solues a muitos dos problemas at ento enfrentados.
A segunda metade do sculo defrontou-se com um novo momento de
desenvolvimento do capitalismo: com a expanso do sistema em nvel mun-
dial, com uma segunda fase de expanso da indstria nos pases industriali-
zados e com a formao de um sistema capitalista internacional. Do ponto
de vista poltico, o perodo foi marcado por propostas e governos de cunho
nacionalista e liberal, e foi nesse momento que vrios pases da Europa, como
a Alemanha e a Itlia, completaram sua unificao econmica e poltica e
entraram, definitivamente, no quadro dos pases capitalistas avanados. Para
a classe trabalhadora, essa metade de sculo foi marcada por um grande
avano na sua organizao e nas suas propostas. A partir da organizao
iniciada nos cinqenta anos anteriores, e se irradiando desde os centros mais
avanados do capitalismo, como a Inglaterra e a Alemanha, surgiram no
apenas propostas de transformao econmica e poltica, mas, tambm, nveis
mais elaborados de organizao, como a Primeira Internacional, e mesmo
tentativas revolucionrias imediatas, como a Comuna de Paris.
Foi nesse contexto que Marx viveu e desenvolveu seu pensamento.
Vivendo nos centros nevrlgicos dos acontecimentos, tanto seu trabalho in-
telectual como sua atuao prtica so construdos ao longo dos anos, em
ntima relao com os acontecimentos econmicos, polticos e histricos de
seu tempo, e tanto seu conceituai terico como sua prtica poltica esto
comprometidos com e so colocados a servio da classe trabalhadora.
Karl Marx nasceu em 1818, em Trier (Trves), na Rennia, cidade que
ento fazia parte da Prssia, prxima fronteira com a Frana. Estudou Di-
reito em Bonn e Berlim. Foi durante sua estada em Berlim (1837-1841) que
entrou em contato com a filosofia de Hegel. Nessa poca, os seguidores de
Hegel encontravam-se divididos, basicamente, em dois grupos distintos: os
chamados hegelianos de direita e os chamados hegelianos de esquerda. O s
primeiros enfatizavam, do sistema de Hegel, o Esprito Absoluto como cria-
dor da realidade, uma criao, ento, com um fim previsto, carregando uma
viso teleolgica da histria; esse grupo destacava os aspectos mais conser-
vadores da filosofia de Hegel, em especial o papel preponderante que era
atribudo ao Estado. O s segundos, ao contrrio, procuravam libertar-se desses
traos conservadores e destacar o papel crtico da filosofia de Hegel, opondo
uma concepo liberal e democrtica a uma concepo de Estado forte. En-
fatizavam o homem como sujeito, concebendo-o como um ser consciente e
ativo.
1
Marx participou ativamente do debate entre os dois grupos, defendert
do o pensamento da esquerda hegeliana.
1 Henri Lefebvre (1983) afirma a existncia de um terceiro grupo de hegelianos - os
hegelianos de centro -, que conservariam na ntegra o sistema de Hegel e que se concen-
travam nas universidades.
396
Em 1841, defendeu sua tese de doutoramento que tinha como tema a
comparao das filosofias de Demcrito e Epicuro. Nessa poca, em funo
da situao poltica, que obrigou o afastamento dos hegelianos de esquerda
da vida universitria, Marx abandonou o projeto de ensinar na universidade
e, a partir de 1842, passou a trabalhar na Gazeta Renana, )am\ liberal, como
redator-chefe. Permaneceu nessa atividade at 1843, quando o jornal foi fe-
chado por ordem do governo da Prssia. Foi esse trabalho que permitiu a
Marx um contato mais direto com problemas sociais e polticos de sua poca
e com as diferentes alternativas que, para eles, eram apresentadas; esse con-
tato parece ter sido decisivo no interesse que Marx viria demonstrar por tais
questes.
A esquerda hegeliana encontrava dificuldades: o governo prussiano cer-
ceava a liberdade desses pensadores, censurava suas idias. Marx foi, ento,
para a Frana e, em Paris, ao lado de outros hegelianos de esquerda, parti-
cipou da publicao de uma revista que tinha como objetivo divulgar as
reflexes filosficas e polticas que esse grupo de pensadores vinha desen-
volvendo. A revista Anais Franco-Alemes teve somente um nmero publi-
cado (fevereiro de 1844). Dentre os artigos publicados nesse nmero, encon-
trava-se um artigo de Friedrich Engels (1820-1895) que desenvolvia uma
crtica economia poltica. Esse artigo impressionou profundamente Marx
que, a partir de ento, passou a se dedicar ao estudo da economia poltica,
em ntima colaborao com Engels. Em 1844, escreveram A sagrada famlia,
uma crtica a Bruno, Edgard e Egbert Bauer, que enfatizavam o papel das
elites intelectuais na transformao da sociedade e desprivilegiavam o papel
dos trabalhadores nessa mudana. O livro marcou seu rompimento com a
esquerda hegeliana.
Mais uma vez, por razes polticas, Marx foi obrigado a mudar de pas;
foi para a Blgica (Bruxelas), onde permaneceu at 1848. Durante esse pe-
rodo, Marx e Engels desenvolveram intensa atividade intelectual e poltica;
participaram da Liga dos Comunistas, para a qual escreveram o Manifesto
comunista; datam tambm desse perodo textos importantes na constituio
do pensamento marxista, como, por exemplo, A ideologia alem. Ainda em
1848, Marx retornou Alemanha, onde prosseguiu cpm suas atividades po-
lticas e fundou o jornal Nova Gazeta Renana. Em 1849, mais uma vez, com
o fechamento do jornal, Marx exilou-se. Foi para Londres, onde deu conti-
nuidade a sua produo intelectual e atuao poltica. Marx viveu em Londres
at sua morte, em 1883.
A vida de Marx no foi marcada apenas por um intenso trabalho inte-
lectual. Marx sempre esteve presente na cena poltica, participando da orga-
nizao e das reivindicaes da classe trabalhadora, colaborando de uma ma-
neira ou outra nos principais acontecimentos do perodo. Alguns de seus
397
textos mais conhecidos atualmente demonstram essa relao ativa e profunda
com o movimento operrio de sua poca e com a luta poltica pela transfor-
mao da sociedade. Neles esto presentes questes que eram, ento, centrais
ao debate poltico e alternativa poltica proposta por Marx para tais ques-
tes, ao mesmo tempo que neles se entrev o processo de elaborao do
pensamento de Marx. So anlises histricas, sociais, econmicas e polticas
que, se por um lado respondem a questes especficas, por outro, so parte
integrante de seu trabalho e de seu pensamento. Exemplos desses textos,
alm do j citado Manifesto comunista, so: Salrio, preo e lucro, que
uma conferncia feita por Marx na O rganizao Internacional dos Trabalha-
dores (O IT), em 1864; A guerra civil na Frana, de 1871, que apresenta
uma anlise da Comuna de Paris, e Crtica ao programa de Gotha, de 1875,
que traz uma crtica s propostas social-democratas, ento em voga na Ale-
manha.
A compreenso do pensamento de Marx se, por um lado, exige que se
reconhece a ntima relao entre seu trabalho intelectual e sua atuao pol-
tica, por outro lado, exige que se reconheam as influncias, por assim dizer,
tericas que marcaram o desenvolvimento de seu pensamento.
Um marco indiscutvel foi o contato com o sistema filosfico de Hegel.
Na elaborao de seu pensamento, Marx estuda Hegel e recorre a categorias
hegelianas na produo de sua prpria concepo; poder-se-ia sintetizar a
relao do pensamento de Marx com o de Hegel na recuperao e proposio
da dialtica como perspectiva para se compreender o real e para se construir
conhecimento. o prprio Marx (1983) quem afirma:
Por isso confessei-me abertamente discpulo daquele grande pensador e, no
captulo sobre o valor, at andei namorando aqui e acol os seus modos pe-
culiares de expresso. A mistificao que a dialtica sofre nas mos de Hegel
no impede, de modo algum, que ele tenha sido o primeiro a expor as suas
formas gerais de movimento, de maneira ampla e consciente. necessrio
invert-la, para descobrir o cerne racional do invlucro mstico. (Posfcio da
segunda edio de O capital, pp. 20-21)
Feuerbach, um hegeliano de esquerda, foi o segundo marco. Ao for-
mular a crtica do sistema hegeliano, em especial da concepo de religio
nele contida, Feuerbach reconstri o conceito de alienao: o homem aliena-
se ao atribuir a entidades, que so criaes suas, qualidades e poderes que,
na verdade, pertencem ao prprio homem. Com essa crtica, Feuerbach ex-
pressa uma concepo materialista e naturalista de homem, em vez da con-
cepo idealista proposta por Hegel. Embora Marx critique e supere a viso
feuerbachiana, o seu pensamento se marca por apresentar uma perspectiva
materialista na compreenso do homem. Para Marx (1984):
398
A grande faanha de Feuerbach :
1) aprova de que a filosofia nada mais que a religio trazida para as idias
e desenvolvida discursivamente; que , portanto, to condenvel como aquela
e no representa mais que outra forma, outro modo de existncia da alienao
do ser humano;
2) a fundao do verdadeiro materialismo e da cincia real na medida em que
Feuerbach faz, igualmente, da relao social "do homem ao homem" o prin-
cpio fundamental da teoria;
3) a contraposio negao da negao que afirma ser o positivo absoluto,
o positivo que descansa sobre si mesmo e se fundamenta positivamente em si
mesmo. {Manuscritos economia y filosofia, p. 184)
Marcaram ainda o pensamento de Marx os economistas clssicos in-
gleses (principalmente, Adam Smith e Ricardo) e os socialistas utpicos
(O wen, Fourier e Saint Simon). O s economistas clssicos, pela crtica que
Marx desenvolve sobre suas teorias e pela recuperao de algumas noes
propostas por essas teorias que, reinterpretadas por Marx, passam a integrar
o corpo terico marxista, como, por exemplo, a noo de valor trabalho .
Dos socialistas utpicos e da anlise de suas propostas surge o problema,
enfrentado por Marx, de basear a possibilidade de construo de uma nova
sociedade numa abordagem cientfica da sociedade capitalista e das condies
de sua transformao.
3
No possvel falar de Marx, ou de seu trabalho, sem destacar o papel
fundamental que Engels desempenhou na sua vida. Difcil caracterizar Engels
como uma influncia anloga s anteriormente citadas. Engels foi, como pro-
pe Gorender (1983), o grande interlocutor de Marx; foi colaborador, foi
2 Segundo Gorender, Marx, a partir da publicao de Misria da filosofia, passou a acei-
tar, com modificaes que iro mais tarde ser elaboradas, a noo de valor trabalho de
Ricardo. De modo muito esquemtico, Marx supunha que na produo de todo bem (de
toda mercadoria) estava contido um certo trabalho - abstrato porque seria a mdia do
trabalho necessrio para a produo daquele bem - que era parte da determinao do valor
de troca da mercadoria.
3 Segundo Hobsbawm (1980), "os socialistas utpicos forneceram uma critica da socie-
dade burguesa; o esquema de uma teoria da histria; a confiana no s na realizabilidade
do socialismo, mas tambm no fato de que ele representa uma exigncia do movimento
histrico atual; assim como uma vasta elaborao de pensamento sobre o que ser a vida
futura dos homens numa tal sociedade (inclusive o comportamento humano individual). E,
apesar disso, suas deficincias tericas e prticas foram surpreendentes". Entre as prticas,
Hobsbawm aponta: a excentricidade e o misticismo desenvolvido principalmente por seus
seguidores e o carter apoltico de suas concepes que os levava a no reconhecer "em
nenhuma classe ou grupo especifico o veculo das prprias idias"; entre as tericas Hobs-
bawm aponta "a falta de uma anlise econmica da propriedade privada" (pp. 50-52).
399
co-autor em vrias obras, foi editor, foi companheiro de lutas polticas, foi
amigo.
Da obra de Marx destacam-se: Manuscritos econmico-filosficos
(1844), Misria da filosofia (1847), A ideologia alem (1848), Manifesto
comunista (1848), O dezoito brumrio de Lus Bonaparte (1852), Esboos
dos fundamentos da crtica da economia poltica (1857/58), Para a crtica
da economia poltica (1859) e O capital (Livro I, publicado em 1867, Livro
II e III publicados, respectivamente, em 1885 e 1894, com edio de Engels,
a partir de esboos deixados por Marx). Desses livros, A ideologia alem e
o Manifesto comunista foram escritos em co-autoria com Engels. Deve-se
ressaltar, ainda, que vrios dos livros de Marx s chegaram a ser conhecidos
e publicados a partir da segunda dcada do sculo XX, como, por exemplo,
os Manuscritos econmico-filosficos.
Podem-se identificar, entre os textos escritos por Marx, textos que apre-
sentam uma anlise histrica (por exemplo, O dezoito brumrio de Lus Bo-
naparte), textos que apresentam uma anlise filosfica (por exemplo, A ideo-
logia alem), textos que, considerada a conjuntura na qual foram escritos,
tm objetivos eminentementes polticos (por exemplo, Manifesto comunista)
e uma grande parte de sua obra que se refere a anlises econmicas (por
exemplo, Para a crtica da economia poltica, O capital). Poder-se-ia afirmar
que na anlise do capitalismo, das leis que o consrtuem e regem e que, em
seu desenvolvimento, levaro sua superao zt sncontra o cerne do trabalho
e da contribuio de Marx. Vale notar que todos esses textos compem uma
unidade, j que, para Marx, a compreenso da sociedade devia basear-se na
compreenso de suas relaes econmicas, mas no se esgotava a: a com-
preenso real da sociedade implicava, tambm, o entendimento das suas re-
laes histricas, polticas e ideolgicas.
O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de fio con-
dutor aos meus estudos, pode ser formulado em poucas palavras: na produo
social da prpria vida, os homens contraem relaes determinadas, necessrias
e independentes de sua vontade, relaes de produo estas que correspondem
a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas foras produtivas ma-
teriais. A totalidade dessas relaes de produo forma a estrutura econmica
da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurdica
e poltica, e qual correspondem formas sociais determinadas de conscincia.
O modo de produo da vida material condiciona o processo em geral de vida
social, poltica e espiritual. No a conscincia dos homens que determina o
seu ser, mas, ao contrrio, o seu ser social que determina sua conscincia.
Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as foras produtivas materiais
da sociedade entram em contradio com as relaes de produo existentes
ou, o que nada mais do que a sua expresso jurdica, com as relaes de
400
propriedade dentro das quais aquelas at ento se tinham movido. Deformas
de desenvolvimento das foras produtivas essas relaes se transformam em
seus grilhes. Sobrevm ento uma poca de revoluo social. Com a trans-
formao da base econmica, toda a enorme superestrutura se transforma com
maior ou menor rapidez. Na considerao de tais transformaes necessrio
distinguir sempre entre a transformao material das condies econmicas
de produo, que pode ser objeto de rigorosa verificao da cincia natural,
e as formas jurdicas, polticas, religiosas, artsticas ou filosficas, em resumo,
as formas ideolgicas pelas quais os homens tomam conscincia desse conflito
e o conduzem at o fim. (...) Uma formao social nunca perece antes que
estejam desenvolvidas todas as foras produtivas para as quais ela suficien-
temente desenvolvida, e novas relaes de produo mais adiantadas jamais
tomaro o lugar, antes que suas condies materiais de existncia tenham sido
geradas no seio mesmo da velha sociedade. por isso que a humanidade s
se prope as tarefas que pode resolver, pois, se se considera mais atentamente,
se chegar concluso de que a prpria tarefa s aparece onde as condies
materiais de sua soluo j existem, ou, pelo menos, so captadas no processo
de seu devir. Em grandes traos podem ser caracterizados, como pocas pro-
gressivas da formao econmica da sociedade, os modos de produo: asi-
tico, antigo, feudal e burgus moderno. As relaes burguesas de produo
constituem a ltima forma antagnica do processo social de produo, anta-
gnicas no em um sentido individual, mas de um antagonismo nascente das
condies sociais de vida dos indivduos; contudo, as foras produtivas que
se encontram em desenvolvimento no seio da sociedade burguesa criam ao
mesmo tempo as condies materiais para a soluo desse antagonismo. Da
que com essa formao social se encerra a pr-histria da sociedade humana.
(Prefcio de Para a crtica da economia poltica, 1982, pp. 25-26)
Vale ressaltar, mais uma vez, que a base da sociedade, da sua formao,
das suas instituies e regras de funcionamento, das suas idias, dos seus
valores so as condies materiais. a partir delas que se constri a socie-
dade, e a compreenso dessas condies que permite a compreenso de
tudo o mais, bem como a possibilidade de sua transformao. Assim, para
Marx, a base da sociedade, assim como a caracterstica fundamental do ho-
mem, est no trabalho. do e pelo trabalho que o homem se faz homem,
constri a sociedade, pelo trabalho que o homem transforma a sociedade
e faz a histria. O trabalho torna-se categoria essencial que lhe permite no
apenas explicar o mundo e a sociedade, o passado e a constituio do homem,
como lhe permite antever o futuro e propor uma prtica transformadora ao
homem, propor-lhe como tarefa construir uma nova sociedade.
Ao lado disto, Marx retm, na sua anlise da sociedade, a noo de
que a histria, a transformao da sociedade, se d por meio de contradies,
antagonismos e conflitos. E que a transformao, o desenvolvimento da so-
401
ciedade, no linear, no espontnea, no harmnica, no dada de fora
da prpria sociedade, mas conseqncia das contradies criadas dentro
dela, e sempre dada por saltos, sempre revolucionria, sempre fruto da
ao dos prprios homens:
Os homens fazem sua prpria histria, mas no a fazem como querem; no
a fazem sob circunstncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se
defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. (O dezoito bru-
mrio de Lus Bonaparte, p. 1)
Ao construir seu sistema explicativo da histria e da sociedade, Marx
elabora, explicita e estabelece as bases metodolgicas bem como os princpios
epistemolgicos que dirigem sua anlise. A articulao desses dois conjuntos
de conhecimentos, o materialismo histrico e o materialismo dialtico, tem
sido interpretada de maneira diversa por diferentes comentadores e estudiosos
de Marx e do marxismo. Enquanto alguns autores, como Ianni (1982) e Le-
febvre (1983), vem os dois aspectos do trabalho de Marx como indissoci-
veis entre si, como desenvolvimento natural de sua proposta e como igual-
mente elaborados em seu trabalho, outros autores, como, por exemplo, Pou-
lantzas (1981), fazem uma clara distino entre eles e afirmam que os nveis
de elaborao do materialismo dialtico e do materialismo histrico so muito
diferentes, estando o primeiro apenas esboado, de forma que a explicao
do capitalismo que deve ser compreendida e discutida no trabalho de Marx.
Em qualquer das hipteses, seus textos esto permeados de indicaes
das quais se pode extrair uma proposta para a produo de conhecimento
cientfico. Mesmo que se discuta o grau de sistematizao dessa proposta,
inegvel que, a partir de Marx, tal proposta tem sido debatida, estudada,
adendada. E indiscutvel que, desde ento, se constitui numa nova viso,
numa concepo alternativa para a produo de conhecimento cientfico.
Se no o primeiro, sem dvida um dos aspectos fundamentais da pro-
posta de Marx para a produo do conhecimento cientfico decorrncia da
influncia de Feuerbach sobre seu pensamento. Feuerbach afirma que os ho-
mens constrem as divindades sua imagem e semelhana, e no o oposto,
como se depreende do sistema hegeliano, que v o homem como decorrncia
do Esprito Absoluto. Feuerbach afirma, assim, que as idias so decor-
rncia da interao do homem com a natureza, de um homem que faz parte
da natureza e que a recria em suas idias, a partir de sua interao com ela.
Com Feuerbach, Marx assume que a matria existe independentemente
da conscincia e que as idias so o material transposto para, traduzido pela
conscincia humana. Todavia em nenhum momento preocupa-se em discutir
como se d o processo "orgnico" que leva o homem a conhecer: no discute
os processos da sensao, da percepo, ou da razo, que permitem, no ho-
402
mem, a transformao do mundo exterior em conhecimento. O que, para
Marx, determina a conscincia o ser social, que adquire, assim, primazia
sobre a conscincia. So essas suposies que afastam Marx de Hegel e que
permitem afirmar que seu ponto de partida materialista. Marx parte do
suposto que o conhecimento determinado pela matria, pelo mundo que
existe independentemente do homem:
Por sua fundamentao, meu mtodo dialtico no s difere do hegeliano, mas
tambm a sua anttese direta. Para Hegel, o processo de pensamento, que
ele, sob o nome de idia, transforma num sujeito autnomo, o demiurgo do
real, real que constitui apenas a sua manifestao externa. Para mim, pelo
contrrio, o ideal no nada mais que o material, transposto e traduzido na
cabea do homem. (Posfcio da segunda edio de O capital, p. 20)
O modo de produo da vida material condiciona o processo em geral de vida
social, poltica e espiritual. No a conscincia dos homens que determina o
seu ser, mas, ao contrrio, o seu ser social que determina a sua conscincia.
(Prefcio de Para a crtica da economia poltica, p. 25)
A concepo materialista de Marx carrega em sua base uma concepo
de natureza e da relao do homem com essa natureza. Para Marx, o homem
parte da natureza, mas no se confunde com ela. O homem um ser natural
porque foi criado pela prpria natureza, porque depende da natureza, da sua
transformao, para sobreviver. Por outro lado, o homem no se confunde
com a natureza, o homem diferencia-se da natureza, j que usa a natureza
transformando-a conscientemente segundo suas necessidades e, nesse proces-
so, faz-se homem. Assim, Marx, a um s tempo, identifica e distingue homem
e natureza, e naturaliza e humaniza o homem e a natureza. A simples com-
preenso da natureza no leva compreenso do homem, mas, ao mesmo
tempo, a compreenso do homem implica necessariamente a compreenso de
sua relao com a natureza, j que nessa relao que o homem constri e
transforma a si mesmo e a prpria natureza. Por isto, pode-se afirmar que a
natureza se torna natureza humanizada e o homem na sua relao com ela
"deixa de ser um produzido puro para se tornar um produzido produtor do
que o produz" (Pinto, 1979, p. 85).
A respeito da relao homem-natureza, Marx afirma:
A vida genrica, tanto no homem como no animal, consiste fisicamente, em
primeiro lugar, em que o homem (como o animal) vive da natureza inorgnica,
e quanto mais universal o homem que o animal, tanto mais universal o
mbito da natureza inorgnica da qual vive. Assim como as plantas, os ani-
mais, as pedras, o ar, a luz etc. constituem, teoricamente, uma parte da cons-
cincia humana, em parte como objetos da cincia natural, em parte como
objetos da arte (sua natureza inorgnica espiritual, os meios de subsistncia
403
espiritual que ele prepara para o prazer e assimilao) assim tambm cons-
tituem praticamente uma parte da vida e da atividade humana. Fisicamente o
homem vive s desses produtos naturais, apaream na forma de alimentao,
calefao, vesturio, moradia etc. A universalidade do homem aparece na pr-
tica justamente na universalidade que faz da natureza toda seu corpo inorg-
nico, tanto por ser (1) meio de subsistncia imediata, como por ser (2) a
matria, o objeto e o instrumento de sua atividade vital. A natureza o corpo
inorgnico do homem; a natureza enquanto ela mesma, no corpo humano.
Que o homem vive da natureza, quer dizer que a natureza seu corpo, com
a qual tem que se manter em processo contnuo para no morrer. Que a vida
fsica e espiritual do homem est ligada com a natureza no tem outro sentido
que o de que a natureza est ligada consigo mesma, pois o homem uma
parte da natureza. (...) O animal imediatamente uno com sua atividade vital.
No se distingue dela. ela O homem faz de sua prpria atividade vital
objeto de sua vontade e de sua conscincia. Tem atividade vital consciente.
No uma determinao com a qual o homem se funda imediatamente. A
atividade vital consciente distingue imediatamente o homem da atividade vital
animal. {Manuscritos economia y filosofia, pp. 110-111)
Esse homem que por meio de sua atividade consciente transforma a
natureza e a si mesmo no compreendido, por Marx, como sujeito ou como
indivduo no comparvel com outros, ou independente dos outros homens.
O homem compreendido como ser genrico, como ser que opera sobre o
mundo, sobre os outros homens e sobre si mesmo enquanto gnero, enquanto
espcie que busca sua sobrevivncia. Mas o homem no busca apenas e
meramente sua sobrevivncia, busca a transformao de si mesmo e da na-
tureza e capaz de faz-lo porque se reconhece e reconhece ao outro nesse
processo.
O homem deve, ento, ser compreendido como espcie natural; no en-
tanto, na sua atividade se distingue de outras espcies animais, j que sua
atividade consciente e sua produo no determinada unicamente por suas
necessidades imediatas. Portanto, para Marx, embora a compreenso do ho-
mem deva ter como ponto de partida assumi-lo como espcie natural, no
deve se limitar a isto; preciso ir alm e assumir suas particularidades para
compreend-lo; sua universalidade dada por sua capacidade de consciente e,
deliberadamente, como ser genrico, transformar a natureza segundo as suas
prprias necessidades e as necessidades de outras espcies no s segundo
necessidades urgentes, mas tambm segundo necessidades mediatas.
A produo prtica de um mundo objetivo, a elaborao da natureza inorg-
nica, a afirmao do homem como um ser genrico consciente. (...) E certo
que tambm o animal produz. (...) Porm produz unicamente o que necessita
imediatamente para si ou para sua prole; produz unilateralmente, enquanto
404
que o homem produz universalmente; produz unicamente por mandato da ne-
cessidade Jlsica imediata, enquanto que o homem produz inclusive livre da
necessidade Jlsica e s produz realmente liberado dela; o animal se produz
apenas a si mesmo, enquanto que o homem reproduz a natureza inteira; o
produto do animal pertence imediatamente a seu corpo fsico, enquanto que
o homem se defronta livremente com seu produto. O animal produz unicamente
segundo a necessidade e a medida da espcie a que pertence, enquanto que
o homem sabe produzir segundo a medida de qualquer espcie e sempre sabe
impor ao objeto a medida que lhe inerente; por isto o homem cria tambm
segundo as leis da beleza.
Por isso precisamente apenas na elaborao do mundo objetivo onde o
homem se afirma realmente como um ser genrico. Esta produo sua vida
genrica ativa. Mediante ela a natureza aparece como sua obra e sua reali-
dade. {Manuscritos economia y filosofia, p. 112)
Esse ser genrico atua sobre a natureza por meio de uma atividade
prtica e consciente que lhe permite construir o mundo objetivo e lhe permite
construir a si mesmo e satisfazer suas necessidades. O homem visto, assim,
como ser genrico que objetiva a si mesmo e constri a prpria natureza que
se torna, ela tambm, produto do homem. A natureza humanizada no ,
portanto, construda a partir do nada e nem construda pelas idias, mas por
meio de uma atividade prtica e consciente: o trabalho.
Podemos distinguir o homem dos animais pela conscincia, pela religio ou
pelo que se queira. Mas o homem mesmo se diferencia dos animais a partir
do momento em que comea a produzir seus meios de vida, passo este que se
acha condicionado por sua organizao corporal. Ao produzir seus meios de
vida, o homem produz indiretamente sua prpria vida material.
O modo como os liomens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo,
da natureza mesma dos meios de vida com que se encontram e que se trata
de reproduzir. Este modo de produo no deve ser considerado somente en-
quanto a reproduo da existncia fsica dos indivduos. j, mais que isto,
um determinado modo da atividade destes indivduos, um determinado modo
de manifestar sua vida, um determinado modo de vida dos mesmos. Da forma
como os indivduos manifestam a sua vida, assim o so. O que so coincide,
por conseguinte, com sua produo, tanto com o que produzem como com o
modo como produzem. O que os indivduos so depende, portanto, das con-
dies materiais de sua produo. (La ideologia alemana, pp. 19-20)
Portanto, quando Marx fala da produo da vida pelo homem est se
referindo a uma atividade produtiva concreta, a uma atividade produtora de
bens materiais e, mais, a uma atividade que produz a maneira de viver do
homem. Essa noo - da produo pelo trabalho - ocupa um papel central
no pensamento de Marx. No apenas diferencia o homem dos animais, mas
405
tambm, num certo sentido, explica-o: pela produo que se desvenda o
carter social e histrico do homem. da produo que Marx parte para
explicar a prpria sociedade. E ser a nfase no carter social e histrico do
homem que afastar Marx de Feuerbach. Segundo Marx, Feuerbach tambm
afirma o homem como ser genrico, no entanto no compreende que esse
homem no abstrato, mas um ser histrico e social. Embora partindo do
materialismo de Feuerbach, Marx o supera, ao propor que as prprias leis
que regem o homem como ser genrico so construdas no decorrer da his-
tria, tornando-se, assim, leis que, num certo sentido, so leis humanas.
Quanto mais se recua na Histria, mais dependente aparece o indivduo, e
portanto, tambm o indivduo produtor, e mais amplo o conjunto a que
pertence. De inicio, este aparece de um modo ainda muito natural, numa fa-
mlia e numa tribo, que famlia ampliada; mais tarde, nas diversas formas
de comunidade resultantes do antagonismo e da fuso das tribos. S no sculo
XVIII, na 'sociedade burguesa', as diversas formas do conjunto social passa-
ram a apresentar-se ao indivduo como simples meio de realizar seus fins
privados, como necessidade exterior. Todavia, a poca que produz esse ponto
de vista, o do indivduo isolado, precisamente aquela na qual as relaes
sociais (e, desse ponto de vista, gerais) alcanaram o mais alto grau de de-
senvolvimento. O homem no sentido mais literal, um zoon politikon, no s
animal social, mas animal que s pode isolar-se em sociedade. A produo
do indivduo isolado fora da sociedade - uma raridade, que pode muito bem
acontecer a um homem civilizado transportado por acaso para um lugar sel-
vagem, mas levando consigo j, dinamicamente, as foras da sociedade -
uma coisa to absurda como o desenvolvimento da linguagem sem indivduos
que vivam juntos e falem entre si. (Introduo de Para a critica da economia
poltica, p. 4)
Mesmo quando eu atuo cientificamente etc. em uma atividade que eu mesmo
no posso levar a cabo em comunidade imediata com outros, tambm sou
social, porque atuo enquanto homem. No apenas o material de minha ativi-
dade (como a lngua, por meio da qual opera o pensador) me dado como
produto social, mas minha prpria existncia atividade social, porque o que
eu fao, fao-o para a sociedade e com conscincia de ser um ente social.
(...)
E preciso evitar antes de tudo fazer de novo da 'sociedade' uma abstrao
frente ao indivduo. O indivduo o ser social. Sua exteriorizao vital (ainda
que no aparea na forma imediata de uma exteriorizao vital coletiva, cum-
prida em unio com outros) assim uma exteriorizao e afirmao da vida
social. (Manuscritos economia y filosofia, p. 146)
A prpria relao do homem consigo mesmo s possvel pela relao
com outros homens; alm da relao entre homens ser fundamental para se
poder falar de homem, essa relao histrica, transforma-se, transformando
406
o prprio homem e alterando, inclusive, as suas necessidades: essas neces-
sidades so to mais humanas quanto mais o homem (mesmo mantendo sua
individualidade) for capaz de se reconhecer no coletivo; nesse sentido, a
sociedade e o homem, que embora distintos se constituem em uma unidade,
produzem-se reciprocamente, tanto social como historicamente; e mesmo
quando a atividade humana imediata individual, ela se caraoteriza como
social, seja porque as condies para a realizao da atividade so pro-
dutos sociais, seja porque a prpria existncia do homem social, seja porque
o objetivo da atividade humana sempre social.
O homem um ser social e histrico e o que leva esse homem a
transformar a natureza, e, neste processo, a si mesmo, a satisfao de suas
necessidades:
A satisfao desta primeira necessidade (a necessidade de comer, vestir, ter
um teto etc), a ao de satisfaz-la e a aquisio do instrumento necessrio
para isto conduz a novas necessidades, e esta criao de necessidades novas
constitui o primeiro fato histrico. (La ideologia alemana, pp. 29-29)
no processo de busca da satisfao de suas necessidades materiais
que o homem trabalha, transformando a natureza, produzindo conhecimento
e criando-se a si mesmo. Essas necessidades so necessidades histricas, ne-
cessidades que tambm se transformam, se alteram, se substituem no processo
histrico; no so necessidades prontas e acabadas. Se o homem se transforma
e transforma a natureza, mudam, nesse processo, tambm suas necessidades
materiais.
No entanto, Marx salienta que esse contnuo movimento de transfor-
mao das necessidades humanas no linear ou unidirecional. medida
que o homem trabalha para satisfazer suas necessidades, o homem se organiza
de forma tal que pode criar, ao mesmo tempo que necessidades e condies
de vida cada vez mais sofisticadas para alguns, condies de vida e, portanto,
necessidades cada vez mais "simples" para outros, de forma que as neces-
sidades existentes num determinado momento histrico podem ser, e freqen-
temente o so, para alguns homens pelo menos um "retrocesso", fazendo
com que estes possam ser colocados, em casos extremos, abaixo dos animais,
numa escala evolutiva. O movimento de criao e transformao das neces-
sidades pode ocorrer em direes opostas num mesmo momento, como, por
exemplo, nas sociedades capitalistas em que para alguns homens ocorre um
refinamento das necessidades e, para outros, ocorre uma brutalizao. Final-
mente, esse movimento expressar sempre as condies objetivas de um de-
terminado momento histrico e, nesta medida, as contradies presentes nesse
momento.
407
Esta alienao
4
se mostra parcialmente ao produzir de um lado, o refinamento
das necessidades e de seus meios, enquanto que de outro produz selvagerismo
bestial, simplicidade plena, brutal e abstrata das necessidades; ou melhor, sim-
plesmente se faz renascer num sentido oposto. Inclusive a necessidade de ar
livre deixa de ser, no trabalhador, uma necessidade. (...) A luz, o ar et c, a
mais simples limpeza animal deixa de ser uma necessidade para o homem.
(...) No apenas o homem no tem nenhuma necessidade humana, mas inclu-
sive as necessidades animais desaparecem. {Manuscritos economia y filosofia,
pp. 157-158)
A noo da constituio do homem como ser histrico e social que no
processo de sua relao com a natureza transforma-a, satisfazendo e criando
necessidades materiais e, assim, transformando-se e criando a si prprio, car-
rega consigo a concepo de que no h uma essncia humana dada e imu-
tvel, ou, em outras palavras, a concepo de que a natureza humana cons-
truda historicamente e, em conseqncia, que o mundo, as instituies, a
sociedade, a prpria natureza tambm no tm uma essncia dada, tambm
se constituem historicamente.
Marx define as aes humanas como relaes humanas com o mundo,
relaes humanas que constrem o prprio homem, quer seja no sentido bio-
lgico (isto , no desenvolvimento de seu aparato perceptivo), quer seja nos
sentidos "prticos e espirituais" (isto , no desenvolvimento de seu aparato
volitivo, afetivo, motivacional, em outras palavras, o comumente denominado
aparado psicolgico). Ao definir dessa forma as aes humanas e seu desen-
volvimento, nega a concepo de uma natureza humana pronta, imutvel,
resultado de algo exterior e independente ao prprio homem. Supe a neces-
sidade de um homem ativo na construo de si mesmo, da natureza ou de
sua histria, de um homem envolvido num processo contnuo e infinito de
construo de si mesmo.
O homem se apropria de sua essncia universal de forma universal, isto ,
como homem total. Cada uma de suas relaes humanas com o mundo (ver,
4 Alienao um conceito utilizado por Marx para explicar a relao dos homens entre
si e dos homens com o produto de seu trabalho - uma relao de "estranhamento" - a
partir do estabelecimento da propriedade privada. Sobre isto Marx afirma: Essa propriedade
privada material, imediatamente sensvel, a expresso material e sensvel da vida 'lumana
alienada. Seu movimento - a produo e o consumo - a manifestao sensvel do mo-
vimento de toda a produo passada, isto , da realizao ou da realidade do homem (...).
A superao positiva da propriedade privada como apropriao da vida humana por isto
a superao positiva de toda alienao, isto , a volta humana da Religio, da famlia, do
Estado etc. para sua existncia humana, isto , social (Manuscritos economia y filosofia,
p. 144).
408
ouvir, cheirar, saborear, sentir, pensar, observar, perceber, desejar, atuar,
amar), em resumo, todos os rgos de sua individualidade, como rgos que
so imediatamente coletivos em sua forma, so, em seu comportamento obje-
tivo, em seu comportamento para o objeto, apropriao deste.
(...) No apenas os cinco sentidos, mas tambm os chamados sentidos espiri-
tuais, os sentidos prticos (vontade, amor etc), em uma Palavra, o sentido
humano, a humanidade dos sentidos constituem unicamente mediante a exis-
tncia de seu objeto, mediante a natureza humanizada. A formao dos cinco
sentidos um trabalho de toda a histria universal at nossos dias. (...) A
objetivao da essncia humana, tanto no sentido terico como no sentido
prtico, , pois, necessria tanto para fazer humano o sentido do homem como
para criar o sentido humano correspondente plena riqueza da essncia hu-
mana e natural. {Manuscritos economia y filosofia, pp. 147-150)
Dessa forma, as prprias coisas constituem-se na sua relao com os
homens e no tm valor em si, j que no podem ser apreendidas inde-
pendentemente dessa relao.
Para Marx, a noo de que no h nas coisas uma essncia dada apli-
ca-se a tudo aquilo que cerca o homem. Abrange os fenmenos tidos- como
"materiais", "fsicos": "(...) a diferena entre indstria e agricultura, pro-
priedade privada mvel e imvel, uma diferena histrica (...)" {Manus-
critos economia y filosofia, p. 126); abrange, tambm, os fenmenos tidos
como "espirituais", "imateriais":
A moral, a religio, a metafsica e qualquer outra ideologia e as formas de
conscincia que a elas correspondem perdem, assim, a aparncia de sua pr-
pria substancialidade. No tm sua prpria histria, nem seu prprio desen-
volvimento, a no ser que os Iwmens que desenvolvem sua produo material
e seu intercmbio material, ao mudar esta realidade, mudem, tambm, seu
pensamento e os produtos de seu pensamento. {La ideologia alemana, p. 26)
A gnese e desenvolvimento da histria tm, assim, em Marx, um sig-
nificado muito prprio. A compreenso da gnese e do desenvolvimento dos
fenmenos deve partir da concepo de que nada, nenhuma relao, fenmeno
ou idia tem o carter de imutvel.
Os mesmos homens que estabelecem as relaes sociais de acordo com a sua
produtividade material, produzem tambm os princpios, as idias, as catego-
rias, de acordo com suas relaes sociais.
Assim, estas idias, estas categorias so to pouco eternas quanto as relaes
que exprimem. So produtos histricos e transitrios.
H um movimento continuo de aumento das foras produtivas, de destruio
nas relaes sociais, deformao nas idias; de imutvel no existe seno a
abstrao do movimento - mors imortalis. {Misria da filosofia, pp. 94-95)
409
Alm disso, um desenvolvimento que se opera a partir de e por con-
tradies. Assim, os movimentos dos fenmenos, da sociedade e do prprio
homem so a sua histria, histria constituda pelas contradies que so
inerentes a e operam em todos os fenmenos de forma a levar sua constante
transformao e, por que no dizer, sua constante formao.
Qualquer fenmeno, qualquer objeto de conhecimento constitudo de
elementos que encerram movimentos contraditrios, elementos e movimentos
que levam necessariamente a uma soluo, um novo fenmeno, uma sntese.
No entanto, essa sntese no soluo definitiva, no significa que cessam
as contradies, mas apenas a soluo de uma contradio, soluo que j
contm nova contradio. Marx quem afirma:
Viu-se que a processo de troca das mercadorias encerra relaes contradit-
rias e mutuamente exclusivas. O desenvolvimento da mercadoria no suprime
essas contradies, mas gera a forma dentro da qual elas podem mover-se.
Esse , em geral, o mtodo com o qual contradies reais se resolvem. E uma
contradio, por exemplo, que um corpo caia constantemente em outro e, com
a mesma constncia, fuja dele. A elipse uma das formas de movimento em
que essa contradio tanto se realiza como se resolve. (O capital, Livro I, p. 93)
Se o real em si contraditrio e se seu eterno movimento, eterno fa-
zer-se e refazer-se, dado por esse movimento de antagonismos, o pensa-
mento, a cincia devem buscar desvendar esse movimento que a chave da
compreenso, seja da economia, da histria, seja de qualquer outra cincia.
Dado que o movimento a manifestao da contradio, esta necessita ser
desvendada para que se compreenda o fenmeno, o que implica compreender
seu movimento.
Torna-se assim cada dia claro que as relaes de produo nas quais se move
a burguesia no tm um carter uno, um carter simples, mas um carter de
duplicidade; que, nas mesmas relaes nas quais se produz a riqueza, a misria
tambm se produz; que, nas mesmas relaes nas quais h desenvolvimento
das foras produtivas, h uma forca produtora de represso; que estas relaes
no produzem a riqueza burguesa, ou seja a riqueza da classe burguesa, seno
destruindo continuamente a riqueza dos membros integrantes desta classe e
produzindo um proletariado sempre crescente. (Misria da filosofia, p. 106)
Embora seja de Hegel que Marx retira a noo de contradio, em
Hegel a contradio se d primordialmente no pensamento, ao passo que em
Marx ela existe no pensamento, constitui sua lgica, porque a se reflete o
real; portanto, a contradio existe antes, primeiro, como parte do real. Assim,
as categorias do pensamento so elaboraes construdas a partir dos fen-
menos concretos, expressam tais fenmenos e relaes, mas no podem ser
trocadas por eles, no os substituem e no os constituem. O que Marx busca
410
descobrir a contradio contida nos fenmenos, seus elementos antagnicos
e o movimento que leva sua soluo, negao da negao. Num trecho
dos Manuscritos econmicos e filosficos (1844), Marx esboa tal anlise
preferindo-se propriedade privada, relao entre trabalho e capital sob a
propriedade privada, apontando o desenvolvimento da contradio entre esses
termos:
A relao da propriedade privada trabalho, capital e a relao entre ambos.
O movimento que estes elementos ho de percorrer o seguinte:
Primeiro: Unidade imediata e mediata de ambos. Capital e trabalho primeiro
ainda unidos, logo separados, estranhados, mas exigindo-se e aumentando-se
reciprocamente como condies positivas.
Segundo: O posio de ambos, se excluem reciprocamente; o trabalhador sabe
que o capitalista a negao de sua existncia e vice-versa; cada um deles
trata de arrebatar sua existncia ao outro.
Terceiro: Oposio de cada um deles consigo mesmo. Capital = trabalho acu-
mulado = trabalho. (...)
Trabalho como momento do capital, seus custos. (...)
O prprio trabalhador um capital, uma mercadoria. Coliso de oposies re-
ciprocas. (Manuscritos economia y filosofia, 1984, pp. 130-131)
Em outra passagem do livro Misria da filosofia, analisando o mono-
plio no capitalismo, Marx fornece outro exemplo de como compreende os
processos econmicos e sociais como intrinsecamente contraditrios, e como
seu movimento (seu desenvolvimento) s pode ser apreendido a partir dessa
noo:
Assim, primitivamente, a concorrncia foi o contrrio do monoplio, e no o
monoplio o contrrio da concorrncia. Logo, o monoplio moderno no
uma simples anttese, , ao contrrio, a verdadeira sntese.
Tese: o monoplio feudal anterior concorrncia.
Anttese: a concorrncia.
Sntese: o monoplio moderno que a negao do monoplio feudal na medida
em que ele supe o regime da concorrncia, e que a negao da concorrncia
na medida em que monoplio.
Assim, o monoplio moderno, o monoplio burgus, o monoplio sinttico,
a negao da negao, a unidade dos contrrios. E o monoplio no estado
puro, normal, racional.
(...) Na vida prtica, encontra-se no somente a concorrncia, o monoplio e
o antagonismo de ambos, mas tambm sua sntese, que no uma frmula,
mas um movimento. O monoplio produz a concorrncia, a concorrncia pro-
duz o monoplio. Os monoplios fazem concorrncia uns aos outros, os con-
correntes tornam-se monopolizadores. Se os monopolizadores reduzem a
concorrncia entre eles por meio de associaes parciais, a concorrncia au-
411
menta entre os operrios; e quanto mais a massa dos proletrios aumenta
diante dos monopolizadores de uma nao, mais a concorrncia se torna de-
senfreada entre os monopolizadores das diferentes naes. A sntese tal que
o monoplio no pode se manter seno passando pelos embates da concor-
rncia. (Misria da filosofia, pp. 129-130)
As relaes que carregam contradies que imprimem movimento aos
fenmenos so constitudas por relaes que esto contidas em outras relaes
mais gerais e que so determinantes na constituio dos fenmenos. Portanto,
estes no existem de per se, ou isolados, ou unidos por relaes fortuitas ou
unilaterais. Assim, no a ao isolada de variveis que determina um fe-
nmeno, no tambm o somatrio de um conjunto de variveis isoladas
quaisquer que o determina, como se, de um lado, existisse um fenmeno e,
de outro, um conjunto de foras que uma a uma se imprimissem no fenmeno,
e que por sua soma o determinassem.
O s fenmenos constituem-se, fundam-se e transformam-se a partir de
mltiplas determinaes que lhes so essenciais. Tais determinaes so cons-
titutivas do fenmeno, fazem parte dele e, por sua vez, so determinadas por
e fazem parte de outras relaes; qualquer fenmeno faz, assim, parte de
uma totalidade que o contm, o determina. Marx quem afirma:
"As relaes de produo de toda sociedade formam um todo" (Mi-
sria da filosofia, p. 95). Essa totalidade , por sua vez, tambm ela multi-
determinada e constituda de relaes e, se determina um fenmeno, deter-
minada por ele. A totalidade entendida como totalidade de determinaes,
como totalidade de relaes que constitui os fenmenos e por eles consti-
tuda: "No corpo da sociedade todas as relaes coexistem simultaneamente
e se sustentam umas s outras" (Misria da filosofia, p. 95). Portanto, assim
como um fenmeno no se constitui na soma de variveis que nele interferem,
a totalidade no se constitui na soma dos fenmenos que a compem. Para
Marx "o concreto concreto porque a sntese de muitas determinaes,
isto , unidade do diverso " (Introduo de Para a critica da economia po-
ltica, p. 14). E essa sntese que a totalidade, a unidade, no pode ser vista
apenas como a soma de partes ou como o mero conjunto de dados empricos
de um objeto. Se a totalidade concreta e se o concreto sntese de mltiplas
determinaes, como sntese deve conter as determinaes do todo reorde-
nadas em uma nova unidade.
Aqui se torna necessrio explicitar um suposto que ser fundamental
proposta metodolgica de Marx. As coisas constituem-se de contradies
e foras antagnicas, movimento e transformao constantes, existem em con-
tnua relao e inter-relao com outros fenmenos, constituindo-se em e
constituindo as totalidades que as formam. Entretanto, conhecer, compreender
412
os fenmenos que so assim constitudos no tarefa fcil porque, para Marx,
h uma distino entre as coisas tal como aparecem e tal como so na rea-
lidade, entre a forma de manifestao das coisas e a sua real constituio,
ou uma diferena entre aparncia e essncia.
Ao discutir a mercadoria, no capitalismo, Marx torna clara essa distin-
o, apontando o quanto a produo de conhecimento deve caminhar no sen-
tido de desvendar as determinaes, de modo algum transparentes no fen-
meno, tal como ele aparece.
O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de
que ela reflete aos homens as caractersticas sociais do seu prprio trabalho
como caractersticas objetivas dos prprios produtos de trabalho, como pro-
priedades naturais sociais dessas coisas e, por isso, tambm reflete a relao
social dos produtores com o trabalho total como uma relao social existente
fora deles, entre objetos. Por meio desse quiproqu os produtores do trabalho
se tornam mercadorias, coisas fsicas, metafsicas ou sociais. Assim, a impres-
so luminosa de uma coisa sobre o nervo tico no se apresenta como uma
excitao subjetiva do prprio nervo tico, mas como forma objetiva de uma
coisa fora do olho. Mas, no ato de ver, a luz se projeta realmente a partir de
uma coisa, o objeto externo, para outra, o olho. E uma relao fsica entre
coisas fsicas. Porm, a forma mercadoria e a relao de valor dos produtos
de traballio, na qual ele se representa, no tm que ver absolutamente nada
com sua natureza fsica e com as relaes materiais que da se originam. No
mais nada que determinada relao social entre os prprios homens que
para eles aqui assume a forma fantasmagrica de uma relao entre coisas.
Por isso, para encontrar uma analogia, temos de nos deslocar regio ne-
bulosa do mundo da religio. Aqui, os produtos do crebro humano parecem
dotados de vida prpria, figuras autnomas, que mantm relaes entre si e
com os homens. Assim, no mundo das mercadorias, acontece com os produtos
da mo humana. Isso eu chamo o fetichismo que adere aos produtos de tra-
balho, to logo so produzidos como mercadorias, e que, por isso, insepa-
rvel da produo de mercadorias. (O capital, livro I, p. 17)
O conhecimento no se produz, portanto, a partir de um simples reflexo
do fenmeno, tal como este aparece para o homem; o conhecimento tem que
desvendar, no fenmeno, aquilo que lhe constitutivo e que em princpio
obscuro; o mtodo para a produo desse conhecimento assume, assim, um
carter fundamental: deve permitir tal desvendamento, deve permitir que se
descubra por trs da aparncia o fenmeno tal como realmente, e mais, o
que determina, inclusive, que ele aparea da forma como o faz.
Em A ideologia alem, ao discutir o mtodo que prope para a histria,
Marx o diferencia tanto do mtodo dos empiristas como dos racionalistas. O
mtodo, porque parte dos fenmenos reais, porque busca descobri-los em seu
413
desenvolvimento, deixa de ser uma mera coleta de dados empricos abstratos
e deixa de ser um mero exerccio de reflexo sem compromisso com os dados
de realidade:
(...) no se parte do que os homens dizem, representam ou imaginam, nem
tampouco do homem predicado, pensado, representado ou imaginado, para
chegar, partindo daqui, ao homem de carne e osso; parte-se do homem que
realmente atua e, partindo de seu processo de vida real, se expe tambm o
desenvolvimento dos reflexos ideolgicos e dos ecos deste processo de vida
(...). E este modo de considerar as coisas no algo incondicional. Parte das
condies reais e no as perde de vista nem por um momento. Suas condies
so os homens, mas no vistos e plasmados atravs da fantasia, mas em seu
processo de desenvolvimento real e empiricamente registrvel, sob a ao de
determinadas condies. To logo se expe este processo ativo de vida, a
histria deixa de ser uma coleo de fatos mortos, ainda abstratos, como o
para os empiristas, ou uma ao imaginria de sujeitos imaginveis como o
para os idealistas. {La ideologia alemana, pp. 26-27)
Do ponto de vista de Marx, o mtodo proposto leva produo de um
conhecimento que no especulativo porque parte do e se refere ao real, ao
mundo tal como ele , e no um conhecimento contemplativo exatamente
porque, ao referir-se ao real, pressupe, exige, implica a possibilidade de
transformar o real. Da a noo de que o conhecimento cientfico envolve
"teoria" e "prxis", envolve uma compreenso do mundo que implica uma
prtica, e uma prtica que depende desse conhecimento. Da tambm a noo
de que o conhecimento deve prover os meios para se transformar o mundo, de
que o conhecimento, pelo menos para Marx, um conhecimento comprome-
tido com uma determinada via de transformao:
Esta concepo da histria consiste, pois, em expor o processo real de pro-
duo, partindo para isso, da produo material da vida imediata, e em con-
ceber a forma de intercmbio correspondente a este modo de produo e
engendrada por ele (...) e explicando, com base nela, todos os diversos pro-
dutos tericos e formas da conscincia, a religio, a filosofia, a moral etc.
assim como estudando, a partir destas premissas seu processo de nascimento,
o que, naturalmente, permitir expor as coisas em sua totalidade (e tambm,
por isso mesmo, a ao recproca entre estes diversos aspectos). No se trata
de buscar uma categoria em cada perodo, como faz a concepo idealista de
histria, mas de manter-se sempre sobre o terreno histrico real, de no ex-
plicar a prtica partindo da idia, de explicar as formaes ideolgicas sobre
a base da prtica material, atravs do que se chega, conseqentemente, ao
resultado de que todas as formas e todos os produtos da conscincia no
brotam por obra da critica espiritual (...) mas que s podem dissolver-se pela
destruio prtica das relaes sociais reais, das quais emanam estas quimeras
414
idealistas, (e ao resultado) de que a fora propulsora da histria, inclusive a
da religio, da filosofia, e de toda outra teoria, no a crtica, mas a revo-
luo. (La ideologia alemana, p. 40)
Esses pressupostos que Marx explicita no estudo da histria podem
estender-se tambm para outros campos de investigaes e, neste sentido,
podem ser considerados pressupostos metodolgicos gerais. Na Introduo
de Para a crtica da economia poltica, o mtodo de investigao empregado
por Marx no estudo da economia poltica exposto (e num certo sentido
detalhado) por meio da comparao com o mtodo que vinha sendo utilizado
at ento. Tambm os aspectos do mtodo propostos neste trecho podem ser
utilizados como indicao para outras reas do conhecimento.
Quando estudamos um dado pas do ponto de vista da Economia Poltica,
comeamos por sua populao, sua diviso em classes, sua repartio entre
cidades e campo, na orla martima; os diferentes ramos da produo, a ex-
portao e a importao, a produo e o consumo anuais, os preos das
mercadorias, etc. Parece que o correto comear pelo real e pelo concreto,
que so a pressuposio prvia e efetiva; assim, em Economia, por exemplo,
comear-se-ia pela populao, que a base e o sujeito do ato social de pro-
duo como um todo. No entanto, graas a uma observao mais atenta, to-
mamos conhecimento de que isso falso. A populao uma abstrao, se
desprezarmos, por exemplo, as classes que a compem. Por seu lado, essas
classes so uma palavra vazia de sentido se ignorarmos os elementos em que
repousam, por exemplo: o trabalho assalariado, o capital, etc. Estes supem
a troca, a diviso do trabalho, os preos, etc. O capital, por exemplo, sem o
trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preo, etc, no
nada. Assim, se comessemos pela populao, teramos uma representao
catica do todo, e atravs de uma determinao mais precisa, atravs de uma
anlise, chegaramos a conceitos cada vez mais simples; do concreto ideali-
zado passaramos a abstraes cada vez mais tnues at atingirmos determi-
naes as mais simples. Chegados a esse ponto, teramos que voltar a fazer
a viagem de modo inverso, at dar de novo com a populao, mas desta vez
no com uma representao catica de um todo, porm com uma rica totali-
dade de determinaes e relaes diversas. O primeiro constitui o caminho
que foi historicamente seguido pela nascente economia. Os economistas do
sculo XVII, por exemplo, comeam sempre pelo todo vivo: a populao, a
nao, o Estado, vrios Estados etc; mas terminam sempre por descobrir, por
meio da anlise, certo nmero de relaes gerais abstratas que so determi-
nantes, tais como a diviso do trabalho, o dinheiro, o valor etc. Esses ele-
mentos isolados, uma vez mais ou menos fixados e abstrados, do origem aos
sistemas econmicos, que se elevam do simples, tal como trabalho, diviso de
trabalho, necessidade, valor de troca, at o Estado, a troca entre as naes
e o mercado mundial. O ltimo mtodo manifestamente o mtodo cientifica-
mente exato. O concreto concreto porque a sntese de muitas determinaes,
415
isto , unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como
o processo da sntese, como resultado, no como ponto de partida, ainda que
seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o ponto de partida tambm da
intuio e da representao. No primeiro mtodo, a representao plena vo-
latiliza-se em determinaes abstratas, no segundo, as determinaes abstratas
conduzem reproduo do concreto por meio do pensamento. Por isso que
Hegel caiu na iluso de conceber o real como resultado do pensamento que
se sintetiza em si, se aprofunda em si, e se move por si mesmo; enquanto que
o mtodo que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto no seno a
maneira de proceder do pensamento para se apropriar do concreto, para re-
produzi-lo como concreto pensado. Mas este no de modo nenhum o processo
da gnese do prprio concreto. (Introduo de Para a crtica da economia
poltica, p. 14)
Esse o trecho, segundo vrios comentadores de Marx, em que o autor
mais claramente explicita o seu mtodo de investigao, afirmando a neces-
sidade de partir do real para se produzir conhecimento, de se buscar a lei de
transformao do fenmeno, de se buscar as relaes e conexes desse fe-
nmeno com a totalidade que o toma concreto, reconhecendo o momento de
anlise como o momento de abstrao, o que toma a reinsero do fenmeno
na realidade passo imprescindvel do mtodo; e, finalmente, afirmando a ne-
cessidade de se reconhecer no sujeito produtor de conhecimento a atividade
presente em cada momento do mtodo, que toma o conhecimento, a um s
tempo, representativo do real e produto humano, marcado pela atividade do
homem. Em outros momentos da sua obra, Marx refere-se a aspectos aqui
contidos de forma que possvel aclar-los.
Para apreender o real deve-se, assim, partir dos fenmenos da realidade,
dos fenmenos que existem e que so externos ao homem, que so concretos,
e no daquilo que existe na cabea dos homens, as suas idias, os seus pen-
samentos:
Se o elemento consciente desempenha papel to subordinado na histria da
cultura, claro que a crtica que tenha a prpria cultura por objeto no pode,
menos ainda do que qualquer outra coisa, ter por fundamento qualquer forma
ou qualquer resultado da conscincia. Isso quer dizer que o que lhe pode
servir de ponto de partida no a idia, mas apenas o fenmeno externo.
(...) E, sem dvida, necessrio distinguir o mtodo de exposio formalmente,
do mtodo de pesquisa. A pesquisa tem de captar detalhadamente a matria,
analisar as suas vrias formas de evoluo e rastrear sua conexo ntima. S
depois de concludo esse trabalho que se pode expor adequadamente o mo-
vimento real. Caso se consiga isso, e espelhada idealmente agora a vida da
matria, talvez possa parecer que se esteja tratando de uma construo a
priori. (Posfcio da segunda edio de O capital, pp. 19-20)
416
Para "expor adequadamente o movimento real", o conhecimento deve
sempre refletir aquilo que a lei fundamental de todo e cada fenmeno: a
sua transformao; a lei de seu desenvolvimento, ou seja, a(s) lei(s) que
origina(m) a conduz(em) transformao dos fenmenos que deve(m) ser
descoberta(s) pelo conhecimento. E exatamente por se tratar de descobrir nos
fenmenos as leis que regem a sua transformao, no possvel, para Marx,
buscar-se leis abstratas, imutveis, atemporais e a-histricas, que no existem.
Trata-se de descobrir as leis que sob condies histricas especficas so as
determinantes de um fenmeno que tem existncia em condies dadas e no
uma existncia que independe da histria. No Posfcio segunda edio de
O capital, o prprio Marx cita um crtico seu dizendo que a anlise que faz
reflete seu pensamento:
Para Marx, s importa uma coisa: descobrir a lei dos fenmenos de cuja
investigao ele se ocupa. E para ele importante no s a lei que os rege,
medida que eles tm forma definida e esto numa relao que pode ser
observada em determinado perodo de tempo. Para ele, o mais importante
a lei de sua modificao, de seu desenvolvimento, isto , a transio de uma
forma para outra, de uma ordem de relaes para outra. Uma vez descoberta
essa lei, ele examina detalhadamente as conseqncias por meio das quais ela
se manifesta na vida social. (...) Por isso, Marx s se preocupa com uma
coisa: provar, mediante escrupulosa pesquisa cientfica, a necessidade de de-
terminados ordenamentos das relaes sociais e, tanto quanto possvel, cons-
tatar de modo irrepreensvel os fatos que lhes servem de pontos de partida e
de apoio. Para isso, inteiramente suficiente que ele prove, com a necessidade
da ordem atual, ao mesmo tempo a necessidade de outra ordem, na qual a
primeira inevitavelmente tem que se transformar, quer os homens acreditem
nisso, quer no, quer eles estejam conscientes disso, quer no, (...) Mas, dir-
se-, as leis da vida econmica so sempre as mesmas, sejam elas aplicadas
no presente ou no passado. (...) E exatamente isso o que Marx nega. Segundo
ele, essas leis abstratas no existem. (...) Segundo sua opinio, pelo contrrio,
cada perodo histrico possui suas prprias leis. Assim que a vida j esgotou
determinado perodo de desenvolvimento, tendo passado de determinado est-
gio a outro, comea a ser dirigida por outras leis. (Posfcio segunda edio
de O capital, pp. 19-20)
A compreenso e explicao de um fenmeno dependem, portanto, da
descoberta das relaes e conexes que lhe so intrnsecas, que o formam e
que inserem esse fenmeno em uma totalidade, totalidade essa que acaba,
tambm, por determin-lo e da qual no pode ser subtrado, sob pena de se
perder a compreenso do movimento que constitui o fenmeno e, nesse caso,
a compreenso do prprio fenmeno:
417
O resultado a que chegamos no que a produo, a distribuio, o inter-
cmbio, o consumo, so idnticos, mas que todos eles so elementos de uma
totalidade, diferenas dentro de uma unidade. A produo se expande tanto a
si mesma, na determinao antittica da produo, como se alastra aos demais
momentos. O processo comea sempre de novo a partir dela. Que a troca e
o consumo no possam ser o elemento predominante, compreende-se por si
mesmo. O mesmo acontece com a distribuio como distribuio dos produtos.
Porm, como distribuio dos agentes de produo, constitui um momento da
produo. Uma [forma] determinada da produo determina, pois, [formas]
determinadas do consumo, da distribuio, da troca, assim como relaes de-
terminadas desses diferentes fatores entre si. A produo, sem dvida, em sua
forma unilateral tambm determinada por outros momentos; por exemplo,
quando o mercado, isto , a esfera da troca, se estende, a produo ganha
em extenso e divide-se mais profundamente.
Se a distribuio sofre uma modificao, modifica-se tambm a produo; com
a concentrao do capital, ocorre uma distribuio diferente da populao na
cidade e no campo etc. Enfim, as necessidades do consumo determinam a
produo. Uma reciprocidade de ao ocorre entre os diferentes momentos.
Este o caso para qualquer todo orgnico. (Introduo de Para a crtica da
economia poltica, pp. 13-14)
Com isso, Marx quer dizer que o estudo de qualquer fenmeno da
realidade implica compreend-lo a partir de e na realidade concreta de que
parte, e no compreend-lo abstraindo-se essa realidade, retirando-o dela
como se o fenmeno dela independesse:
A mais simples categoria econmica, suponhamos, por exemplo, o valor de
troca, pressupe a populao, uma populao produzindo em determinadas
condies e tambm certos tipos de famlias, de comunidades ou Estados. O
valor de troca nunca poderia existir de outro modo seno como relao uni-
lateral, abstrata de um todo vivo e concreto j dado. (Introduo de Para a
crtica da economia poltica, p. 15)
O s elementos particulares constitutivos de uma relao s podem se
tornar compreensveis se analisados dentro de uma totalidade. A compreenso
dessa totalidade, por outro lado, no pode prescindir da anlise de suas partes
e da anlise de como se relacionam nesse todo. Quaisquer desses dois as-
pectos implicariam, se desprezados, uma necessria apreenso inadequada do
real.
O bviamente, o desvendar de um fenmeno inserido numa totalidade
tarefa que no se cumpre simplesmente. Implica um longo trabalho de in-
vestigao que passa pela anlise do fenmeno e de suas determinaes para,
a partir dessa anlise, se recompor o fenmeno, agora, j descobertas essas
determinaes. Nesse processo, o sujeito do conhecimento parte do concreto
418
e, com sua anlise, reconstri o fenmeno no pensamento, descobrindo suas
determinaes e, portanto, reconstruindo-o como fenmeno abstrato; torna-se,
ento, necessrio reinseri-lo em sua realidade e em sua totalidade, reprodu-
zindo-o como concreto, um concreto que, agora, um produto do trabalho
do conhecimento humano e, portanto, um concreto pensado.
O conhecimento no existe, no construdo a despeito da realidade,
j que dela depende como ponto de partida e a ela retorna e deve, nesta
medida, ser representativo do real. Entretanto, ao mesmo tempo, para Marx,
o sujeito produtor de conhecimento no tem uma atitude contemplativa em
relao ao real, o conhecimento no um simples reflexo, no pensamento,
de uma realidade dada; na construo do conhecimento o homem no um
mero receptculo, mas um sujeito ativo, um produtor que, em sua relao
com o mundo, com o seu objeto de estudo, reconstri no seu pensamento
esse mundo; o conhecimento envolve sempre um fazer, um atuar do homem.
Essa concepo de homem como produtor de bens materiais, de rela-
es sociais, de conhecimento, enfim, como produtor de todos os aspectos
que compem a vida humana e, portanto, como produtor de si mesmo parece
servir de base, de elo de ligao, a todos os aspectos do pensamento de Marx:
fundamento de sua proposta para a produo de conhecimento, de sua
anlise da histria e de sua anlise da sociedade.
A obra de Marx, indubitavelmente, representa um marco a partir do
qual no mais possvel pensar ou agir em poltica, histria ou qualquer
cincia desconhecendo sua proposta. possvel, como afirma Hobsbawm
(1980), opor-se ou alinhar-se ao marxismo, mas no possvel ignor-lo.
Talvez Marx se constitua em marco exatamente porque, como afirma Vilar
(1980), para ser marxista no basta uma relao intelectual com a obra de
Marx e Engels, necessrio mais que isto:
Jamais algum se toma marxista lendo Marx; ou pelo menos, apenas o lendo;
mas olhando em volta de si, seguindo o andamento dos debates, observando
a realidade e julgando-a: criticamente. assim tambm que algum se toma
historiador. E foi assim que Marx se tomou. (p. 97)
possivelmente essa peculiaridade que tornou o marxismo, no sculo
XX, objeto no apenas de discusses e de polmicas dentro do prprio pa-
radigma marxiano, mas tambm objeto das crticas mais acirradas. Polmicas
que surgem por problemas colocados pelo desenvolvimento posterior do ca-
pitalismo ou por diferentes interpretaes dos textos de Marx, mas que no
so incompatveis, enquanto possibilidade de discusso, com a viso de Marx,
que no poderia esperar que sua obra se constitusse num sistema fechado e
acabado. Crticas esperadas e at, em certa medida, explicadas pelo prprio
419
Marx que, j em 1859, afirmava, ao encerrar o Prefcio de Para a crtica
da economia poltica: >
Esse esboo sobre o itinerrio dos meus estudos no campo da economia po-
ltica tem apenas o objetivo de provar que minhas opinies, sejam julgadas
como forem e por menos que coincidam com os preconceitos ditados pelos
interesses das classes dominantes, so o resultado de uma pesquisa conscien-
ciosa e demorada. Mas na entrada para a Cincia - como na entrada do
inferno - preciso impor a exigncia:
Qui si convien lasciare ogni sospetto
O gni vilta convien che sia morta. (1982, p. 27)
O conhecimento cientfico adquire, em Marx, o carter de ferramenta
a servio da compreenso do mundo para sua transformao, transformao
que deve ocorrer na direo que interessa queles que so os produtores reais
da riqueza do homem - os trabalhadores - e que por sua prpria condio
histrica esto em antagonismo com os detentores dos meios de produo -
os donos do capital. Por isto, o conhecimento adquire, em Marx, no apenas
o carter de um conhecimento comprometido com a transformao concreta
do mundo, mas tambm com a transformao segundo os interesses e as
necessidades de uma classe social, e a despeito da outra. Com essa concepo
perde-se, com Marx, a expectativa de se produzir conhecimento neutro, co-
nhecimento que serve igual e universalmente a todos, conhecimento que man-
tenha o mundo tal como .
5 "Que aqui se afaste toda a suspeita
Que neste lugar se despreze todo o medo"
(Dante, Divina comdia). (N. da ed. alem.)
420
REFERNCIAS
Abbagnano, N. Histria da filosofia. Lisboa, Editorial Presena, 1978, vol.
VII.
Alqui, F. "Berkeley". In: Chtelet, F. (org.). Histria da filosofia. Rio de
Janeiro, Zahar, 1982, vol. 4.
. "A idia de causalidade- de Descartes a Kant". In: Chtelet, F. (org.).
Histria da filosofia. Rio de Janeiro, Zahar, 1982, vol. 4.
Aquino, R. S. L. A. e outros. Histria das sociedades. Rio de Janeiro, Ao
Livro Tcnico, 1982.
Benda, J. O pensamento vivo de Kant. So Paulo, Livraria Martins Editora,
1943.
Bergeron, L., Furet, F. e Koselleck, R. La poca de Ias revoluciones europeas
1780-1848, 9 ed., Mxico, Siglo Veintiuno, 1984.
Berkeley, G. "Tratado sobre os Princpios do Conhecimento Humano". In:
Berkeley. So Paulo, Abril Cultural, 1973. col. O s Pensadores.
. "Trs dilogos entre Hilas e Filonous em oposio aos cticos e
ateus". In: Berkeley. So Paulo, Abril Cultural, 1973, col. O s Pensa-
dores.
. "O bissance Passive". In: Oeuvres Choisies de Berkeley. Saint
Amand, ditions Montaigne, 1944, tomo I.
Bernal, J. D. Cincia na histria. Lisboa, Livros Horizonte, 1976a, vol. 2.
. Cincia na histria. Lisboa, Livros Horizonte, 1976b, vol. 3.
Brhier, E. Histria da filosofia. So Paulo, Mestre Jou, 1977a, tomo II,
fascculo II.
. Histria da filosofia. So Paulo, Mestre Jou, 1977b, tomo II, fascculo
III.
Burns, E. McN. Histria da civilizao ocidental. Porto Alegre, Globo, 1978,
vol. I.
. Histria da civilizao ocidental. Porto Alegre, Globo, 1979, vol. II.
Cassirer, E. Filosofia de Ia ilustracin. Mxico, Fondo de Cultura Econmica,
1950.
. Kant, vida y doutrina. Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1968.
Chtelet, Franois. "G. W. F. Hegel". In: Chtelet, F. A filosofia e a histria
de 1780 a 1880. Rio de Janeiro, Zahar, 1981, vol. V.
421
Cocho, F. Cincia y aprendizaje. Madri, H. Blume Ediciones, 1980.
Comte, A. "Curso de filosofia positiva". In: Comte. So Paulo, Abril Cul-
tural, 1983, col. O s Pensadores.
. "Discurso sobre o esprito positivo". In: Comte. So Paulo, Abril
Cultural, 1983, col. O s Pensadores.
. "Discurso preliminar sobre o conjunto do positivismo". In: Comte.
So Paulo, Abril Cultural, 1983, col. O s Pensadores.
. "Catecismo positivista". In: Comte. So Paulo, Abril Cultural, 1983,
col. O s Pensadores.
Corbisier, Roland. Hegel. Textos escolhidos. Rio de Janeiro, Civilizao Bra-
sileira, 1981.
Desn, R. "A filosofia francesa no sculo XVIII". In: Chtelet, F. (org.).
Histria da filosofia. Rio de Janeiro, Zahar, 1982, vol. IV.
D'Hont, J. Hegel. Lisboa, Edies 70, 1981.
Efimov, Galkine e Zubok. Histria moderna. Lisboa, Editorial Estampa,
1981, vol. 1.
Florenzano, M. As revolues burguesas. So Paulo, Brasiliense, 1982.
Fortes, L. R. Rousseau. So Paulo, tica, 1976.
Gaarder, J. O mundo de Sofia. So Paulo, Companhia das Letras, 1995.
Goldman, L. Origem da dialtica. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1967.
Gorender, J. "Apresentao". In: Marx, K. O capital. So Paulo, Abril Cul-
tural, 1983, col. O s Economistas, vol. I.
Hegel, G. W. F. Enciclopdia das cincias filosficas em compndio (1830).
So Paulo, Loyola, 1995, vol. 1.
. Propdeutique Philosophique. Paris, Les ditions de Minuit, 1963.
Henderson, W. O . A revoluo industrial. So Paulo, Verbo, 1979.
Hobsbawm, E. J. "A fortuna das edies de Marx e Engels". In: Hobsbawm,
E. J. (org.). Histria do marxismo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1980,
vol. I.
. A era das revolues. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981.
Huberman, L. Histria da riqueza do homem. Rio de Janeiro, Zahar, 1979.
Hume, D. "Investigao sobre o entendimento humano". In: Hume. So Pau-
lo, Abril Cultural, 1973, col. O s Pensadores.
. "Ensaios morais, polticos e literrios". In: Hume. So Paulo, Abril
Cultural, 1973, col. O s Pensadores.
Ianni, O . (org.) "Karl Marx". Sociologia. So Paulo, tica, 1982.
Kant, I. "Crtica da razo pura". In: Kant. So Paulo, Abril Cultural, 1983,
col. O s Pensadores.
422
_. "Prolegmenos". In: Kant. So Paulo, Abril Cultural, 1983, col. O s
Pensadores.
_. Idia de uma histria universal de um ponto de vista cosmopolita.
So Paulo, Brasiliense, 1986.
Krner, S. Kant. Madri, Alianza Editorial, 1983.
Kolakowski, L. Positivist Philosophy: from Hume to the Vienna Circle. Mid-
dlesex, Penguim Books, 1972.
Lefebvre, H. "Marx". In: Belaval, Y. (org.). Histria de Ia filosofia. Mxico,
Siglo Veintiuno, 1983.
Leroy, A. "Prefce". In: Oeuvres Choises de Berkeley. Saint-Amand, Editions
Montaigne, 1944, tomo I.
Maar, W. L. "O positivismo no Brasil". In: Mendes Jr., A. e Maranho, R.
(orgs.). Brasil histria. So Paulo, Brasiliense, 1981, vol. III.
Marcuse, H. Razo e revoluo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978.
Martin, G. Science modeme et ontologie traditionnelle chez Kant. Paris, PUF,
1963.
Marx, K. Misria da filosofia. So Paulo, Livraria Exposio do Livro, s/d.
. Para a crtica da economia poltica. Introduo e Prefcio. So Paulo,
Abril Cultural, 1982, col. O s Economistas.
. O capital. So Paulo, Abril Cultural, 1983, tomo I, vol. I, col. O s
Economistas.
, Posfcio da segunda edio de O capital. So Paulo, Abril Cultural,
1983, col. O s Economistas.
. Manuscritos economia y filosofia. Madri, Alianza Editorial, 1984.
. "O Dezoito Brumrio de Lus Bonaparte". In: Marx. So Paulo, Abril
Cultural, 1985, col. O s Pensadores.
e Engels, F. La ideologia alemana. Barcelona, Ediciones Grijalbo,
1974.
e Engels, F. A ideologia alem I. Lisboa, Editorial Presena, 1980.
Monteiro, J. P. Hume e a epistemologia. Imprensa Nacional, Casa da Moeda,
1984, coleo Estudos Gerais, srie universitria.
Montesquieu. "Do esprito das leis". In: Montesquieu. So Paulo, Abril Cul-
tural, 1983, col. O s Pensadores.
Morton, A. L. A histria do povo ingls. Rio de Janeiro, Civilizao Brasi-
leira, 1970.
O liveira, C. A. B. Consideraes sobre a formao do capitalismo. Campi-
nas, dissertao de mestrado no publicada, apresentada ao Instituto de
Filosofia e Cincias Humanas da Unicamp, 1977.
Pascal, G. O pensamento de Kant. Petrpolis, Vozes, 1985.
423
Pinto, A. V. Cincia e existncia. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979.
Ponce, A. Educao e luta de classes. So Paulo, Cortez, 1982.
Poulantzas, N. "Marx e Engels". In: Chtelet F. (org.). Histria da filosofia.
Lisboa, Publicaes Dom Quixote, 1981, vol. III.
Silva, F. L. "Teoria do conhecimento". In: Chau, M. e outros. Primeira
filosofia. So Paulo, Brasiliense, 1984.
Vzquez, A. S. Filosofia da prxis. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977.
Verdenal, R. "A filosofia positiva de Auguste Comte". In: Chtelet, F. (org.).
Histria da filosofia. Rio de Janeiro, Zahar, 1974, vol. V.
Vergez, A. e Huisman, D. Histria dos filsofos ilustrada pelos textos. Rio
de Janeiro, Freitas Bastos, 1988.
Vilar, P. "Marx e a histria". In: Hobsbawm, E. J. (org.). Histria do mar-
xismo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1980, vol. I.
BIBLIOGRAFIA
Acton, H. B. "The Enguhtenment y sus adversrios". In: Belaval, Y Histria
de Ia filosofia. Mxico, Siglo Veintiuno, 1977, vol. 6.
Alqui, F. La critique kantienne de Ia mtaphisique. Paris, PUF, 1968.
. "A idia de causalidade de Descartes a Kant". In: Chtelet, F. (org.).
Histria da filosofia. Lisboa, Publicaes Dom Quixote, 1983, vol. 4.
Belaval, Y. Histria de Ia filosofia. Mxico, Siglo Veintiuno, 1977, vol. 6.
Bensande, B. e outros. "Auguste Comte y ei positivismo". In: Belaval, Y.
Histria de Ia filosofia. Mxico, Siglo Veintiuno, 1983, vol. 8.
Deleuze, G. "Hume". In: Chtelet, F. (org.). Histria da filosofia. Rio de
Janeiro, Zahar, 1982, vol. 4.
. A filosofia crtica de Kant. Lisboa, Edies 70, 1983.
Desn, Roland. "A filosofia francesa no sculo XVIU". In: Chtelet F. (org).
O iluminismo. O sculo XVIII. Histria da Filosofia, idias e doutrinas,
vol. 4.
Edwards, P. (ed.). The encyclopedia of philosophy. Nova York, Macmillan
Publishing Co. Inc. & The Free Press, 1972, vol. 2.
Flickinger, H. Marx: nas portas da desmistificao filosfica do capitalismo.
Porto Alegre, L&PM, 1985.
Gianotti, J. A. "Apresentao". In: Karl Marx. So Paulo, Abril Cultural,
1985, col. O s Pensadores.
Haupt, G. "Marx e o marxismo". In: Hobsbawm, E. J. (org.). Histria do
marxismo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1980, vol. I.
424
Mszros, I. "Marx 'Filsofo'". In: Hobsbawm, E. J. (org.). Histria do
marxismo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1980.
Rousseau, J-J. Discurso sobre as essncias e as artes. So Paulo, Cultrix,
s/d.
. Discurso sobre a origem da desigualdade. So Paulo, Cultrix, s/d.
. O contrato social. So Paulo, Brasil Editora, 1960.
Salomon-Bayet, C. "Jean-Jacques Rousseau". In: Chtelet, F. (org.). Histria
da filosofia. Rio de Janeiro, Zahar, 1982, vol. 4.
Scruton, R. Introduo filosofia moderna. Rio de Janeiro, Zahar, 1982.
Vergez, A. David Hume. Lisboa, Edies 70, 1984.
425
POSFACIO
Cincia hoje algo aparentemente conhecido de qualquer pessoa e to-
dos ns temos alguma coisa a dizer sobre ela; no mnimo, parecemos ser
capazes de avali-la. H, pelo menos, dois tipos de opinio muito difundidos
sobre a cincia: de um lado, a avaliao que a considera como uma fora de
progresso, como fonte de benefcio para a humanidade, enfim como "neces-
sria e boa"; de outro lado, uma avaliao que a considera como uma fora
de opresso, como fonte de destruio do homem e da natureza, enfim como
"perigosa e m". Sem considerar o mrito dessas avaliaes, ou mesmo se
so as nicas existentes, elas revelam o fato de que tendemos a avaliar a
cincia primordialmente por seus produtos tecnolgicos. Esta , sem dvida,
uma possibilidade e, indiscutivelmente, se deve prpria atividade cientfica
hoje desenvolvida. fato que os produtos tecnolgicos, frutos da atividade
cientfica, esto presentes em nosso cotidiano e so marcas da vida do
sculo XX.
Entretanto, se esta pode ser considerada marca da cincia contempor-
nea, sua prpria compreenso implica no apenas a anlise daquilo que apa-
rece como produto da cincia - a tcnica -, mas depende principalmente da
anlise das condies que determinam a cincia como produtora de tecnolo-
gia. Alm disso, o binmio cincia-tecnologia caracteriza a cincia dos nossos
dias, no marca a cincia, por meio da histria, a no ser como caracterstica
negativa - do que a cincia no produziu em outros momentos da histria;
mesmo em nossos dias, no , em absoluto, a nica marca da cincia.
Ao olhar mais de perto a cincia, ao olhar mais de perto seu produto,
percebe-se que ele no se esgota na tecnologia. Uma parte integrante e es-
sencial do empreendimento cientfico, no que se refere ao seu resultado, a
explicao. A tentativa de explicar - de descobrir as leis que regem os fe-
nmenos - tem se constitudo em marca fundamental da cincia nos di-
ferentes momentos da histria. Esse explicar cientfico tem tambm,
nos diferentes momentos da histria, sido adjetivado como um explicar ra-
cional, o que significa que a explicao deve, por meio de um trabalho hu-
mano, desvendar as leis que expem o fenmeno compreenso humana,
isto , eliminar seus segredos: ao explicar racionalmente no se busca a ex-
plicao no mistrio, ao contrrio, a explicao elimina o mistrio, revelando,
a um s tempo, aquilo que se sabe e aquilo que no se sabe, tornando a
relao do homem com o conhecimento uma relao em que o homem passa,
por assim dizer, a ter o fenmeno em suas mos, o que, em ltima instncia,
lhe permite interferir naquilo que conhece.
Se esta uma marca que nos permite falar da cincia no decorrer da
histria, porque encontrada todos os momentos, enunci-la diz pouco sobre
o que foi a cincia em cada momento e quase nada sobre seu desenvolvi-
mento, sua histria. Apesar da explicao racional buscar, pela via do esforo
humano, o desvendar dos fenmenos, o significado preciso que isto tem em
cada momento, e at mesmo dentro de um mesmo perodo histrico, dife-
rente. E , exatamente, o reconhecimento dessas diferenas e de suas razes
que permite compreender a histria da cincia, compreender como ela chegou,
em nosso sculo, a estar to intimamente vinculada tecnologia, a ponto de
parecer secundrio, ao caracteriz-la hoje, o explicar racional.
Esse reconhecimento implica, primeiramente, admitir que o apontar a
explicao racional como marca fundamental da cincia j se constitui em
uma dentre muitas possibilidades diferentes de caracterizao da cincia. Po-
der-se-ia, por exemplo, apontar como marcas fundamentais do empreendi-
mento cientfico: a busca de preciso; a mensurao e a experimentao como
procedimentos para produo de conhecimento; a utilizao de modelos l-
gico-matemticos na construo e expresso do^conhecimento; a verifcabi-
lidade do conhecimento produzido; a falseabilidade do conhecimento produ-
zido; a satisfao da curiosidade humana, enquanto tal, como fonte da pro-
duo de conhecimento; a compreenso dos fenmenos como fruto da intui-
o ou da inteligncia humana ou, ainda, o conhecimento como fruto de uma
capacidade interpretativa. Essas outras possibilidades, consideradas isolada-
mente ou combinadas entre si, podem ser tomadas por ou defendidas como
caractersticas fundamentais da cincia em algum momento da histria. En-
tretanto, mesmo sem discutir a validade de cada uma dessas caractersticas,
estas no se constituem em marcas que permitem abordar a histria da pro-
duo cientfica porque assumir qualquer uma delas significaria eliminar, des-
sa histria, todas as alternativas diferentes que, eventualmente, tenham sido
produzidas ou, at mesmo, desconsiderar perodos histricos nos quais o co-
nhecimento produzido no apresentava a(s) caracterstica(s) assumida(s)
como fundamental(is).
Reconhecer a cincia como tentativa de explicar racionalmente os fe-
nmenos, ao contrrio, vincula-se ao entendimento da cincia como ati-
vidade humana em que o homem busca conhecer o mundo e nele intervir,
428
atividade que est presente em toda a histria humana, fazendo parte inte-
grante dela, desde o momento em que esse conhecimento, de uma origem
prtica, passa a ser elaborado com algum grau de abstrao. Ao mesmo tem-
po, vincula-se ao entendimento da cincia como uma atividade humana que
no permanece idntica, porque historicamente determinada, que produto
do homem em condies histricas dadas, que se transforma medida que
o homem se transforma e que, simultaneamente, interfere na prpria histria.
No ser demais enfatizar que, se dentro dessa alternativa, a cincia pode
ser discutida no decorrer da histria humana, nem por isso essa alternativa
passa a ser universalmente aceita, uma vez que, por definio, ela implica
assumir o homem e seus produtos como determinantes e determinados por
condies histricas concretas.
Desse ponto de vista, para compreender a cincia hoje, torna-se neces-
srio recuperar sua histria, reconhecer em sua historicidade as razes que
originam e determinam o movimento que hoje lhe peculiar buscando neste
movimento a construo da prpria histria e reconhecer a cincia como
construo que infinita e que pode ser direcionada a partir do conhecimento
de seus determinantes. Compreender a cincia em sua prpria histria impli-
ca, assim, a possibilidade de compreend-la hoje e a possibilidade de dar
uma direo construo de seu futuro.
O exame desses determinantes conduz s condies materiais que, em
cada momento, ao configurar uma determinada sociedade, caracterizam o
viver do homem. Conduz, tambm, s condies decorrentes do desenvolvi-
mento do prprio conhecimento que, ao ser produzido, gera novas questes
porque aponta os seus limites, permitindo descortinar os problemas e as al-
ternativas existentes na explicao dada e revelando o que ainda no co-
nhecido. Se h a necessidade de distinguir esses determinantes, isso no deve
significar tom-los como estanques; pelo contrrio, h entre eles uma ntima
relao. Dizer que o conhecimento cientfico relativamente autnomo no
significa afirmar que seu desenvolvimento ocorra de forma ilimitada e inde-
finida: os limites desse desenvolvimento, no sentido de direo e possibili-
dade, encontram-se nas condies histricas em que o conhecimento pro-
duzido. O carter mesmo de crtica, que uma das alternativas do conheci-
mento cientfico, inscreve-se nas possibilidades de superao contidas no seio
da sociedade.
Enquanto a caracterizao da cincia como atividade humana que busca
explicaes racionais permite falar de cincia no decorrer da histria, a
anlise de outra caracterstica essencial do empreendimento cientfico - o
mtodo - que permite, de maneira mais radical, compreender essa histria,
j que, ao revelar a historicidade do mtodo, revela-se, ao mesmo tempo e
definitivamente, a historicidade de todo o empreendimento cientfico, elimi-
429
nando, assim, o ltimo reduto daquilo que se poderia considerar a-histrico
na cincia. A anlise dos mtodos que originam as explicaes cientficas
permite desvendar as exigncias com as quais a cincia se defrontou, as
possibilidades de solues que se entreviam e os rumos efetivamente trilhados
pelo empreendimento cientfico. Isto porque, ao definir a maneira de o ho-
mem se relacionar com seu objeto de estudo para produzir conhecimento, ao
constituir o caminho necessrio para a explicao, o mtodo expressa con-
cepes de homem, de natureza, de sociedade, de histria e de conhecimento
que trazem a marca do momento histrico no qual o conhecimento produ-
zido, explicitando, assim, quais as exigncias atendidas, quais as possibili-
dades realizadas.
Se para compreender a cincia hoje essencial recuperar o caminho
percorrido pela elaborao dos seus mtodos, no simples decidir em que
momento se inicia tal recuperao. Talvez a nica deciso no arbitrria fosse
acompanhar a elaborao do pensamento humano desde o momento em que
os vestgios deixados pelo homem permitissem identificar como se dava a
relao homem-natureza, como o homem nela intervinha, como concebia essa
prpria relao, a si mesmo e o mundo a seu redor. J, contendo algum grau
de arbitrariedade, poder-se-ia iniciar tal percurso, pelas antigas civilizaes,
como as do Egito, da Mesopotmia, da ndia e da China, que, indiscutivel-
mente, conheceram um enorme avano tcnico e produziram conhecimentos
em vrias reas, utilizando, para isto, mtodos que poderiam ser pelo menos
inferidos a partir do estudo de sua realidade e do conhecimento que produ-
ziram. No entanto, nessas civilizaes, as caractersticas econmicas e a or-
ganizao poltica e social no tornaram possvel que o conhecimento pro-
duzido e as tcnicas utilizadas fossem ponto de partida para uma reflexo
sobre os mtodos que permitiram tais realizaes. exatamente essa carac-
terstica - o fato de o povo grego ter sido capaz, por condies histricas
muito especiais, de refletir sobre o mtodo que est necessariamente contido
na produo de conhecimento -, que torna a civilizao grega um ponto de
partida privilegiado para a recuperao da historicidade dos mtodos. Embora
essa caracterstica no elimine a arbitrariedade da deciso tomada, pelo menos
auxilia em compreend-la. Ao lado disso, no se pode perder de vista dois
outros fatores que interferiram nessa deciso. A preocupao em discutir a
histria dos mtodos com o objetivo de compreender a cincia aqui e hoje
tambm remete Grcia, j que desse povo que se deriva - em linha quase
que direta - a construo racional de conhecimento. E, finalmente, no se
pode perder de vista que no possvel olhar para a histria completamente
despojados das marcas que so as de nosso tempo, e essas marcas, dentre
elas a complexidade e extrema abstrao do mtodo cientfico hoje, acabam
por nos remeter queles que parecem ter dado incio a esse estado de coisas.
430
Se as caractersticas econmico-sociais tornaram possvel o surgimento,
na Grcia, da preocupao com o mtodo na produo de conhecimento,
fundamentalmente a partir do desenvolvimento e da transformao dessas
caractersticas, das contradies nelas contidas e das formas de superao
que se efetivaram, que se pode entender as grandes transformaes por que
passaram os mtodos cientficos. Transformaes que no foram, e no po-
deriam ser, linearmente cumulativas e que no foram nicas ou homogneas
dentro de um mesmo perodo; que se expressavam, freqentemente, por meio
do embate de diferentes posturas e diferentes concepes, a um s tempo
refletindo tais contradies e tornando-se mais um elemento dentre as con-
dies de reproduo ou superao das prprias contradies materiais de
que se originaram. As diferentes concepes metodolgicas e as contraposi-
es por meio delas expressas, no entanto, no podem ser tomadas como
reflexo mecnico das condies materiais em que se inserem, no apenas por
causa de uma relativa autonomia do conhecimento, mas tambm, e princi-
palmente, porque cada aspecto que marca uma dada concepo, se conside-
rado em sua generalidade, no se mantm idntico e no se mantm na mesma
relao com os demais; seu significado, ao refletir as condies histricas a
que responde, no sempre o mesmo.
Considerem-se, a ttulo de exemplo, algumas contraposies, que fre-
qentemente so utilizadas para ilustrar os embates que de alguma forma
marcaram a histria da elaborao dos mtodos cientficos.
Uma dessas contraposies refere-se ao conceito de causalidade. A ex-
plicao racional envolve, num determinado momento, a busca das causas
dos fenmenos, com conotao teleolgica, qualitativa e que envolve a pro-
cura de essncias. A busca das causas vai, gradativamente, sendo substituda
pelo estudo das propriedades dos objetos do conhecimento, mais condizente
com a construo de leis gerais universais que expressem clara e matemati-
camente essas propriedades. Num primeiro momento, as leis expressam as
relaes mecnicas entre os fenmenos para, finalmente, na proposta de es-
tudo do social, aparecer como indicao de leis histricas, no mecnicas.
Isto significa mostrar os fenmenos (sociais) como parte de um movimento.
Essa proposta terica no segue nem o modelo a-histrico da mecnica, nem
um modelo histrico que envolva apenas a compreenso da seqncia de
ocorrncia do fenmeno.
Intimamente vinculada s diferentes noes de causa e de lei, possi-
velmente sustentando-as, encontram-se diferentes concepes de mundo. Par-
tindo de uma viso de mundo fechado, acabado, finito e hierarquizado, viso
que preponderou por muitos sculos, somente a partir do sculo XVI, surge,
para logo se tornar hegemnica, uma viso de mundo que, apesar de pronto
em seu essencial, era visto como infinito, eterno e passvel de ser conhecido
431
quantitativamente. E no sculo XIX que se encontram, por um lado, o auge
dessa concepo, estendendo-a dos fenmenos da natureza para os homens
e para a vida social e, por outro lado, seu mais forte contraponto, com a
concepo de que o mundo no apenas infinito, mas est em contnua
construo, algo que se transforma e tem histria.
Uma outra contraposio refere-se ao meio pelo qual se chega ao co-
nhecimento. Parte-se, na trajetria do conhecimento, de um momento im-
pregnado de misticismo, em que a crena a via para a construo do saber,
para um momento de nfase na racionalidade, em que se passa a refletir
sobre a validade da observao, do uso dos sentidos e da razo como vias
para o saber, com ntida preferncia pela razo, enquanto tendncia geral do
perodo; segue-se, na Europa ocidental, um momento de retorno f como
caminho para o conhecimento, que d lugar, depois, volta da valorizao
da racionalidade: observao e razo disputam o reconhecimento como a via
mais adequada para a verdade. Aparecem diferentes nfases a uma e outra:
desde uma total nfase aos sentidos, observao, a ponto de excluir a razo
do processo de conhecimento, at uma nfase total razo. Entre essas pos-
turas extremas, h uma srie de outras, que no desconsideram qualquer dos
dois elementos, embora os valorizem distintamente. Essa contraposio sen-
tidos-razo permanece em nossos dias. defesa da razo como caminho para
o conhecimento associam-se preocupaes com a lgica e a linguagem, en-
quanto a observao aparece associada experimentao, definitivamente in-
corporada atividade cientfica, e entendida tanto como experincia organi-
zada e controlada quanto como experincia oferecida pela produo.
Essa contraposio entre razo e observao, para ser completamente
compreendida, necessita ser inserida dentro de uma contraposio mais geral:
a que se refere s diferentes maneiras de se conceber o papel do sujeito na
produo de conhecimento. Se, de um lado, parece que a suposio de um
sujeito que ativo na produo do conhecimento esteve sempre associada a
uma valorizao da razo, por outro, no se pode dizer o mesmo de uma
associao entre sujeito passivo e observao. Em alguns momentos, a defesa
da observao como procedimento para produzir conhecimento refletiu uma
concepo de um sujeito a quem cabia meramente reproduzir o mundo tal
como este era e se imprimia no homem; em outros, esteve associada a uma
concepo que via o sujeito como possuidor de determinados mecanismos
no meramente sensoriais, que lhe permitiam, pela observao, estabelecer
relaes sobre o real. O problema dessa contraposio entre sujeito ativo e
passivo - associado ao uso da razo ou da observao - s superado no
sculo XIX, quando se reconhece no sujeito um papel ativo, sem tirar do
conhecimento seu carter de ser representativo do real, ao mesmo tempo que
condiciona esse sujeito a determinaes histricas, buscando as razes obje-
432
tivas da subjetividade. Ao fazer isto, supera tambm a dicotomia entre razo
e observao, estabelecendo um novo nvel de colocao do problema na
relao entre teoria e prtica.
Estreitamente vinculada aos aspectos j discutidos, aparece a contrapo-
sio relativa ao papel que se atribui cincia, que ora vista como uma
atividade contemplativa - em que o conhecimento um fim em si mesmo,
visando satisfao do impulso humano de saber e no aplicao prtica
- , ora como atividade cujo objetivo a melhoria das condies de vida do
homem. Se num dado momento histrico surge a concepo de que a cincia
deve servir ao progresso, ao bem-estar do homem; num momento seguinte,
passa-se a considerar a cincia como uma necessidade prtica, para a soluo
dos problemas produtivos; at que, em nossos dias, ela aparece como fora
produtiva, no sendo mais possvel a separao entre cincia e tecnologia.
Estas so apenas algumas das contraposies que foram surgindo ao
longo da histria da cincia e que nos ajudam a compreender como a ativi-
dade cientfica, em determinados momentos impregnada de misticismo, in-
distinta da filosofia, no reconhecida e desvinculada da prtica, chega a ser
o que hoje : uma atividade em que a racionalidade atinge alto grau, ocupando
um lugar prprio, distinta da filosofia, reconhecida e valorizada, e com um
vnculo to estreito com a produo que hoje em dia no possvel falar em
cincia sem falar em tecnologia e vice-versa.
Embora tais caractersticas tornem a produo de conhecimento cien-
tfico em nossos dias um empreendimento sofisticado e diferenciado em re-
lao ao que foi em outros momentos histricos, parece lcito supor que as
concepes metodolgicas hoje em confronto tm suas origens nas idias
produzidas no sculo passado. Ainda que se acredite que at o fim do sculo
XIX as grandes marcas metodolgicas necessrias para compreender a cincia
hoje estavam elaboradas, isto no quer dizer que o sculo XX no tenha
produzido nada alm. Quer dizer apenas que at aquele momento histrico
estavam presentes as bases das concepes que hoje se confrontam. As outras
alternativas metodolgicas que o sculo XX tem produzido apresentam-se
como derivaes ou rupturas em relao as grandes marcas produzidas at o
sculo XIX, derivaes ou rupturas que, entretanto, no ultrapassam os limites
dos paradigmas j colocados. O retomar daquelas idias se d, porm, num
contexto diferenciado de desenvolvimento do capitalismo, o que gera a co-
locao de novos problemas que encontram soluo nas idias antes produ-
zidas, mas que agora, redimensionadas, ganham novas feies.
Num contexto onde diferentes mtodos coexistem, cada um deles pa-
rece estar sendo explorado ao mximo; como se se levasse s ltimas con-
seqncias os modelos metodolgicos at ento produzidos: surgem novas
433
teorias, que revolucionam reas inteiras do saber, no que se refere s expli-
caes produzidas; surgem novas reas do conhecimento; o conhecimento
produzido em uma velocidade e em um volume jamais imaginados; a varie-
dade e quantidade de aplicaes tecnolgicas advindas da atividade cientfica
aumentam imensamente, na mesma medida em que diminui a distncia entre
a produo da explicao e sua aplicao tecnolgica. O bviamente tais mu-
danas colocam problemas metodolgicos novos que, entretanto, ainda en-
contram o fundamento de suas respostas nos paradigmas at ento elaborados.
A discusso desses novos problemas, contudo, pode exatamente constituir-se
em condio para a gerao de novos modelos metodolgicos em resposta
s questes que hoje se colocam. Novos modelos que, ao responderem tais
questes, o faam superando as alternativas at ento propostas e gerando
novos problemas que, certamente, iro refletir circunstncias histricas pr-
prias ao momento em que forem produzidos.
Todas as transformaes que aparecem como as marcas da cincia do
sculo XX so, na verdade, produtos daquilo que constitui sua principal ca-
racterstica: ser fora produtiva direta. No atual estgio de desenvolvimento
do capitalismo, a cincia est colocada a servio do aparato produtivo, aten-
dendo suas exigncias e antecipando-se a elas. A relao cincia-produo
estreita-se a tal ponto que, pode-se dizer, sofre uma mudana qualitativa: o
produto da atividade cientfica alm de atender a necessidades imediatas, do
aparato produtivo, de antecipar estas necessidades, em muitos casos, impe
transformaes na produo, transformaes cuja origem extrapola a prpria
produo. Dizer da ntima relao entre cincia e produo no capitalismo
dizer da relao entre cincia e capital, o que coloca claramente uma deter-
minada direo para o empreendimento cientfico. Por esta razo, mesmo
quando a cincia se antecipa produo, ela o faz atendendo s exigncias
do capital. No por acaso que diferentes ramos da cincia desenvolvem-se
desigualmente. Em funo das possibilidades econmicas de aproveitamento
de seu produto, so favorecidas, por maior incentivo financeiro, e em detri-
mento de outras, aquelas cincias que geram tecnologia mais imediatamente
passvel de aplicao no processo produtivo. No tambm por acaso que,
freqentemente, o desenvolvimento cientfco-tecnolgico fica aqum das
reais possibilidades tericas da cincia, retardando-se solues que, embora
relevantes a determinadas parcelas da populao, no interessam ao capital.
A diviso social do trabalho, que no capitalismo se caracteriza, entre
outras coisas, por uma extremada fragmentao do trabalho e uma conse-
qente agudizao na distino entre trabalho manual e intelectual, elitizando
o trabalho intelectual e desvalorizando o trabalho manual, encontra na cincia
um recurso valioso para sua reproduo, ao mesmo tempo em que interfere
na organizao e nos rumos do trabalho cientfico. As explicaes cientficas
434
so apresentadas como se fossem neutras e plenamente objetivas e usadas
como critrio avalizador, alm de criador, de idias, valores e concepes
tomados como verdadeiros e universais, o que serve para que se justifique
o maior poder que se atribui queles que pretensamente detm conhecimento,
queles que a ele tm acesso. O crivo da "cientificidade" que separa o "cer-
to" do "errado", o "verdadeiro" do "falso", o "Bem" do "Mal" utilizado
para apresentar justificativas "objetivas" para a diviso e fragmentao do
trabalho, ocultando o fato de que a cincia, tambm neste sentido, est a
servio dos interesses do capital. Tanto as chamadas cincias naturais quanto
as cincias ditas humanas ou sociais se constituem segundo essa lgica.
Ainda assim, e lembrando a determinao histrica a que a cincia est
sujeita, cabe acentuar que a sociedade capitalista gera tambm algumas con-
dies que podem encaminhar sua superao, e as idias cientficas no fo-
gem a essa regra. No mbito das contradies internas prprias ao capitalis-
mo, a cincia produz idias que escapam ao quadro de submisso ao capital
at aqui descrito, e as cincias humanas, dada a especificidade de seu objeto
de estudo, encontram-se em privilegiada posio no que se refere produo
dessas idias.
Tambm no que se refere organizao e produo do trabalho cien-
tfico, possvel perceber o duplo movimento de referendar e negar aspectos
essenciais do capitalismo. Assim, a diviso capitalista do trabalho tem seu
reflexo na atividade cientfica, tornando-se ela tambm fragmentada, parce-
lada e hierarquizada. A atividade do cientista aborda parcelas progressiva-
mente menores do real, levando-o perda da viso de totalidade e do controle
do produto de seu trabalho, dado que a prpria cincia se divide em reas
cada vez mais especializadas e fragmentadas. Da mesma forma, o cientista,
assim como os demais trabalhadores sob o capital, submete-se a relaes de
trabalho marcadas pela hierarquizao e especializao, passando a responder
a critrios, condies e funes que so impostos de fora do trabalho cien-
tfico. A esto, talvez, algumas das razes por que a cincia hoje no avana
os limites metodolgicos j colocados, uma vez que a superespecializao
acaba por implicar que o mtodo seja entendido como um conjunto de pro-
cedimentos, dificultando uma viso mais ampla dos reais problemas meto-
dolgicos colocados para a cincia.
Contraditoriamente, pela realizao de seu trabalho que o cientista
pode criticar as condies em que esse trabalho se desenvolve. em sua
dimenso de trabalhador sob o capital que ele pode identificar as determina-
es mais gerais a que est submetido e pode, por isso, ultrapassar tais limites,
constituindo-se em produtor de um conhecimento crtico, que no apenas
permita desvendar as contradies que subjazem aos interesses do capital,
mas aponte as condies de sua superao.
435
Tambm do ponto de vista das alternativas metodolgicas presentes na
sociedade capitalista, possvel identificar tanto tendncias que mais ou me-
nos claramente se prestam preservao das caractersticas dessa sociedade,
quanto concepes que remetem sua transformao.
Em uma dessas concepes, da mesma forma como o produto da cin-
cia, que visto como neutro e objetivo, o mtodo tambm passa a ser con-
siderado dessa forma, principalmente naqueles campos mais de perto a ser-
vio da produo. Esta noo, que acaba por restringir mtodo a procedi-
mento, fortalecida pela fragmentao do conhecimento que pressupe que
o prprio real e seu conhecimento so a soma de suas partes isoladas, e tem
na proposta de um nico mtodo de investigao uma de suas marcas fun-
damentais. Essa concepo de mtodo, que consistiria apenas em um conjunto
de regras de ao, coroa a defesa do empreendimento cientfico como algo
neutro, universal e a servio do progresso e do bem-estar de toda a huma-
nidade.
Ao lado dessa concepo, mas igualmente compatvel com os interesses
do capitalismo, encontra-se a concepo que defende, principalmente nas
reas mais prximas do homem, a impossibilidade de qualquer conhecimento
objetivo, que o conhecimento uma relao pessoal e intransfervel do ho-
mem individual com o objeto do conhecimento e que o mtodo , em ltima
instncia, um ato de compreenso intuitiva do sujeito, tornando, assim, o
conhecimento incontestvel. Ao retirar do conhecimento qualquer vnculo
com as determinaes materiais, ao retirar a possibilidade de crtica e de
transformao da realidade, tal concepo aproxima-se daquela que defende
a neutralidade do empreendimento cientfico.
Diferentemente dessas concepes, uma alternativa que aponte para a
crtica e a ruptura com o capitalismo deve, necessariamente, supor o sujeito
produtor de conhecimento, bem como seu objeto de estudo, como submetido
s determinaes histricas advindas do momento em que o conhecimento
produzido. Supor que o sujeito e o objeto do conhecimento so historicamente
determinados, significa reconhecer, como implicao, que o produto dessa
relao - o conhecimento, assim como o processo de sua construo -
igualmente determinado por condies histricas e, portanto, ideologicamente
comprometido.
O reconhecimento da historicidade da cincia e de seu mtodo consti-
tui-se em passo fundamental para instrumentar a anlise crtica de um em-
preendimento largamente produzido, difundido e consumido nos dias atuais.
Acreditar nessa possibilidade e em sua necessidade orientou a proposta e a
elaborao deste livro.
As Autoras
436
You might also like
- Para Compreender A Ciência - Uma Perspectiva HistóricaDocument436 pagesPara Compreender A Ciência - Uma Perspectiva HistóricaElô Arruda100% (4)
- Introdução À Lógica A Partir de Sua História Filosófica, Volume 1 de Heráclito Aos Medievais PDFDocument81 pagesIntrodução À Lógica A Partir de Sua História Filosófica, Volume 1 de Heráclito Aos Medievais PDFTiago Louro100% (1)
- Introdução À EpistemologiaDocument68 pagesIntrodução À EpistemologiaMarcelo Vial Roehe100% (10)
- BBiklen P01Document167 pagesBBiklen P01Nuno Martins100% (5)
- Teorias Psicopedagógicas do Ensino e Aprendizagem em CiênciasDocument309 pagesTeorias Psicopedagógicas do Ensino e Aprendizagem em CiênciasAlbio Fabian MelchiorettoNo ratings yet
- Gil A C Mc3a9todos e Tc3a9cnicas de Pesquisa SocialDocument220 pagesGil A C Mc3a9todos e Tc3a9cnicas de Pesquisa SocialCarolina Delafiori100% (2)
- FOUREZ, G - A - Construção - Das - CiênciasDocument161 pagesFOUREZ, G - A - Construção - Das - Ciênciasprofessor_ronaldo100% (3)
- O Desafio Do ConhecimentoDocument33 pagesO Desafio Do ConhecimentoThiago Borges73% (22)
- MOREIRA, Marco Antônio. Aprendizagem Significativa A Teoria de David Ausubel. Moraes. 1982Document60 pagesMOREIRA, Marco Antônio. Aprendizagem Significativa A Teoria de David Ausubel. Moraes. 1982carpediem85592% (13)
- Pesquisa QualitativaDocument528 pagesPesquisa QualitativaXISTO SOUZA JÚNIORNo ratings yet
- Sociologia Da Educação E-BookDocument117 pagesSociologia Da Educação E-BookLara Barros100% (5)
- Marxismo e Teoria CriticaDocument293 pagesMarxismo e Teoria CriticaJoaoricardoatm100% (2)
- Aprendizagem Significativa segundo AusubelDocument60 pagesAprendizagem Significativa segundo Ausubelalbertoprass100% (8)
- Ensino integrado, politecnia e educação omnilateralDocument20 pagesEnsino integrado, politecnia e educação omnilateralAndressa Reinheimer Ziglioli100% (1)
- Livro - Profissionalizacao DocenteDocument94 pagesLivro - Profissionalizacao DocenteLuci MaraNo ratings yet
- Fundamentos Sociologicos Da EducaçãoDocument50 pagesFundamentos Sociologicos Da EducaçãoDanielson RoalyNo ratings yet
- GATTI, B. A. Grupo Focal Na Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas (2012)Document41 pagesGATTI, B. A. Grupo Focal Na Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas (2012)ed100% (1)
- A Teoria Do Agir Comunicativo de Jürgen Habermas - Bases ConceituaisDocument124 pagesA Teoria Do Agir Comunicativo de Jürgen Habermas - Bases ConceituaisManuellaNo ratings yet
- Métodos de PesquisaDocument9 pagesMétodos de PesquisaDeiby Cavalcante CunhaNo ratings yet
- O Conceito de Tecnologia Segundo Álvaro Viera PintoDocument40 pagesO Conceito de Tecnologia Segundo Álvaro Viera PintoMarcelo Santos100% (1)
- Pensar Com Conceitos - John WilsonDocument177 pagesPensar Com Conceitos - John WilsonThatiane Brito100% (3)
- VAZQUEZ FILOSOFIA DA PRÁXIS-compactadoDocument212 pagesVAZQUEZ FILOSOFIA DA PRÁXIS-compactadoStephanie Santana50% (2)
- Mitos e realidades da pesquisa participanteDocument119 pagesMitos e realidades da pesquisa participantelalivilela100% (1)
- A aprendizagem significativa e a construção do conhecimentoDocument6 pagesA aprendizagem significativa e a construção do conhecimentocaduanegues100% (1)
- LESSA, Sergio. para Compreender A Ontologia de LuckácsDocument200 pagesLESSA, Sergio. para Compreender A Ontologia de Luckácspgc100% (2)
- Teoria da Ação Comunicativa de HabermasDocument56 pagesTeoria da Ação Comunicativa de HabermasSara Santos100% (4)
- Introdução À Epistemologia Da CiênciaDocument172 pagesIntrodução À Epistemologia Da Ciênciadivino_mestre100% (4)
- ANGROSINO Etnografia e Observação - NEWDocument12 pagesANGROSINO Etnografia e Observação - NEWMiucha SchutzNo ratings yet
- Filosofia Da Ciência NepfilDocument305 pagesFilosofia Da Ciência NepfilElson Busatto100% (1)
- Livro BRUYNE, HERMAN e SCHOUTHEETE - Dinâmica Da Pesquisa em Ciências SociaisDocument128 pagesLivro BRUYNE, HERMAN e SCHOUTHEETE - Dinâmica Da Pesquisa em Ciências SociaisDaniela Lima100% (1)
- Vasquez Filosofia Da PraxisDocument83 pagesVasquez Filosofia Da PraxisCarina De Souza100% (1)
- VIGOTSKI, A Formação Social Da MenteDocument56 pagesVIGOTSKI, A Formação Social Da MenteSamuel EFabiana100% (1)
- A identidade profissional dos professoresDocument11 pagesA identidade profissional dos professoresMaéve Melo89% (9)
- Wilhelm Dilthey e a autonomia das ciências histórico-sociaisFrom EverandWilhelm Dilthey e a autonomia das ciências histórico-sociaisNo ratings yet
- Construindo o saber: Metodologia científica - Fundamentos e técnicasFrom EverandConstruindo o saber: Metodologia científica - Fundamentos e técnicasNo ratings yet
- Pesquisa, Educação e Formação Humana: nos trilhos da HistóriaFrom EverandPesquisa, Educação e Formação Humana: nos trilhos da HistóriaNo ratings yet
- A Trama do conhecimento: Teoria, método e escrita em ciência e pesquisaFrom EverandA Trama do conhecimento: Teoria, método e escrita em ciência e pesquisaNo ratings yet
- Representações sociais do professorFrom EverandRepresentações sociais do professorRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Políticas de formação docente para a educação profissional: realidade ou utopia?From EverandPolíticas de formação docente para a educação profissional: realidade ou utopia?No ratings yet
- Pedagogia histórico-crítica: 40 anos de luta por escola e democracia – Volume 2From EverandPedagogia histórico-crítica: 40 anos de luta por escola e democracia – Volume 2No ratings yet
- A individualidade para si: Contribuição a uma teoria histórico-crítica da formação do indivíduoFrom EverandA individualidade para si: Contribuição a uma teoria histórico-crítica da formação do indivíduoNo ratings yet
- Sobre notas escolares: Distorções e possibilidadesFrom EverandSobre notas escolares: Distorções e possibilidadesRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Formação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica:: Políticas, Cadeias Produtivas e PolitecniaFrom EverandFormação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica:: Políticas, Cadeias Produtivas e PolitecniaNo ratings yet
- Metodologia em Ciências Sociais hoje: Práticas, abordagens e experiências de investigação - Volume 2From EverandMetodologia em Ciências Sociais hoje: Práticas, abordagens e experiências de investigação - Volume 2Rating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Percursos de Formação de Professores de Ciências: Histórias de Formação e ProfissionalizaçãoFrom EverandPercursos de Formação de Professores de Ciências: Histórias de Formação e ProfissionalizaçãoNo ratings yet
- Pedagogia histórico-crítica: desafios e perspectivas para uma educação transformadoraFrom EverandPedagogia histórico-crítica: desafios e perspectivas para uma educação transformadoraNo ratings yet
- Modelos de gestão e Educação: gerencialismo e subjetividadeFrom EverandModelos de gestão e Educação: gerencialismo e subjetividadeNo ratings yet
- Uma Educação para A SensibilidadeDocument30 pagesUma Educação para A SensibilidadeJarlene Rodrigues ReisNo ratings yet
- História dos livros didáticosDocument18 pagesHistória dos livros didáticosBruna OliveiraNo ratings yet
- Uma Busca Das Representações A Partir Dos Protocolos de LeituraDocument5 pagesUma Busca Das Representações A Partir Dos Protocolos de Leiturasaraurrea0718No ratings yet
- O Conceito de Experiência Histórica em Edward ThompsonDocument11 pagesO Conceito de Experiência Histórica em Edward Thompsonsaraurrea0718No ratings yet
- MC 02 Claudia AlvesDocument11 pagesMC 02 Claudia Alvessaraurrea0718No ratings yet
- Carvalho - Epistemologia Das Ciências Da EducaçãoDocument235 pagesCarvalho - Epistemologia Das Ciências Da Educaçãosaraurrea0718100% (5)
- DISSERTAÇÃO - Sanitarismo e Planejamento UrbanoDocument174 pagesDISSERTAÇÃO - Sanitarismo e Planejamento UrbanoTanisadanNo ratings yet
- Atividade História - Introdução Aos EstudosDocument5 pagesAtividade História - Introdução Aos EstudosalermeloNo ratings yet
- A História Dos Números Primos Resumo BreveDocument2 pagesA História Dos Números Primos Resumo BreveMarcelolpjunior100% (2)
- TCC - Francisco Thiago Ferreira de BritoDocument36 pagesTCC - Francisco Thiago Ferreira de BritoMoustafa VerasNo ratings yet
- Plano e AulaDocument18 pagesPlano e AulaKeilianeNo ratings yet
- História escrita: narrativas e documentosDocument379 pagesHistória escrita: narrativas e documentosDalva LimaNo ratings yet
- Internatos educam famíliasDocument323 pagesInternatos educam famíliasÁlvaro de SouzaNo ratings yet
- Mariana PDFDocument281 pagesMariana PDFCarlos XavierNo ratings yet
- Como Se Deve Escrever A História Do BrasilDocument12 pagesComo Se Deve Escrever A História Do BrasilfabriciolyrioNo ratings yet
- Cronograma Historia Antiga 2019 PDFDocument7 pagesCronograma Historia Antiga 2019 PDFWilton JúniorNo ratings yet
- Vértice de Uma Renovação Cultural, 2012 PDFDocument393 pagesVértice de Uma Renovação Cultural, 2012 PDFCarlos HortmannNo ratings yet
- Lévi-Strauss. História e Etnologia PDFDocument39 pagesLévi-Strauss. História e Etnologia PDFRafael Poveron75% (4)
- Novo Projeto Patrono Corrigido 2023Document9 pagesNovo Projeto Patrono Corrigido 2023Iraci100% (1)
- A História Filosófica de Voltaire - Sentido e Contexto IntelectualDocument15 pagesA História Filosófica de Voltaire - Sentido e Contexto IntelectualPedro FonteneleNo ratings yet
- MAGALHÃES, Belmira - A Particularidade Estética em Vidas SecasDocument144 pagesMAGALHÃES, Belmira - A Particularidade Estética em Vidas SecasCaique Carvalho100% (1)
- Os gregos acreditavam em seus mitosDocument5 pagesOs gregos acreditavam em seus mitosJanaínaFonsecaNo ratings yet
- Análise Documental Com Método e TécnicaDocument7 pagesAnálise Documental Com Método e TécnicaAdriana SilvaNo ratings yet
- Apostila de Metodologia de HistoriaDocument17 pagesApostila de Metodologia de HistoriaKaryne Pastori100% (3)
- Entrevista Com Raquel VarelaDocument27 pagesEntrevista Com Raquel VareladeividvincentNo ratings yet
- HistóriaDocument10 pagesHistóriaYimy SifontesNo ratings yet
- HABERMAS - A Inclusao Do Outro (1996)Document250 pagesHABERMAS - A Inclusao Do Outro (1996)FernandaGrilloNo ratings yet
- A Escolarização Da População Negra Entre o Final Do Séc. XIX e o Início Do Séc. XXDocument7 pagesA Escolarização Da População Negra Entre o Final Do Séc. XIX e o Início Do Séc. XXSuzana LuizaNo ratings yet
- ARAÚJO João - Linha Do Tempo Da Viola No Brasil - 2021Document358 pagesARAÚJO João - Linha Do Tempo Da Viola No Brasil - 2021Julio Jose Jr100% (1)
- 531 - Ensino de História em Tempos HíbridosDocument542 pages531 - Ensino de História em Tempos HíbridosCristiano NicoliniNo ratings yet
- História Das Religiões: Alexsandro Alves Da MaiaDocument18 pagesHistória Das Religiões: Alexsandro Alves Da MaiaThiago RORIS DA SILVANo ratings yet
- Castel, R. A Gestão Dos RiscosDocument99 pagesCastel, R. A Gestão Dos RiscosHelder Souza100% (2)
- Vídeo, filme e fotografias como documentos de pesquisaDocument19 pagesVídeo, filme e fotografias como documentos de pesquisaÁlvaro BotelhoNo ratings yet
- O Causo Do Defunto VivoDocument3 pagesO Causo Do Defunto VivoDeise Vilela50% (2)
- Fichamento - SETH, Sanjay. Razão Ou Raciocínio? Clio Ou Shiva?Document2 pagesFichamento - SETH, Sanjay. Razão Ou Raciocínio? Clio Ou Shiva?Miguel ÂngeloNo ratings yet
- Aulas Educação InfantilDocument10 pagesAulas Educação Infantilivanasoares abadiaNo ratings yet