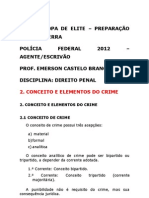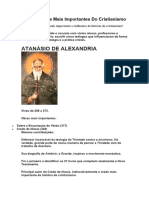Professional Documents
Culture Documents
EticaParaPrincipiantes PDF
Uploaded by
Cledyson KyldaryOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
EticaParaPrincipiantes PDF
Uploaded by
Cledyson KyldaryCopyright:
Available Formats
1
2
TICA
PARA PRINCIPIANTES
LUIS ALBERTO PELUSO
3
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
Bibliotecrio Gesialdo Silva do Nascimento CRB-8 n 7102
PELUSO, Luis Alberto
tica para principiantes / Luis Alberto Peluso.-- Santo Andr: Universidade Federal do
ABC, 2011.
104 p.
ISBN: 978-85-65212-01-4
1. tica 2. Filosofia 3. Aspectos morais 4.Ensino a distncia I. Titulo.
CDD 170
Nmero de ISBN
978-85-65212-01-4
4
DADOS SOBRE O AUTOR
Luis Alberto Peluso possui graduao (Bacharelado e Licenciatura) em Filosofia pela Pontifcia Universidade
Catlica de So Paulo (1967), graduao (Bacharelado) em Direito pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie (1970), mestrado em Filosofia da Cincia pela Fundao Escola de Sociologia e Poltica de So
Paulo (1978) e doutorado em Filosofia - University of London (1987). Atualmente Professor Titular na
Universidade Federal do ABC (UFABC) e Presidente da Comisso de tica da UFABC (CE-UFABC). Tem
desenvolvido pesquisa na rea de Filosofia da Cincia, especialmente sobre a escola do racionalismo crtico,
com especial referncia ao pensamento de Karl R. Popper e em tica, com nfase no Utilitarismo Anglo
Americano Clssico, atuando principalmente nos seguintes temas: epistemologia, Karl R. Popper, tica,
utilitarismo clssico, Jeremy Bentham. Endereo para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/8351650239021238
5
... para Luisa Cristina,
sol em minha paixo
crepuscular.
6
PREFCIO
Alex Luppe
Entrem!
Bem-vindos sejam, minhas crianas!
Teremos muito tempo, apesar de agora nada acontecer.
Tempo usaremos para buscar, para apontar.
Sabendo que vamos encontrar o que talvez no seja agradvel.
Ser a escurido.
Ser o poro.
Por favor, no fechem seus olhos agora.
Respirem fundo e nos estiquem a mo.
Estranharemos todos os percursos.
No veremos seus sentidos. No saberemos onde est a sada.
Apesar de tudo, sabemos que esta jornada crucial.
Mesmo temendo dar cada passo.
Mesmo no sabendo aonde pretendemos chegar.
este o primeiro passo de nossa jornada.
Tentando achar a luz da compreenso
onde parece no haver luz alguma.
7
SUMRIO
CAPA
DADOS DO AUTOR
PREFCIO
INTRODUO
MDULO I problemas na conceituao de tica
CAPTULO 1. O QUE A TICA INVESTIGA?
CAPTULO 2. POR QUE DEVEMOS SER TICOS EM NOSSAS AES?
CAPTULO 3. H DISTINO ENTRE TICA E MORAL?
CAPTULO 4. PODE O DIREITO SER IMORAL?
CAPITULO 5. MORAL NO SE DISCUTE?
MDULO II algumas teorias sobre os fundamentos da moralidade
CAPTULO 6. DAVID HUME: SOMOS SERES MORAIS PORQUE NO
PODEMOS EVITAR O DESEJO DE SER BOM
CAPTULO 7. IMMANUEL KANT: A MORALIDADE SE IMPE A NS COMO
UMA EXIGNCIA DA RAZO
CAPTULO 8. JOHN STUART MILL: SOMOS SERES MORAIS PORQUE
SOMOS FEITOS PARA SERMOS FELIZES
CAPTULO 9. LUDWIG WITTGENSTEIN: SOMOS SERES MORAIS E NADA
MAIS PODE SER FALADO
8
MDULO III questes de tica Prtica
CAPTULO 10. H LIMITES TICOS PARA A CINCIA E A TECNOLOGIA?
CAPTULO 11. EXISTEM RAZES PARA O SUICDIO?
CAPTULO 12. AS CINCIAS E AS ARTES MELHORAM OS SERES
HUMANOS?
CAPTULO 13. IMORAL MODIFICAR O PRPRIO CORPO?
CAPTULO 14. COMO PODEMOS OBTER JUSTIA?
CAPTULO 15. LIBERAIS OU COMUNITARISTAS?
CAPTULO 16. POR QUE PUNIMOS QUEM INFRINGE AS REGRAS DE
CONDUTA?
CAPTULO 17. EXISTEM DIREITOS HUMANOS INABALVEIS?
CAPTULO 18. POR QUE NO PREMIAMOS QUEM HONESTO?
CONCLUSO
9
INTRODUO
tica para Principiantes um texto rascunhado, escrito sem ir alm do rigor
que seria necessrio para introduzir, de forma bem humorada, alguns dos
problemas que normalmente so recorrentes nos debates sobre tica. Ainda, o
leitor exposto s respostas apresentadas por alguns dos pensadores que
contriburam de forma sistemtica para a elaborao das principais
questes que esto relacionadas com os fundamentos da tica. Aquilo que
este livro contm no suficiente para que o leitor possa ser considerado
um iniciado nos assuntos morais depois de ter se exposto forma como eles
so apresentados aqui. Os autores tratados no texto que segue foram
escolhidos a partir de um critrio especulativo com o qual se busca apresentar
uma viso dos aspectos mais relevantes da forma como as questes de tica
so debatidas no mundo anglo-americano e dentro de um vis analtico.
Portanto, eles foram escolhidos por serem autores que, supostamente,
debatem sobre moral buscando alcanar com suas anlises a clareza dos
conceitos e a preciso da argumentao. So autores apresentados a partir do
pressuposto de que eles desejam que o leitor descubra, sem esforo
desnecessrio, o que que eles tem a dizer. E que o leitor seja conduzido s
concluses que eles pretendem apresentar, pela via dos argumentos, ou
encadeamento lgico das sentenas.
Autores, como Hume, Kant, Mill e Wittgenstein, so aqui apresentados sem
nenhuma preocupao em estabelecer uma relao de simetria entre as suas
diferentes contribuies. Suas teorias so examinadas com o explcito intuito
de deixar transparecer apenas o seu estilo de resolver a questo. Saiba, o
leitor que, h todo um outro elenco de temas e uma outra srie de autores que,
apesar de discutirem sobre tica, no so tratados aqui. Intencionalmente,
foram deixados do lado de fora as propostas que ousam fazer concesses
explcitas s abstraes e beiram ao tratamento potico generalizado dos
temas da tica. Esta foi uma limitao imposta ao texto pelo prprio autor.
tica para Principiantes no um texto acadmico e no foi escrito com a
inteno de revelar erudio e profissionalismo. Ele foi escrito pensando em
um leitor que, como todo mundo, sempre teve um interesse particular em
Filosofia, mas que nunca conseguiu arrumar tempo para estudar algo,
supostamente, to difcil e to profundo. Esse leitor que, sem deixar de se
considerar um indivduo honesto, entretanto, nunca conseguiu explicar porque.
Enfim, um texto que se espalha desde questes conceituais, onde se procura
precisar os significados e usos da palavra tica, questes relacionadas com os
fundamentos de nossos juzos morais, at o exame de possveis respostas
10
fundamentadas, que poderiam ser dadas quando se pergunta sobre a
moralidade de certas condutas em particular.
Talvez, grande parte dos leitores venha a se sentir decepcionada com os
resultados da leitura deste texto. Algumas dessas decepes sero,
certamente, causadas pelas limitaes do prprio texto. Outras, entretanto,
podero estar associadas ao prprio carter decepcionante que os textos sobre
tica, em geral, tendem a produzir. O certo que a investigao sobre a
moralidade das condutas humanas implica num esforo no sentido de descobrir
como as nossas aes satisfazem a forma como ns prprios entendemos os
conceitos de bem e de mal. E o resultado dessa investigao no tem sido
muito satisfatrio.
Apesar de estudarmos temas relacionados com esse programa de investigao
h cerca de 2500 anos, entretanto, os problemas continuam a ser,
aparentemente, os mesmos. Ainda hoje fazemos as mesmas perguntas que
eram feitas na Grcia Antiga. Entretanto, as respostas tem mudado. E, nesse
sentido, temos feito progressos, posto que temos descoberto que algumas das
respostas dadas so insatisfatrias e novas respostas so necessrias. E elas
tem sido produzidas. Ainda que algumas dessas respostas apontem para a
impossibilidade de darmos uma resposta final. Contudo, temos feito progressos
e novas respostas tem sido dadas.
Certamente, os leitores que esto em busca de respostas finais e conclusivas
ficaro frustrados. Esta decepo, entretanto, no resulta de uma falha de
tica para Principiantes. O defeito do assunto sobre o qual ele trata.
Aqueles que aderem expectativa do senso comum, que faz com que todos
ns pressuponhamos que em matria de moral s h uma resposta, posto que,
no mais das vezes, s h uma ao que deve ser honesta, ficaro frustrados.
Em tica, por incrvel que parea, no se do juzos finais.
Este livro seria impossvel sem a contribuio dos meus alunos da
Universidade Federal do ABC, especialmente aqueles que trabalharam comigo
nas disciplinas do Bacharelado em Cincias e Humanidades BC&H. Eles
discutiram comigo cada um dos temas que compem os diversos captulos que
aqui esto. Muito deles, como Queli Cristina J. Garia, Brbara Crisia, Alex
Luppe, Fernanda T. Bloise, Bruno Fratta, Victor Mello de S, Mariana Pinheiro
Oliveira, Sandy Evelyn Souza, Gabriel V. A. Ruiz contriburam com idias e
textos. Fica aqui registrada a minha gratido a todos eles. Agradeo, ainda, o
apoio e estmulo recebido da Dra. Itana Stiubiener, Coordenadora do Curso de
Especializao em Cincia e Tecnologia, ministrado pela UAB da UFABC. Sem
sua iniciativa no teramos os recursos para levar a termo a publicao deste
material.
De todas as idias desconfortveis que este livro contem, creio que a mais
significativa o ttulo inoportuno que ele recebe. tica para Principiantes
11
um ttulo que incomoda. Na verdade, ningum se julga principiante em matria
de moral. A nossa percepo, baseada no senso comum, de que somos
seres morais e que podemos estar seguros que, em nossas condutas,
prevalece a tica. Ningum est disposto a se considerar um principiante na
prtica do bem. Este livro pretende mostrar que essa nossa percepo
equivocada. No possvel dizer com segurana que somos seres ticos, no
sentido que privilegiamos a prtica do bem; nem mesmo que somos seres
maus. O fato que as teorias tem revelado que os conceitos de bem e de mal
so extremamente problemticos. No sabemos com preciso o que queremos
dizer quando afirmamos que nossas aes so boas ou ms. Entretanto, temos
feito progressos. H j algumas aes que, por motivos razoveis, podemos
dizer, com alguma segurana, que so aes ms. Talvez seja seguro dizer
que todos ns temos um forte desejo de sermos indivduos morais, de
praticarmos o que certo. Entretanto, fique o leitor avisado, que, quando se
trata de determinarmos qual a conduta que certa, e por quais razes, somos
todos principiantes.
12
CAPTULO 1.
O QUE A TICA INVESTIGA?
Todos ns usamos a palavra tica. Costumamos dizer que certas aes so
anti-ticas, ou imorais, ou, ainda, que so expresso da maldade. Com essas
palavras queremos expressar nosso repdio ou condenao, da ao que
assim caracterizada. Portanto, a imoralidade, num certo sentido a
propriedade que atribumos a certas aes pela qual ns consideramos que
essas aes ferem, ou no respeitam a tica. As aes que desrespeitam a
tica, so aes ms, ou condenadas. Isto , so aes que no devem ser
praticadas pelas pessoas. Assim, somente as nossas aes podem ser boas
ou ms. Bondade e maldade so propriedades de aes. Somente em sentido
metafrico, podemos dizer que idias, sentimentos, pessoas, coisas, como
comidas, instituies, pases, partidos polticos e governos so bons, ou maus.
Costumamos prescrever as aes que consideramos boas e as que
consideramos ms em conjuntos de sentenas. Essas sentenas prescritivas
formam o que chamamos de cdigos morais, ticos, de conduta, ou ainda
sistemas legais e normativos. Assim, nesse primeiro sentido, a palavra tica
significa um cdigo de conduta e sua relao de aprovao ou desaprovao
de uma determinada conduta. Chamamos, portanto de tica o conjunto de
regras, ou princpios que orientam as aes de grupos de indivduos. Esses
Cdigos dizem quais as aes que so boas e quais so as aes ms. Quais
as aes que so permitidas, as obrigatrias e as proibidas. Isso tambm
chamado de tica Prtica.
Num outro sentido, chamamos tambm de tica uma rea de estudos que
procura esclarecer as idias e teorias que usamos quando construmos cdigos
de conduta e quando avaliamos se as nossas aes respeitam ou transgridem
as regras morais. Nesse sentido, normalmente, a tica uma disciplina que
existe nas diferentes matrizes disciplinares de diversos cursos, desde o ensino
mdio at o ensino superior. Assim, a tica tambm o estudo sistemtico dos
conceitos que utilizamos nos argumentos e nas discusses morais. Essas
discusses so, tambm, reunidas numa disciplina que se chama Filosofia
Moral.
Num terceiro e ltimo sentido, a palavra tica pode indicar ainda um trabalho
de nvel mais abstrato, mais profundo. Muitas vezes, desejamos investigar
13
como que construmos as nossas discusses sobre os problemas que
consideramos morais. A investigao sobre quais os critrios para sabermos se
um argumento usado na prova que uma determinada conduta imoral, uma
tpica investigao da tica nesse sentido profundo. Portanto, a tica
tambm o estudo das condies de possibilidade dos prprios argumentos
morais e, ento, chamada de Metatica.
A tica, enquanto conjunto de regras que orientam as aes existe em todas as
sociedades humanas, e talvez at, mesmo, entre os nossos parentes mais
chegados no-humanos. Ela pode ser interpretada como sendo resultado da
evoluo de mamferos de vida longa, sociais e inteligentes, que possuem a
capacidade de se reconhecer entre si e de recordar o comportamento anterior
dos outros. Muitos animais, aparentemente, tem regras de conduta que so
apreendidas de experincias anteriores acumuladas e que todos os membros
de uma comunidade adotam em seus comportamentos individuais.
Os seres humanos so animais racionais e certo que h diferenas entre as
formas como os seres humanos e os animais (primatas) estabelecem relaes
entre as regras e seus respectivos comportamentos. Isso, entretanto, no
suficiente para afirmar que algumas espcies de animais (primatas) no so
capazes de identificar as aes que devem ser praticadas em certas situaes
de ao.
Costuma-se dizer que os animais humanos so racionais e, nesse sentido,
distinguem-se dos demais animais. Entretanto, qual o papel da razo humana
na construo de regras de conduta e nas avaliaes morais?
As respostas dadas a essa questo tem separado as investigaes ticas em
duas direes diferentes:
1. De um lado h aqueles que, como David Hume (1711-1776), afirmam
que o fundamento da tica deve ser encontrado nas nossas emoes,
ou paixes. Assim, a razo torna-se muito menos significativa na tica, e
h aproximaes entre a nossa tica e a dos animais no-humanos.
2. De outro lado h aqueles que, como Emmanuel Kant (1724-1804),
afirmam que o fundamento da tica est na prpria racionalidade
humana. A bondade, ou maldade, das aes determinada
imperativamente por certas caractersticas constitutivas da prpria razo
humana e uma exigncia da nossa capacidade de nos entendermos
como seres morais. Nesse sentido, h um abismo que separa o
comportamento tico dos humanos e as aes praticadas por animais.
Em ltima instncia os debates entre Humeanos e Kantianos resultou em
separar as opositores em duas categorias. De um lado esto aqueles que
14
afirmam que a bondade e a maldade das aes esto relacionadas com algo
que ocorre no sujeito que pratica a ao. H, entretanto, aqueles que
consideram que as aes humanas so boas ou ms em funo de algo que
no depende de caractersticas particulares do agente, mas esto associadas a
algo que existe em todos os seres humanos de uma forma geral.
1. Hume, sustenta que aquilo que devemos fazer apontado pelo nosso
sentimento, ou emoo moral.
2. Kant, afirma que a pergunta fundamental da tica: O que devo fazer?
respondida por nossos juzos ticos, os quais derivam de uma
compreenso intelectual imediata de uma verdade evidente por si
mesma. Deste modo, podemos conhecer intuitivamente que uma ao
correta sem termos que pensar nisso. Entretanto, a bondade ou
maldade das aes decorrente da prpria natureza racional dos seres
humanos. Somos dotados de uma dimenso fsica e natural que
regulada pelas leis da natureza. E, por outro lado, somos seres livres e
responsveis. Isso nos torna seres morais.
Entretanto, todos precisam dar conta da seguinte questo: ainda que existam
razes objetivas, ou subjetivas, para praticar certas aes, h necessidade de
que essas razes, por si ss, sejam razes para necessariamente agir de certa
forma. Os Kantianos, ou deontolgicos, ou objetivistas insistem que preciso,
portanto, mostrar que certas razes so motivaes para a ao
independentemente de nossos desejos. Que a moralidade das aes no
determinada pelos desejos que possumos. H desejos que so imorais.
Portanto, o que determina se uma ao imoral ou no, no so os nossos
desejos. Mas, alguma coisa que poderia ser chamada de razes desses
desejos. Por outro lado, os Humeanos, finalistas ou subjetivistas, insistem que
as motivaes que no despertam desejos no se traduzem em aes.
Portanto, os desejos que so relevantes para determinar a moralidade de
nossas condutas. Agimos de certa forma, porque desejamos agir dessa forma.
O comportamento moral ou tico, aquele que se impe em funo da
necessidade do resultado que esperado. So os resultados de nossas aes
que determinam a sua moralidade. H resultados bons e h resultados maus.
As aes so boas ou ms, conforme sua relao com a bondade ou maldade
de seus resultados.
O debate no foi concludo. Tem havido avanos nas diferentes posies: Os
kantianos tentam antes estabelecer as razes para agir que aceitaramos se
raciocinssemos sob certas condies ideais - por exemplo, se estivssemos
completamente informados, no influenciados pelos nossos interesses, e
pudssemos imaginar como seria estar na posio de todos os outros que
fossem afetados pela nossa ao. Os Humeanos reconhecem a necessidade
15
de conceder um espao para o desacordo e para a argumentao racional
acerca da tica. Assim, embora continuem a defender o ponto de vista de que
os nossos juzos ticos se baseiam nos nossos desejos, no defendem que
qualquer desejo pode formar essa base. Temos desejos imorais e, portanto, h
desejos maus e que resultam em aes imorais. H desejos que so mais
desejveis do que outros e h desejos indesejveis.
NOTAS BIBLIOGRFICAS:
1. Para uma leitura mais extensa sobre o assunto deste captulo, leia o
texto: O Que tica?, de Peter Singer, disponvel em:
http://www.oocities.com/vascocas/Singer1.htm
16
CAPTULO 2.
POR QUE DEVEMOS SER TICOS EM NOSSAS AES?
Todos os seres humanos se consideram indivduos que agem de forma correta.
Agir de forma correta significa praticar o bem, fazer o certo, realizar a ao
conforme as razes que definem o que deve ser feito. Entretanto, o que
queremos dizer com tudo isso? No sabemos muito sobre o significado de
palavras tais como agir de forma correta, praticar o bem, fazer aquilo que deve
ser feito. Por que uma forma de agir a forma correta? Porque o bem.
Entretanto, se insistirmos na pergunta e continuarmos perguntando, mas, por
que o bem? A resposta, certamente, ser que, correta porque o que deve
ser feito. E uma ao deve ser praticada porque a forma correta de agir.
Assim, teremos completado o crculo e voltado questo inicial. Afinal, por que
uma forma de agir correta?
Por outro lado, ignorando o significado correto dos conceitos que empregamos
quando realizamos os nossos juzos morais, no poderemos dizer o que
estamos fazendo quando avaliamos a moralidade de nossas aes. Ser que
sabemos realmente o que estamos dizendo quando afirmamos que somos
seres ticos? O fato que todos ns concordaramos que a tica tem a ver
com a realizao da "excelncia" do humano atravs de nossas aes. A
"excelncia" a perfeio, ou seja, o completo desenvolvimento das
potencialidades humanas.
Ser tico significa agir de forma "excelente", isto sem erros, de forma perfeita.
Ao que tudo indica, a tica est relacionada com a perfeio do agir humano.
Assim, a tica, da mesma forma como a Arte (Msica, Dana, Escultura,
Pintura...) e a Literatura (Poesia, Romance, Novela...) est associada
realizao de algo perfeito. No se consegue pensar sobre tica sem ter a
noo de "perfeito". Resta saber o que significam palavras, tais como,
perfeio, excelncia.
O debate sobre a construo de sistemas de interpretao do significado
desses conceitos constitui grande parte daquilo que chamamos tica. Alguns
participantes desse debate tem defendido que a construo de sistemas
interpretativos desses conceitos deve ser tentada para ficar evidente que
essa uma tarefa impossvel de ser realizada. Assim, as perguntas sobre a
bondade e a maldade das aes humanas so perguntas absurdas, posto que,
ao perguntarem sobre o significado de algo que no tem significado, elas
formulam falsos problemas. Essas perguntas no podem ser respondidas. Para
17
esses debatedores, sabemos o que significam aes moralmente corretas,
sabemos o que devemos fazer em todas as situaes. Trata-se de um
conhecimento que no tem relao com nossos esforos para sermos
racionais, ou formularmos pensamentos racionais sobre as coisas. No
podemos pensar esse conhecimento atravs da linguagem natural. Talvez seja
possvel expressar esse conhecimento de alguma forma. Entretanto, no
atravs da linguagem natural.
Outros participantes desse debate, entretanto, insistem que existem legtimos
problemas relacionados ao significado de termos como perfeio, bondade,
maldade. Isto , h de fato, perguntas que podem ser formuladas e respostas
que podem ser dadas, no sentido de construirmos sistemas interpretativos
dessas palavras. Assim, atravs do trabalho de nossa razo, ou inteligncia,
temos feito avanos e esses conceitos tem se tornado mais claros e seu uso
mais preciso em nossa linguagem natural.
Aquilo que chamamos de tica, se associa, de alguma foma, ao que, na
linguagem natural - falada e escrita - pode ser considerado como a perfeio,
ou excelncia do agir humano nas diferentes situaes onde possvel agir.
Quando construmos um robot, ou danamos uma msica, ou pensamos sobre
a perfeio, estamos agindo. Essa ao pode ser perfeita ou excelente. Como
chegamos aos contedos informativos que nos convencem que a ao foi
perfeita o que a tica pretende mostrar.
Alm dessa dificuldade de esclarecermos os nossos conceitos quando
tratamos de assuntos de tica, certo que, nem sempre agimos conforme as
razes que ns mesmos construmos para nossas aes. Normalmente,
estamos todos inseridos num ativismo que nos faz agir de forma compulsiva e,
nesse sentido, em um grande nmero de ocasies dizemos que nossas aes
so mecnicas. Sabemos, contudo, que ao agirmos sem um exame cuidadoso
das implicaes de nossas aes, somos incapazes de identificar a
conseqncias que se seguiro dessas aes. E algumas aes tem
conseqncias desagradveis que, certamente, desejamos evitar. Aes
irrefletidas e mecnicas, quase sempre so repeties de crenas e escolhas
de outras pessoas e refletem as perspectivas de outro agente. Somente o
exame de nossas razes para agir pode nos revelar se, de fato, desejamos as
conseqncias de nossas aes.
Entretanto, para examinar as relaes entre as nossas aes e suas
conseqncias, com especial ateno ao nosso desejo de obter todas as
conseqncias de nossas aes, necessrio que pensemos sobre as
questes morais de forma mais abstrata. Ao teorizar poderemos realizar uma
reflexo sistemtica, empregar conceitos mais precisos e construir argumentos
mais consistentes. A teorizao no nos impedir de errar. Mas, aumenta a
nossa chance de prever conseqncias desagradveis de nossas aes,
especialmente as conseqncias inesperadas.
Assim como ocorre na investigao sobre outros assuntos, quando nos
voltamos para as questes ticas, as teorias que construmos como respostas
18
s nossas indagaes so quase sempre hipotticas e conjeturais. No temos
garantias de que sabemos exatamente do que estamos falando. Os conceitos
ticos, como todos os demais conceitos que empregamos so instrumentos
com os quais pretendemos dar um significado s nossas aes. Todo o debate
tico uma tentativa de formular perguntas sobre os juzos que fazemos de
nossas aes e de ensaiar respostas para essas questes. No h garantias
que as nossas perguntas so, verdadeiramente, perguntas sobre aquilo que
realmente so as nossas aes. No sei se quando pergunto sobre o contedo
do conceito de bem, estou questionando sobre algo que existe objetivamente
no mundo real ou se apenas uma inveno de minha mente. No h como
decidir se as aes so, em si mesmas boas ou ms. Sei que construo teorias,
ou construes mentais, com as quais pretendo dar uma resposta para a
pergunta que interroga sobre a bondade ou maldade de uma ao em
particular.
As discusses morais, como todas as demais discusses racionais, se do
num ambiente de realismo moderado. Examinamos de forma crtica as teorias
que so nossas construes mentais e com as quais pretendemos dar sentido
a algo que parece estar fora do mundo onde se processam as nossas
operaes mentais. No dispomos de critrios que nos permitam decidir, de
forma positiva, se estamos elaborando as nossas teorias em correspondncia
realidade. No dispomos de instrumentos que nos permitam dizer quando
que nossas teorias correspondem realidade. Entretanto, no abandonamos a
esperana de construir teorias que expressem a realidade. No necessrio
abandonar a teoria correspondencialista da verdade para aceitar a idia que
nossas teorias so provisrias. Alm disso, de vez em quando, podemos
descobrir que estamos errados em nossas teorias. E isso parece demonstrar
que h algo, de fato, existente no mundo real e que no depende de ns para
existir. Parece que h algo que no uma pura inveno nossa. Quando
minhas experincias do mundo revelam que o mundo no da forma como
suponho que seja em minhas expectativas, ento, de alguma forma, sou levado
concluso que o mundo no uma inveno minha.
Portanto, na medida em que essas consideraes so aplicveis aos debates
sobre tica, embora no possamos decidir com certeza quais so as aes
melhores, em algumas ocasies, com algum esforo, somos capazes de
descobrir que algumas de nossas aes so, em algum sentido, deficientes.
Isso pode parecer que no muito. Mas, melhor do que nada. Atravs da
tica, com todas as imprecises e limitaes do discurso tico, poderemos
tentar dar um sentido ao nosso agir e evitar algumas situaes que causariam
repulsa e nos dariam a percepo de que estamos longe da nossa a felicidade
ou prazer; do nosso dever, virtude ou obrigao; e da nossa perfeio. Isso,
independentemente, do que quer que seja que entendamos por perfeio,
dever ou felicidade. Certamente, entretanto, ficaremos mais satisfeitos se as
afirmaes sobre o significado e as implicaes desses conceitos forem algo
que possa ser demonstrado atravs da argumentao.
19
CAPTULO 3.
H DISTINO ENTRE TICA E MORAL?
De uma forma geral, as palavras tica e Moral tem sido usadas de forma
indiferente e com elas desejamos significar as mesmas coisas. Dessa maneira,
todos os significados que atribumos palavra tica so susceptveis de serem
designados pela palavra Moral. Podemos falar em Moral, no sentido de Cdigo
Moral, de estudos para elucidar o significado de conceitos que usamos nas
discusses sobre a bondade e maldade das aes. Moral, pode significar,
ainda, a discusso sobre as condies em que se d o conhecimento dos
conceitos que usamos nos debates sobre tica. tica e Moral so palavras que
tem o mesmo significado etimolgico, apesar de que tem grafias diferentes em
suas lnguas de origem. Assim, a palavra tica vem da lngua grega (ethos) e a
palavra Moral vem do latim (mores).
Entretanto, h os que defendem a separao de moral e tica. Eles costumam
dizer que a Moral expressa os costumes, as tradies e as regras de conduta
em grupos sociais especficos. Assim, a Moral refere-se aos hbitos, aos
comportamentos dos seres humanos e s regras de comportamento adotadas
pelas comunidades, prescrevendo o que bom ou mau, correto ou incorreto,
no carter ou conduta humana. Enquanto que, a tica estaria igualmente
relacionada ao que bom ou mau, correto ou incorreto, mas no campo de uma
reflexo filosfica sobre a moral, buscando conferir racionalidade s idias de
bom ou mau, correto ou incorreto.
Ao tratarmos dessa suposta distino, se deseja evitar que parea simples e
resolvido um problema srio que essa distino parece esconder. Ocorre que
essa distino, permite pensar que uma atitude moral possa ser anti-tica.
Assim, um hbito, um costume, uma tradio ou um cdigo de conduta, que
caracterizaria a moral de um indivduo ou coletividade, poderia ser considerado
como contrrio ao bem, ao conceito de bondade obtido atravs da especulao
tica. S para dar um exemplo. Aceita essa distino, ento, seria possvel
considerar que as touradas so moralmente justificveis, apesar de serem
condenveis do ponto de vista da tica. Isto , de um ponto de vista histrico,
social ou cultural, participar de touradas mesmo como espectador - pode ser
considerado um comportamento moral. Esse comportamento corresponde a
padres de costumes ancestrais de certas sociedades e, nesses termos,
20
forma de agir aceitvel e at desejvel. Enquanto que, a reflexo tica sobre o
assunto dificilmente encontraria uma razo para aceitar como justificado um
espetculo pblico de maltrato de animais.
certo que no possvel decidirmos sobre algo que costumamos chamar de
moralidade das aes sem nos socorrermos de conceitos que tem sido
produzidos no mbito dos debates ticos. Isto significa que, no h como falar
em comportamentos moralmente aceitos sem nos referirmos quilo que
consideramos ser a bondade ou a maldade das aes. Isto revela que, na
hiptese de se pensar em separar os conceitos de tica e de Moral, estaramos
fadados ao fracasso, pois no possvel entendermos um conceito sem
recorrermos ao outro. Eles seriam conceitos cujos contedos so coincidentes.
Portanto, podemos considerar essa distino desnecessria. Ela s faz por
tornar o assunto, cuja complexidade evidente, em algo ainda mais confuso,
cheio de termos com significados artificialmente prefixados e de distines
cujas sutilezas no correspondem s necessidades dos problemas que se tem
em mos. Fica aqui, portanto, a sugesto que esses termos devem ser tratados
como sinnimos. Ao que tudo indica, no h ganhos que possam ser
adquiridos com essa separao meramente retrica.
NOTAS BIBLIOGRFICAS:
Para uma leitura mais completa sobre esse tema, veja o texto; tica e Moral:
uma distino indistinta, de Desidrio Murcho, disponvel em:
http://criticanarede.com/html/fil_eticaemoral.html
21
CAPTULO 4.
PODE O DIREITO SER IMORAL?
Existem duas situaes diferentes em que, de modo habitual, emprega-se o
termo tica e que, aqui, se gostaria de destacar. Em cada uma delas, contudo,
embora existam elementos comuns, obtm-se resultados que, conforme
pretendemos aqui, no podem ser confundidos. Em seu primeiro sentido a
palavra tica indica a discusso filosfica (Metatica); em seu segundo sentido
ela aponta para a discusso jurdica (tica Normativa) .
Num primeiro sentido usa-se a palavra tica para designar o tipo de discusso
que se estabelece quando so tratadas as condies de elaborao das regras
com as quais se pretende que sejam conduzidas as aes humanas. Assim,
essa discusso envolveria a formulao dos princpios com os quais se deseja
construir um modelo de ao humana que justifique a elaborao de regras de
conduta. O resultado que se obtm um discurso filosfico, atravs do qual
tratamos de expor teorias e explorar a validade dos argumentos apresentados.
Nesse primeiro sentido, a tica uma disciplina filosfica, onde as idias so
tratadas seriamente quando elas so submetidas a uma rigorosa avaliao
crtica. E avaliar criticamente as teorias significa descobrir o que h de errado
com elas. Porm, devido maneira como so formuladas essas teorias elas
no esto sujeitas a teste emprico. No sendo, portanto, possvel test-las
atravs de experimentos concretos. O carter desse discurso filosfico est
justamente no fato de que, no podendo ser recusadas por razes
experimentais, as teorias ou solues filosficas podem ser apresentadas
novamente sempre que nos defrontamos com os problemas que com elas
pretendemos resolver. Se esta anlise estiver correta, uma discusso filosfica
estar sempre voltada para o estudo da relao existente entre uma teoria e
uma determinada situao-problema.
Assim, as discusses filosficas da tica se expressam hoje no debate entre
dois grandes paradigmas. H a chamada tica Normativa que estuda os
princpios racionais a partir dos quais se pode inferir as regras de
comportamento considerado moralmente prefervel e a Metatica que estuda
os mtodos de argumentao moral e o significado lgico dos conceitos que
so utilizados nas discusses morais.
22
Os estudos de tica Normativa se dividem em Deontologistas que afirmam
que os critrios fundamentais para a justificao dos juzos ticos esto nas
noes de dever e obrigao; e Consequencialistas que entendem que os
juzos morais se justificam em funo de critrios capazes de avaliar os
resultados que so obtidos atravs das aes consideradas morais.
Os seguidores da Metatica se dividem em duas correntes. Primeiramente, os
Cognitivistas, que entendem que os conceitos morais designam entidades
naturais existentes no mundo. Dentre estes h os Intuicionistas que
consideram que esses conceitos no se reduzem aos objetos de outras reas
de conhecimento, constituindo-se em conceitos propriamente morais e os
Naturalistas que consideram que os conceitos morais indicam objetos do
mundo real que podem ser empiricamente testveis, podendo ser reduzidos
aos conceitos das demais cincias. Existem, ainda os No-Cognitivistas que
afirmam que os conceitos morais no descrevem entidades existentes no
mundo real, mas expressam atitudes ou emoes; os conceitos morais servem
para comandos ou recomendaes que no traduzem objetos existentes na
realidade.
Toda essa caracterizao das diferentes posies que tem sido defendidas nos
debates ticos serve para mostrar como tem havido empenho e trabalho na
busca de soluo para os problemas que a investigao moral pe. De uma
forma geral se tem feito um enorme investimento de trabalho na investigao
filosfica dos problemas da conduta humana. Tem havido progresso. Assim,
com exceo da viso No-Cognitivista, todos os paradigmas de reflexo
sobre tica admitem que os juzos morais so justificveis e que, portanto, a
racionalidade humana instrumento eficaz na tentativa de desvendar os
problemas da conduta correta.
Para a tica, tomada em seu primeiro significado, se pe de forma obrigatria a
pergunta por aquilo que se quer dizer quando se afirma que uma ao boa,
ou m. Isto , o que se quer dizer quando se afirma que se deve fazer isto, ou
que no se deve fazer aquilo? Portanto, conforme j foi dito, as questes
fundamentais da tica concernem busca da natureza da bondade e da
maldade, definio daquilo em que consiste o dever, e, principalmente,
determinao da extenso da capacidade que o ser humano possui de formular
interpretaes racionais, ou fundamentadas, para suas aes. Portanto, de
uma forma geral, os problemas fundamentais da tica dizem respeito s
nossas concepes sobre a moralidade, natureza dos julgamentos morais e
especialmente possibilidade da justificao desses julgamentos.
Estas perguntas fundamentais para a vida humana tm sido centrais no
desenvolvimento da Filosofia desde suas prprias origens. E, a partir do
conceito de discurso filosfico acima esboado, da mesma forma como as
23
perguntas se repetem, de igual forma se reapresentam as mesmas solues. A
importncia da soluo correta pode ser sentida a partir da constatao de que
a promessa de qualquer projeto tico a felicidade, a realizao do dever, o
bem-estar. Todos os sistemas ticos prometem fazer com que os indivduos
consigam o melhor de suas prprias vidas.
Uma vasta quantidade de material bibliogrfico tem sido produzida sobre estas
questes. Isto particularmente verdadeiro se considerarmos a Filosofia Anglo-
Sax. Contudo, algumas das posies tm sido seduzidas pelo anseio de dar
uma resposta rpida e simples. Por isto, de uma forma geral, no conseguem
escapar de enfoques que caem no Ceticismo, alegando que no h resposta
racional para os problemas ticos, reduzindo, portanto, a moralidade ao reino
da vontade cega. Ou ainda, caminham na direo do Positivismo, que no
esforo de tornar justificveis os juzos morais, converte a moralidade ao reino
dos fatos, transforma a tica no imprio da lei, tomando o justo por aquilo que
existe definido na lei.
O ponto de partida do Positivismo est na afirmao que as respostas para as
questes ticas se encontram na anlise da realidade concreta. Nesse sentido,
o foco central de anlise o fenmeno no qual a tica se expressa, isto a lei.
Portanto, de uma forma geral os Positivistas pretendem reduzir o estudo dos
problemas morais ao estudo da lei. A teoria positivista incorpora a concepo
de lei como comandos que so garantidos por sanes. Nesse sentido para o
positivismo legal a lei um fenmeno social.
A teoria positivista da lei no parece, contudo, uma posio sustentvel. O
Positivismo sustenta a tese que o estudo cientfico da lei necessita
corresponder ao tratamento daquilo que se pode concluir a partir da anlise de
dados empricos. Assim, pensar as leis como comandos parece corresponder
evidncia emprica. Contudo, ao fazer isto ns j comeamos a teorizar sobre a
natureza da lei. Pois as leis no so costumeiramente escritas num tom
imperativo. Um dispositivo criminal, por exemplo, diz o que deve ser feito a uma
pessoa que age de uma certa maneira. Ao pensar sobre isto como um
comando que probe uma certa conduta, ns estamos examinando aquilo que
se encontra sob a gramtica superficial do texto da lei. Essa forma de entender
o dispositivo legal corresponde ao esforo de entender como ele funciona. Um
dispositivo legal no uma predio emprica do que vai acontecer a uma
pessoa que se comporta de uma certa forma. As conseqncias s quais ele
se refere no so naturais e, nesse sentido no pertencem ao mundo emprico.
Em vez disso, ele estabelece as conseqncias legais. posto para ser
seguido, para regular o comportamento daqueles que podem ser tentados a
agir de outra forma, bem como daqueles que so encarregados de
supervisionar a obedincia da lei
24
O que estaria errado com o Positivismo tico? As dificuldades que ns
encontramos com sua interpretao da lei sugerem que alguma coisa pode
estar fundamentalmente errada com ela. O Positivismo tico parece estar
errado em dois pontos.
Primeiramente, a tese que a lei um fato social susceptvel de estudo
emprico no parece sustentvel. O fato que grande parte daquilo que
identificamos como realidade social no meramente 'dado' pela natureza,
mas um produto da atividade humana e 'configurado' pelas idias humanas.
Assim como outros fenmenos sociais, os fenmenos legais 'pressupem
idias'. E as idias influem na prpria produo da realidade social da lei. Isto
, as leis possuem determinadas formas porque ns temos idias de que elas
so de certas maneiras.
O que tudo isto parece revelar que, em algumas de suas verses, as
discusses filosficas continuam presas ao contexto das solues positivistas e
cticas sobre o sentido da moralidade das aes.
H um sentido em que a palavra tica utilizada para designar as formas de
comportamento das pessoas ou o conjunto de leis e dispositivos normativos
positivos, com os quais se pretende organizar as relaes de convivncia das
pessoas que vivem em sociedade. Essas leis teriam um poder cogente sobre
os indivduos, de tal forma que, quer pelo poder de um soberano ou de uma
instituio que expresse o poder de obrigar nas sociedades, os indivduos se
vm sob uma autoridade que os coage a obedecer a lei. nesse sentido que a
tica se confunde com o Direito.
Portanto, somente num certo sentido, quando tomamos em considerao
aquilo que resulta, em termos de linguagem, que se pode falar em diferenas
entre tica e Direito. A tica o nome que damos aos resultados de nossas
discusses filosficas sobre a bondade e maldade de nossas aes e certas
dificuldades de elaborarmos sistemas normativos. Um dos sentidos que
atribumos palavra Direito aquele em que ela expressa o resultado de
nossos estudos cientficos sobre a construo e aplicao de sistemas
normativos. Assim, no h distino entre o significado dos conceitos
empregados nas discusses de Direito e nas discusses ticas. Condutas
consideradas boas em uma discusso tica, no podem ser consideradas ms
em uma discusso jurdica. No h diferena entre o bom e o justo, como no
pode haver divergncia entre o que tico, ou moralmente justificado e o
juridicamente correto. Toda conduta que boa igualmente justa de um ponto
de vista jurdico, e toda conduta justa boa moralmente. Justas e boas so as
condutas que podem ser justificadas em funo daquilo que consideramos
como os critrios de moralidade. No h duplicidade de critrios para o
25
juridicamente correto e o moralmente justificvel. Quando o bom e o justo no
coincidem h um erro de avaliao moral.
26
CAPTULO 5.
MORAL NO SE DISCUTE?
Ser que existem, de fato, argumentos nos debates sobre tica? As pessoas,
de uma forma geral, acreditam que assuntos relativos moral no so
passveis de discusso. As razes pelas quais as pessoas acreditam que sobre
Moral no se discute esto associadas com a impresso generalizada que os
juzos morais so injustificveis e no preciso argumentar para manter a
afirmao que uma conduta imoral. Tem-se a impresso que as pessoas so
boas ou ruins e que atos praticados por pessoas bondosas so atos bons e os
atos praticados pelos maus elementos so sempre maldades. Alguns seres
humanos so do bem e outros so do mal. Muitos apontam como sinal da
grande ineficincia dos estudos ticos o fato de no apresentarem provas
conclusivas a respeito de muitos assuntos. Para estes, os debates envolvendo
a moralidade das condutas das pessoas implicam, to somente, na
apresentao de meras opinies individuais sem necessidade de qualquer
fundamento. Entretanto, muitos juzos morais so passveis de provas. As
provas so diferentes das provas cientficas, pois no h observaes e
experincias, para serem usadas como fundamento daquilo que alegado,
mas razes, argumentos e princpios.
Durante a nossa existncia, ao fazermos julgamentos e ao sermos julgados,
ns, seres humanos dotados de inteligncia e conscincia, recorremos aos
argumentos morais para tentar justificar, validar ou impor nossas opinies a
propsito de nossas atitudes. O que fazemos sistematicamente, ento, apoiar
nossos argumentos em boas razes e oferecer explicaes da importncia
deles.
Conforme tem sido j argumentado, o motivo de tantas pessoas ainda
acreditarem que no h provas em tica e que tica no se discute, , em
grande parte, devido a trs motivos principais. Primeiro, temos uma idia fixada
em nossas mentes, como se fosse um padro, que afirma a necessidade de
observaes e experincias para provar alguma afirmao. Acreditamos que
sem provas empricas nossos argumentos no podem produzir concluses
sustentveis. Entretanto, no so s os debates sobre tica que se baseiam
em argumentos construdos sem apelo a dados experimentais. Em diversos
campos da cincia moderna tambm somos incapazes de demonstrar
27
empiricamente nossas teorias. Apenas como exemplo, se poderia citar, a fsica
quntica ou a existncia da fora e a atuao do inconsciente. Entretanto, esse
fato no retira de alguma dessas teorias o mrito de ser conhecimento vlido.
Assim, at mesmo a Cincia que muitos julgam ser titular de uma verdade
absoluta, possui aspectos que no podem ser comprovados empiricamente.
certo que, mesmo em cincia, algumas teorias so aceitas por conveno ou
com especfica referncia sua base terica.
Muitos acreditam que tica no se discute por um outro diferente motivo. Eles
acreditam que os debates morais acontecem sempre de tal forma que no
ocorre acordo entre as partes. A discrepncia de pontos de vista, nem sempre,
vencida atravs de discusses ticas. Essa inconclusividade tida por muitos
como sinal de inutilidade de se tentar decidir questes ticas atravs da
apresentao de argumentos. Muitas pessoas pensam que as questes ticas,
que envolvem a identificao da bondade e maldade das aes so decididas
pela simples manifestao da vontade dos implicados na ao. E, de uma
forma geral, so levados a pensar que os mais poderosos, os mais ricos, os
mais virtuosos, enfim, as autoridades em moral que decidem o certo e o
errado. E os seus juzos no precisam, ou no podem ser justificados. As
pessoas que pensam assim, entretanto, no percebem que esse quadro de
indecidibilidade, no que concerne diferena de pontos de vista nos debates
morais, tpico dos chamados casos difceis, ou questes complicadas. H
uma gama enorme de temas em relao aos quais h um certo consenso entre
os defensores das mais diversas teorias morais. De uma forma geral, se pode
dizer que grande parte das teorias morais tem contribudo na identificao das
imoralidades, ou na condenao de certos atos imorais. A intolerncia, a
violncia, a tortura, a corrupo, o autoritarismo tem sido condenados por todas
as teorias morais. O que isso significa que h um enorme acervo de vcios,
ou aes malignas, cujas imoralidades todas as teorias morais so unnimes
em reconhecer. As teorias morais so marcadamente inconclusivas quando se
trata de examinar casos difceis e extremos, cujas caractersticas, nem sempre,
esto presentes nas cotidianas situaes de ao.
Finalmente, h um terceiro motivo para se alegar que tica no se discute. Ele
est relacionado com a afirmao que, ainda quando o debate moral capaz
de revelar que h fortes argumentos a favor de um veredito, entretanto, por
mais verdadeiro que seja o argumento, nem por isso as pessoas haveriam de
mudar sua forma de ao. Isto , ainda que o debate fosse capaz de revelar a
verdade, nem por isso as pessoas se deixariam persuadir por aquilo que
mantido pela fora da argumentao. Isso de fato ocorre. E muitos tomam isso
como uma demonstrao de que esto corretos ao afirmarem que tica no se
discute, ou que a discusso sobre Moral no leva a coisa alguma. Entretanto,
aqueles que assim entendem no percebem que a finalidade dos argumentos
ticos no persuadir algum a praticar aquilo que posto como concluso
28
das teorias. O objetivo que pretendemos alcanar com a elaborao de
construes tericas, como costumam ser os raciocnios ticos construir as
melhores interpretaes, ou propor as concluses que so apoiadas nos
melhores argumentos. E os melhores argumentos so aqueles que partem de
pressupostos que as pessoas de uma forma geral esto dispostas a aceitar,
que no envolvem outros problemas maiores do que aqueles que com elas se
pretende resolver, que no implicam na negao de outras teorias que no
estaramos dispostos a descartar. Enfim, os debates ticos acontecem da
mesma forma como acontecem os demais debates que somos capazes de
construir. Os debates ticos tem por finalidade persuadir o interlocutores a
propsito da validade dos argumentos que so postos. Os argumentos morais
so elaborados independentemente da disposio dos interlocutores de
executarem ou no as concluses que so alcanadas nos debates.
Moral se discute porque a discusso, o confronto crtico dos argumentos, a
forma como algumas tradies intelectuais tem interpretado a maneira de se
exercer a razo humana. nosso desejo de empregar nossa razo na
avaliao de nossas condutas que tem nos levado a pensar os problemas
morais atravs do confronto de teorias diferentes. Trata-se, portanto, de um
exerccio da razo. E esse exerccio no implica, necessariamente, na
submisso de nossa vontade s concluses que esse exame racional alcana.
Em tica, pelo fato de que o melhor argumento pode levar concluso que nos
desagrada, principalmente pelo fato dela poder exigir que faamos coisas que
no queremos, s vezes, escolhemos no dar ouvidos razo.
Os debates ticos deixam claros os confrontos entre a nossa razo e nossa
vontade. Eles revelam a nossa ambigidade enquanto somos seres que
entendemos as coisas, entendemos como nossas aes podem ser
consideradas em termos de bondade e maldade, mas que desejamos, muitas
vezes sem saber as razes para isso, nos comportar de uma certa forma.
Talvez essa seja a razo pela qual o texto Apologia de Scrates, escrito por
Plato, cerca de 400 anos antes de Cristo, continua a ser lido como uma
espcie de texto emblemtico para ns. Posto que, revela como uma pessoa
pode ser levada prpria morte pelo esforo de usar seus argumentos para
direcionar sua forma de ao. Scrates morre porque no encontra argumentos
para desobedecer sentena de morte que fora proferida pelo tribunal ao qual
se submeteu. No sem razo que a ltima frase proferida por Scrates em
seu discurso de defesa, continua incessantemente a nos incomodar: ...Mas, j
hora de irmos: eu para a morte, e vs para viverdes. Mas, quem vai para
melhor sorte, isso segredo, exceto para deus. S deus sabe se aquele que,
ao seguir o caminho de seus argumentos racionais, acaba por encontrar com a
morte, est em situao melhor do que aquele que, controlado por seus
desejos e instintos, continua vivo, sem saber porqu. S deus sabe, se quem
29
se deixa persuadir pelos debates ticos e vive segundo os princpios da razo,
est em melhor situao.
NOTAS DE RODAP:
1. Para ler um texto mais extenso sobre este tema, veja o artigo Haver
Provas em tica, de James Rachel, disponvel em:
http://criticanarede.com/eticaobjectividade.html
2. Para ler o texto Apologia de Scrates, de Plato, acesse:
http://www.consciencia.org/platao_apologia_de_socrates.shtml
30
CAPTULO 6.
DAVID HUME:
SOMOS SERES MORAIS PORQUE NO PODEMOS EVITAR O DESEJO DE
SER BOM
David Hume foi um filsofo escocs que viveu durante o sculo XVIII e
considerado por muitos como uma das mais importantes figuras na histria da
filosofia ocidental. Grande parte de suas teorias filosficas se encontra em seu
livro Tratado da Natureza Humana, obra sobre a moralidade e a tica.
Hume acreditava que as aes humanas so motivadas pelas emoes, ou
como o autor as chamava, pelas paixes humanas. A razo no tem qualquer
tipo de influncia sob nossas aes, servindo apenas como ferramenta para o
exame das conseqncias que podem resultar das aes que praticamos.
atravs de nosso sentimento moral, ou paixo, como diz Hume, que
conseguimos diferenciar o bem do mal, e conseqentemente, uma ao boa de
uma ao m.
Ele entende que todos os seres humanos possuem distines morais
semelhantes, logo, uma ao considerada moral aquela que tem uma
aprovao por grande parte da humanidade, e as aes imorais so aquelas
rejeitadas por um grande nmero de pessoas. Por exemplo, o desrespeito aos
pais e o homicdio banal so atos imorais e so repudiados por grande parte da
humanidade.
Para Hume, diferentemente do pensamento de outros filsofos, so as paixes
que determinam as aes morais. A razo no a origem da moralidade, pois,
ela somente serve de meio para o estudo das relaes existentes entre as
nossas aes e suas conseqncias. A razo examina as nossas aes como
algo que acontece no mundo real e, portanto, como submetidas ordem da
necessidade onde as relaes so de causa e efeito. A razo sempre regida
pelo princpio de causalidade. Entretanto o mundo da moralidade o mundo
onde a realidade percebida dentro da lgica de nossos sentimentos morais.
Esses sentimentos, ou paixes, apreendem a realidade dentro dos padres do
desejado e do indesejado, do belo e do feio, do aprovado e do repulsivo, do
31
bem e do mal. A razo no nos fornece juzos morais, ela capaz apenas de
nos dizer o que verdadeiro ou falso, o que no se aplica a moral, pois a moral
nos diz o que bom ou ruim, correto ou incorreto.
Portanto, para Hume, a moralidade das aes determinada pelas
necessidades que os seres humanos sentem de realizar seus desejos
inescapveis. H uma dimenso no ser humano pela qual ele determinado a
desejar aquilo que ele considera inevitavelmente desejvel. E, nesse sentido,
h algo que nenhum ser humano pode deixar de desejar. O prazer algo que
todo ser humano deseja movido por um sentimento, por uma paixo,
impossvel de ser evitado. Essa paixo faz o agente considerar como
moralmente corretas todas as aes nas quais ele pode perceber a
concretizao de seu prazer. Assim, a moralidade se traduz na busca do prazer
e na fuga da dor. E o objetivo de todas as aes humanas a obteno de
uma vida de maximizao do prazer, ou a de felicidade.
Assim, segundo Hume, no atravs da razo que conhecemos as virtudes e
vcios humanos. As distines morais so o resultado do sentimento de
aprovao do prazer e reprovao da dor. Portanto, os sentimentos que
determinam a bondade e a maldade das aes. So os sentimentos morais
que determinam que o prazer o bem e o sofrimento o mal. Entretanto, a
razo que avalia as conseqncias das aes em termos de prazer ou de dor.
As aes sero consideradas boas ou ms, atravs do trabalho da razo, cuja
atividade consiste em nos demonstrar a relao de causalidade que relaciona,
em termos de causas e efeitos, as nossas aes e o prazer ou dor que delas
decorrem.
Portanto, em Hume, a moral humana, independentemente de qualquer tipo de
transcendncia, nasce no prprio ser humano existente, ou seja, na natureza
humana emprica e precede razo. A tica de Hume corresponde a um
esforo de construir uma viso imanente dos motivos para a justificao de
nossas condutas morais. No h qualquer tipo de apelo idia da existncia
ou interveno de Deus, no h necessidade de qualquer tipo de argumento
que se socorra de conceitos sem referncia emprica e idias abstratas da
Metafsica. Tudo se resolve na afirmao que h uma realidade que se impe.
O ser humano age em busca do bem, porque assim que ele existe. S Deus
sabe mais do que aquilo que existe. S Ele pode conhecer as razes pelas
quais somos da forma como somos... ainda que seja, somente, um Deus
hipottico.
H uma passagem do texto Uma Investigao sobre os princpios da Moral,
em que Hume escreve:
Parece evidente que os fins ltimos das aes humanas no podem em
nenhum caso ser explicados pela razo, mas recomendam-se inteiramente aos
32
sentimentos e afeces da humanidade, sem qualquer dependncia das
faculdades intelectuais. Pergunte-se a um homem por que ele pratica
exerccios; ele responder que deseja manter sua sade. Se lhe for
perguntado, ento, por que deseja ter sade, ele prontamente dir que
porque a doena dolorosa. Mas se a indagao levada adiante, e pede-se a
razo pela qual ele tem averso dor, ele no poder fornecer nenhuma. Este
um fim ltimo, e jamais se remete a qualquer outro motivo.
Talvez segunda questo por que deseja ter sade ele pudesse responder
dizendo que ela necessria para o exerccio de suas ocupaes. Se
perguntarmos por que ele se preocupa com isso , ele dir que porque deseja
obter dinheiro. E se quisermos saber porque ele quer dinheiro, a resposta ser
que se trata de um meio para o prazer, e, para alm disso, ser absurdo exigir
alguma razo. impossvel que haja uma progresso in infinitum, e que
sempre exista alguma coisa em razo da qual uma outra coisa desejada.
Alguma coisa deve ser desejada por si mesma, por causa de sua imediata
conformidade ou concordncia com os sentimentos e afeces humanos.
Ora, como a virtude um fim, e desejvel por si mesma, sem retribuio ou
recompensa, simplesmente pela satisfao imediata que comunica,
necessrio que haja algum sentimento tocado por ela, algum gosto, sensao,
ou o que se quiser cham-lo, que distingue entre o bem e o mal morais, e
adere ao primeiro ao mesmo tempo em que rejeita o segundo.
Assim, os diferentes limites e atribuies da razo e do gosto so facilmente
determinados. A primeira transmite o conhecimento sobre o que verdadeiro
ou falso; o segundo fornece o sentimento de beleza e fealdade, de virtude e
vcio. A primeira exibe os objetos tal como realmente existem na natureza, sem
acrscimo ou diminuio; o segundo tem uma capacidade produtiva e, ao ornar
ou macular todos os objetos naturais com as cores que toma emprestadas do
sentimento interno, d origem, de certo modo, a uma nova criao. A razo
sendo fria e desinteressada, no constitui um motivo para a ao mas limita-se
a direcionar o impulso recebido dos apetites e inclinaes, mostrando-nos os
meios de atingir a felicidade e evitar o sofrimento. O gosto, como produz prazer
ou dor e constitui, portanto, felicidade ou sofrimento, torna-se um motivo para
ao e o princpio ou impulso original do desejo e da volio. A partir de
circunstncias e relaes conhecidas ou supostas, a primeira nos conduz
descoberta das que so ocultas ou desconhecidas; o segundo, quando todas
as circunstncias e relaes j esto diante de nossos olhos, faz-nos
experimentar diante desse todo um novo sentimento de censura ou aprovao.
A norma da primeira, fundada na natureza das coisas, eterna e inflexvel, at
mesmo pela vontade do Ser Supremo; a norma do segundo, originria da
estrutura e constituio interna dos animais, deriva-se em ltima instncia
33
daquela Vontade Suprema, que outorgou a cada ser sua particular natureza e
arranjou as diversas classes e ordens de existncia.(1)
Portanto, pode-se afirmar que o sentimento tem influncia sobre as aes e
afeces, isto , a propenso prtica de alguma ao e por isso no pode
derivar da razo. A razo no pode ter influncia sobre as aes e afeces. O
senso moral excita as paixes e produz ou evita as aes. A razo
completamente impotente quando se trata de predispor os agentes a certas
prticas. As regras da moralidade, portanto, no so concluses de nossa
razo.
Um princpio ativo no pode fundamentar-se em um inativo. A razo inativa
por si mesma e deve permanecer sendo assim em todas as suas formas e
aparncias, seja em assuntos naturais, seja em assuntos morais, quer se
considere as propriedades dos corpos externos ou as aes dos seres
racionais.
As aes podem ser elogiveis ou censurveis, porm no podem ser
racionais ou irracionais. Nesse sentido, no existem aes racionais. E,
portanto, dizer que uma ao moralmente prefervel no significa dizer que
ela assim o , posto que seja racionalmente justificada.
A razo, em um sentido filosfico, pode ter uma influncia sobre a nossa
conduta somente de dois modos: 1. quando excita uma paixo, informando-nos
da existncia de algo que um objeto prprio dessa paixo; 2. descobrindo as
relaes de causa e efeito, de tal forma que nos proporcione os meios para
exercer uma paixo. Estes so os dois nicos gneros de juzos que podem
acompanhar nossas aes, ou os que se pode dizer que as produzem de um
certo modo. necessrio, entretanto, considerar que estes juzos podem ser,
freqentemente, falsos ou errneos.
NOTAS DE RODAP:
1. Uma Investigao sobre os princpios da Moral, David Hume, Traduo
de Jos Oscar de Almeida Marques, Campinas, Editora da UNICAMP,
1995, pp. 183-185.
34
CAPTULO 7.
EMMANUEL KANT:
A MORALIDADE SE IMPE A NS COMO UMA EXIGNCIA DA RAZO
David Hume (1711-1776) e Immanuel Kant (1724-1804) foram
contemporneos. Conforme j foi afirmado, para Hume a base da moralidade
se encontra nas paixes, no gosto, excluindo a moralidade da esfera da razo,
uma vez que esta tem apenas um papel auxiliar na elaborao de nossos
juzos morais. Kant tinha como objetivo refutar a posio defendida por Hume.
O ponto fundamental e que expressa o desacordo entre Kant e Hume, no que
diz respeito s suas teorias ticas, o seguinte: para Hume as noes de bem
e de mal so primrias, as de certo e errado secundrias, e derivadas das
primeiras. Isto , temos as noes do que o bem; ela nos fornecida pelo
nosso sentimento de aprovao de certas condutas. Sendo que, uma conduta
certa, ou expressa o bem, quando ela a conduta que desfruta de aprovao
pelo nosso sentimento moral. O sentimento de aprovao que nos fornece a
noo do bem; a ao que susceptvel de aprovao que nos d a noo
do correto. Hume mal menciona a idia do dever, ou de virtude, no sentido de
propenso para a prtica do bem. Uma ao ou inteno certa ,
simplesmente, aquela que leva, ou tende a levar, a um bom resultado. E um
bom resultado aquele que satisfaz o nosso desejo, gosto, sentimento de que
estamos fazendo o certo. Para Kant, a noo do dever, ou da obrigao, e as
noes do certo e errado, so fundamentais. Um homem bom aquele que
habitualmente age de forma certa, e uma ao certa aquela que realizada
por um sentimento de dever. H aes que correspondem prtica daquilo que
devemos fazer; essas so as aes moralmente corretas. Aquilo que deve ser
feito decorre da nossa prpria razo. A razo tem algumas condies para que
ela seja possvel. Dentre essas exigncias da razo esto os motivos das
aes que devemos praticar.
A moralidade, diz Hume, deve, "supostamente, influenciar as nossas paixes e
aes, e ir alm dos juzos calmos e indolentes do entendimento". Conforme j
foi dito, as distines morais no podem ser derivadas da razo, e isto porque
35
a razo nunca exerce influncia alguma sobre a conduta". Na segunda
Investigao Hume menciona que "a razo, sendo fria e desengajada" no
motivadora de ao. Hume est convencido de que a razo pura no pode ser
prtica, e que, portanto, as regras da moralidade no podem ser concluses de
nossa razo. A Crtica da Razo Prtica foi escrita, por Kant, para mostrar que
Hume estava errado nesta sua concluso.
Para Kant a natureza humana m, perversa e corrompida; por isso que
existe moral. A nossa natureza dotada de toda sorte de sentimentos
mesquinhos, na busca incessante pelo prazer que nunca nos satisfaz e que
nos leva morte. Por esse motivo o papel da razo na tica inquestionvel,
pois a razo que nos permite agir moralmente. Em sua teoria moral, a razo
tem um papel central. Kant faz uma distino entre a razo - razo pura terica,
ou especulativa e razo pura prtica. Ambas so universais, o que as difere
que a terica trata da realidade regida pelo princpio de causa e efeito; ela trata
do reino da necessidade. A razo prtica considera a realidade como o reino
da liberdade e da finalidade das aes humanas; ela trata do mundo enquanto
ele a realidade no qual ocorrem os desejos e deveres humanos. A razo
terica tem como contedo a realidade exterior a ns, independente de nossa
interveno; e a razo prtica cria sua prpria realidade, ela o reino das
aes humanas livres. Por termos uma natureza perversa, ns necessitamos
do dever, para que, submetidos ele, possamos ter aes morais que estejam
em acordo com o que consideramos correto.
Quando seguimos nossos impulsos e desejos, no estamos sendo seres
morais, no expressamos a nossa liberdade, nem agimos em funo de nossos
prprios fins. Nessa circunstncia, somos guiados pela nossa natureza cega e
no levamos em conta a separao entre o reino natural das causas e o reino
humano dos fins. O reino das causas composto por seres que se relacionam
em termos de causa e efeito, regido por leis, ou seja, impossvel que haja
alterao. o reino da necessidade. S mudam os objetos que se movem. O
reino humano dos fins construdo considerando a liberdade dos seres, de
agirem conforme regras impostas por essa prpria liberdade.
Entretanto, em Kant, o mundo da liberdade, o mundo das aes humanas, ,
tambm, um mundo necessrio, no qual as necessidades so decorrncias da
prpria condio de possibilidade da liberdade. porque os seres humanos
so livres que devem praticar o bem. A liberdade no exercida quando o
agente faz tudo o que deseja. Ela consiste na imposio do ser moral sobre o
natural, na medida em que ele age de forma racional e tica.
O dever aquilo que d sentido moral para toda e qualquer ao moral. O
dever um imperativo categrico que ordena de forma incondicional. O dever
36
no corresponde a uma motivao psicolgica, mas uma resposta interior. O
ato moral aquele que se realiza como acordo entre a vontade e as leis
universais que a razo impe a si mesma.
Essa frmula permite a Kant deduzir as trs mximas morais que exprimem a
incondicionalidade dos atos realizados por dever. So elas:
1. Age como se a mxima de tua ao devesse ser erigida por tua vontade
em lei universal da Natureza;
2. Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como
na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio;
3. Age como se a mxima de tua ao devesse servir de lei universal para
todos os seres racionais.
Portanto, para Kant, a conduta moral deve ser universal e inquestionvel, os
seres humanos no devem encarar uns aos outros como meios para conseguir
seu objetivos e as leis ticas se aplicam apenas para os seres racionais.
O motivo moral da vontade boa agir por dever. Isto , o motivo moral da
vontade boa o respeito pelo dever, produzido em ns pela razo. Obedincia
lei moral, respeito pelo dever e pelos outros constituem a bondade da
vontade tica. A razo prtica no nos revela diretamente o que devemos
fazer, ou qual a conduta adequada a cada situao de ao. Ela nos fornece os
princpios do agir moral. Agimos moralmente quando nenhum dos princpios da
razo prtica desrespeitado.
A felicidade na filosofia kantiana conseqncia do cumprimento do dever. A
pessoa feliz aquela que cumpre todos os seus deveres. A felicidade mxima
encontrada quando se deseja realizar a ao que deve ser praticada, isto ,
aquela ao que a obrigao. Quando h correspondncia entre a vontade
livre e a necessidade do dever que o agente encontra a felicidade na teoria
tica kantiana. Mas, de todos os modos, a felicidade do agente irrelevante
para a determinao da moralidade do ato. Atos morais so aqueles praticados
em funo da necessidade de cumprimento do dever.
O dever e a norma no so imposies exteriores a ns, mas uma expresso
da nossa capacidade de sermos morais, de maneira autnoma. O ser humano
no constitudo apenas dessa vontade de ser moral, mas tambm, de sua
dimenso natural e egosta, a qual considera a liberdade de agir, justamente,
como a capacidade de infringir as regras morais e de praticar atos segundo
seus impulsos e desejos.
A razo humana mais fraca do que a fora das disposies naturais no ser
humano. O nico meio do agente vencer sua constituio natural e se impor
37
sobre ela usando da vontade. atravs do dever, que o obriga a ser tico por
meio da liberdade de escolha, que o ser humano tem a possibilidade de optar
pelo caminho da racionalidade, da humanidade, da convivncia social.
Em Kant a vontade que determina a moralidade da ao. Uma ao moral
praticada por dever. E o dever expresso no querer da vontade. A razo
humana no pode determinar o que deve ser querido pelo agente. Somente
sua vontade. Por essa razo, na ao boa, a vontade tambm boa e o agente
deseja o que faz. E faz aquilo que deve ser feito.
Kant diz: Ser benfazejo, quando se pode, um dever; contudo h certas almas
to propensas simpatia que, sem motivo de vaidade ou de interesse,
experimentam viva satisfao em difundir em volta de si a alegria e se
comprazem em ver os outros felizes, na medida em que isso obra delas. Mas
afirmo que, em tal caso, semelhante ao, por conforme ao dever e por amvel
que seja, no possui valor moral verdadeiro; simplesmente concomitante com
outras inclinaes, por exemplo, com o amor da glria, o qual, quando tem em
vista um objeto em harmonia com o interesse pblico e com o dever, com o
que, por conseguinte, honroso, merece louvor e estmulo, mas no merece
respeito; pois mxima da ao falta o valor moral, que s est presente
quando as aes so praticadas, no por inclinao, por dever. Imaginemos
pois a alma deste filantropo anuviada por um daqueles desgostos pessoais que
sufocam toda simpatia para com a sorte alheia; que ele tenha ainda a
possibilidade de minorar os males de outros desgraados, sem que todavia se
sinta comovido com os sofrimentos deles, por se encontrar demasiado
absorvido pelos seus prprios; e que, nestas condies, sem ser induzido por
nenhuma inclinao, se arranca a essa extrema insensibilidade e age, no por
inclinao, mas s por dever: s nesse caso seu ato possui verdadeiro valor
moral.
Mais ainda. Se a natureza houvesse deposto no corao deste ou daquele,
pequena dose de inclinao para a simpatia se um tal homem (alis honesto),
fosse de temperamento frio e indiferente para com os sofrimentos alheios,
talvez porque, sendo prendado de especial dom de resistncia e de paciente
energia contra os sofrimentos prprios, supe igualmente nos outros, ou deles
exige, qualidades idnticas; se a natureza no tivesse particularmente formado
este homem (que, na verdade, no seria a sua pior obra) para dele fazer um
filantropo, no encontraria ele em si estofo com que se atribuir um valor muito
superior ao de um homem de temperamento naturalmente benvolo? Por certo
qu sim. E justamente aqui transparece o valor moral incontestavelmente mais
elevado de seu carter, resultante de ele praticar o bem, no por inclinao,
mas por dever. Assegurar a prpria, felicidade um dever (ao menos, indireto),
porque o no estar satisfeito com o seu estado, o viver oprimido por
inumerveis preocupaes e no meio de necessidades no preenchidas, pode
38
muito facilmente converter-se em grande tentao de infringir seus deveres.
Mas, uma vez mais, independentemente do dever, todos os homens possuem
dentro em si uma inclinao muito forte e muito profunda para a felicidade, pois
que justamente nesta idia de felicidade se unem todas as suas tendncias.
Simplesmente o preceito, que nos manda buscar a felicidade, apresenta muitas
vezes carter tal que prejudica algumas de nossas inclinaes, de sorte que
no possvel ao homem formar idia ntida e bem definida do complexo de
satisfao de seus desejos, a que d o nome de felicidade. No h, pois,
motivo para ficar surpreendido de que uma s inclinao, determinada quanto
ao prazer que promete e quanto poca em que poder ser satisfeita, seja
capaz de sobrepujar uma idia vaga. Por exemplo, um guloso preferir
saborear um acepipe de seu agrado, no se lhe dando de sofrer as
conseqncias, porque segundo seus clculos, ao menos nesta circunstncia,
acha prefervel no se privar de um prazer atual, pela esperana, acaso
infundada, de uma felicidade associada sade. Mas, tambm neste caso, se
a sade, para ele ao menos, no fosse coisa a que devesse outorgar lugar
preponderante em seus clculos, permaneceria ainda de p, neste como nos
demais casos, uma lei, a saber, a lei que manda trabalhar pela prpria
felicidade, no por inclinao, mas, por dever. S ento seu comportamento
possui autntico valor moral.
Assim devem, sem dvida, ser compreendidos tambm os passos da Escritura,
onde se ordena amar o prximo e at os inimigos. Com efeito, o amor, como
inclinao, no pode ser comandado; mas praticar o bem por dever, quando
nenhuma inclinao a isso nos incita, ou quando uma averso natural e
invencvel se ope, eis um amor prtico e no patolgico, que reside na
vontade, e no na tendncia da sensibilidade, nos princpios da ao, e no
numa compaixo emoliente. Ora, este nico amor que pode ser comandado.
Venhamos segunda proposio. Uma ao cumprida por dever tira seu valor
moral no do fim que por ela deve ser alcanado, mas da mxima que a
determina. Este valor no depende, portanto, da realidade do objeto da ao,
mas unicamente do princpio do querer, segundo o qual a ao foi produzida,
sem tomar em conta nenhum dos objetos da faculdade apetitiva. De tudo
quanto precede, segue-se que os fins que podemos ter em nossas aes, bem
como os efeitos da resultantes, considerados como fins e molas da vontade,
no podem comunicar s aes nenhum valor moral absoluto.
Onde pode, pois, residir esse valor, se no deve encontrar-se na relao da
vontade com os resultados esperados destas aes ? Em nenhuma outra parte
possvel encontr-lo seno no principio da vontade, abstraindo dos fins que
podem ser realizados por meio de uma tal ao. De fato, a vontade, situada
entre seu princpio a priori, que formal e mbil a posteriori, que material,
est como que na bifurcao de dois caminhos; e, como necessrio que
39
alguma coisa a determine, ser determinada pelo princpio formal do querer em
geral, sempre que a ao se pratique por dever, pois lhe retirado todo
princpio material.
Quanto terceira proposio, conseqncia das duas precedentes, eis como a
formulo: o dever a necessidade de cumprir uma ao pelo respeito lei.
Para o objeto concebido como efeito da ao que me proponho, posso
verdadeiramente sentir inclinao, nunca, porm, respeito, precisamente
porque ele simples efeito, e no a atividade de uma vontade. Do mesmo
modo, no posso ter respeito a uma inclinao em geral, seja ela minha ou de
outrem; quando muito, posso aprov-la no primeiro caso, no segundo caso
talvez at am-la, isto , consider-la como favorvel a meu interesse.
S o que est ligado minha vontade unicamente como princpio, e nunca
como efeito, o que no serve a minha inclinao, mas a domina, e ao menos a
exclui totalmente da avaliao no ato de decidir, por conseguinte, a simples lei
por si mesma que pode ser objeto de respeito, e, portanto, ordem, para mim.
Ora, se uma ao cumprida por dever elimina completamente a influncia da
inclinao e, com ela, todo objeto da vontade, nada resta capaz de determinar
a mesma vontade, a no ser objetivamente a lei e, subjetivamente, um puro
respeito a esta lei prtica, portanto a mxima de obedecer a essa lei, embora
com dano de todas as minhas inclinaes.
Portanto, o valor moral da ao no reside no efeito que dela se espera, como
nem em qualquer princpio da ao que precise de tirar seu mbil deste efeito
esperado. Com efeito, todos estes resultados (contentamento de seu estado, e
at mesmo contribuio para a felicidade alheia) poderiam provir de outras
causas; no necessria para isso a vontade de um ser racional, muito
embora, somente nesta se possa encontrar o supremo bem, o bem
incondicionado. Por isso a representao da lei em si mesma, que
seguramente s tem lugar num ser racional, com a condio de ser esta
representao, e no o resultado esperado, o princpio determinado da
vontade, eis o que s capaz de constituir o bem to excelente que
denominamos moral, o qual j se encontra presente na pessoa que age
segundo essa idia, mas que no deve ser esperado somente do efeito de sua
ao. (Fundamentao da Metafsica dos Costumes)
NOTAS BIBLIOGRFICAS
1. Para uma viso mais completa desse assunto leia o texto David Hume
e a Questo Bsica da Crtica da Razo Prtica, de Eduardo O.
Chaves, disponvel em: http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/hume2.htm
40
2. Fundamentao da Metafsica dos Costumes, Immanuel Kant,
Traduo de Antnio Pinto de Carvalho, Companhia Editora Nacional.
Disponvel em:
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/hdh_kant_metafisica_cos
tumes.pdf ).
3. Leia o interessante texto: Dilogo sobre a tica Kantiana, de Luis
Fernando Verssimo, disponvel em: http://criticanarede.com/dialogokant.html
41
CAPTULO 8.
JOHN STUART MILL:
SOMOS SERES MORAIS PORQUE SOMOS FEITOS PARA SERMOS
FELIZES
O utilitarismo corresponde a uma tradio filosfica que consiste em pensar os
problemas de organizar as relaes entre as pessoas a partir da idia que
podemos conhecer o bem e o mal em funo de critrios identificveis pela
nossa capacidade racional de conhecer. Para os utilitaristas, Hume estava
certo em afirmar que a dimenso moral imposta ao ser humano pela sua
prpria natureza. Somos seres morais e isso inescapvel. Avaliamos as
nossas aes em termos de aes boas e aes ms e desejamos praticar o
bem. Ningum deseja o mal por ele mesmo. O mal algo indesejvel em si
mesmo. Portanto, no faz sentido ficarmos especulando sobre os fundamentos
da moralidade, se por isso se entende o exerccio de tentar entender o que se
esconde, ou qual o fundamento do fato que desejamos o bem e recusamos o
mal. Esse exerccio meramente especulativo e no tem qualquer chance de
ter sucesso. Portanto, para os utilitaristas, ps humeanos, a tica parte do fato
que buscamos aquilo que identificamos como o bem e recusamos aquilo que
identificamos como mal.
O utilitarismo tem, entretanto, dois pressupostos fundamentais: a) somos seres
ilustrados, isto conhecemos atravs da investigao racional; b) a natureza
nos colocou sob o domnio de dois senhores: o prazer e a dor, isto , somente
agimos movidos pela busca do prazer (bem) e pela fuga da dor (mal). Esses
so os ingredientes para a construo de um projeto tico que faa face aos
problemas de saber, racionalmente, qual o comportamento que, de fato,
praticado (psicologia) como aquele que deve ser escolhido (tica) pelos
agentes nas mais diversas situaes. Ao longo dos anos, desde o final do
sculo XVIII, vem sendo construdo um enorme acervo de solues para os
problemas que decorrem da tentativa utilitarista de aplicar o princpio de
utilidade na avaliao tica de nossas aes. Isto , aplicar o princpio pelo
qual uma ao considerada como devida (bem), ou indevida (mal), conforme
sejam os seus resultados identificados em termos de prazer ou de dor.
A palavra utilitarismo indica uma tradio moderna de reflexo filosfica que
teria se tornado expressiva no desenvolvimento do pensamento anglo-
americano. Os utilitaristas se constituram num conjunto de autores que se
42
conheciam, referiam-se mutuamente, comungavam um certo conjunto de teses
fundamentais, discutiam problemas comuns, atuavam politicamente em favor
da implementao, pelo poder pblico, de um acervo de solues e faziam
proselitismo em favor de determinadas reformas no contexto social. Isso
significa que os utilitaristas constituam a primeira escola filosfica que teria
surgido no mundo moderno.
Estudiosos que trabalham sobre a histria do utilitarismo tm feito referncias
aos utilitaristas como pensadores que propem solues revolucionrias para
os problemas de seu tempo. Assim, Elie Halvy considera que alguns deles
foram autnticos defensores de solues radicais, no sentido que suas
propostas estariam fundamentas numa posio que poderia ser chamada de
radicalismo filosfico. Isto , eles se utilizavam dos princpios utilitaristas para
abordar criticamente a ordem estabelecida e defender sugestes de amplas
reformas sociais. O fato que os Benthamitas, como eram referidos,
inicialmente, os ativistas que compunham o ncleo dos seguidores das idias
sistematizadas por Jeremy Bentham, envolveram-se nas discusses dos
assuntos correntes desde o final do sculo XVIII, dando uma especial nfase
s decorrncias especulativas da aplicao de um conjunto de teses que se
construam a partir da confiana na razo humana e na tentativa de construir
um sistema justificativo das aes humanas elaborado a partir da aplicao do
princpio de utilidade.
Quando nos referimos a tradio utilitarista podemos pensar em autores que
participaram, com diferenas na sua forma de atuao, de um movimento
filosfico que teve seu apogeu no perodo de sculo e meio, entre os anos
finais do sculo XVIII e final do sculo XIX. Estamos falando de gente como
Claude Adrien Helvetius, David Hume, Cesare Beccaria, Joseph Priestley,
Jeremy Bentham, James Mill, Henry Sidgwick, William Paley, John Stuart Mill,
William Godwin, Thomas Robert Malthus, Adam Smith, David Ricardo. Atravs
das obras escritas por esses autores, o utilitarismo contribuiu para o debate
dos temas mais importantes que ocuparam a agenda dos intelectuais
envolvidos em discutir as solues para o problema de identificar critrios para
distinguir aes boas de aes ms, isto , a questo de encontrar respostas
para perguntas sobre os referenciais que poderiam ser usados na escolha dos
cursos de ao que se punham aos seres humanos nas diferentes situaes.
Nos ltimos cinquenta anos, teria ocorrido uma retomada das teses utilitaristas.
Autores como Herbert L.A. Hart, Peter Singer, David Lyons, Richard Hare,
Esperansa Guisn, Jos Manuel Bermudo, Fred Rosen, Philip Schofield, Jose
Luis Tasset, Amartya Sen so responsveis pelo expressivo volume de
produo intelectual que tem caracterizado os estudos sobre o utilitarismo.
Ademais, alguns projetos audaciosos de pesquisa de temas atuais e editorao
das obras clssicas de pensadores utilitaristas vem sendo desenvolvidos em
Agncias e Institutos acadmicos, tais como o Bentham Project no University
43
College, a International Society for Utilitarian Studies, a Sociedad
Iberoamericana de Estudios Utilitaristas e as prestigiosas revistas Utilitas e
Telos.
De uma forma geral, muito difcil apontar as teses fundamentais que
constituem o ponto de vista utilitarista. Autores, como os elencados acima, so
conhecidos pela originalidade de sua reflexo, o que torna ainda mais difcil a
tarefa de indicar os aspectos onde seus pensamentos coincidem. Para efeitos
didticos, podemos afirmar que todos os autores conhecidos como utilitaristas
concordam em dois pontos bsicos.
Primeiramente os utilitaristas concordam com a tese que o ser humano um
ser cognitivo. Isto , o conhecimento o instrumento de que dispe o ser
humano para construir, atravs de representaes mentais, o significado do
mundo e para descobrir os critrios que tornam as nossas aes compatveis
com o sentido que damos a ele. E a forma mais confivel de conhecimento a
racional. racional o conhecimento que satisfaz certos critrios formais ou
metodolgicos, tais como clareza, preciso, coerncia, sistematizao
consistente e controle emprico. Nesse sentido, os utilitaristas se colocam como
expressivos de uma certa mentalidade ilustrada, que confia na capacidade
esclarecedora da razo humana. O ser humano conhece e age pela razo,
essa seria uma primeira afirmativa que revela o carter da tradio utilitarista.
Entretanto, os utilitaristas no se tornaram conhecidos pela sua contribuio
sobre a natureza da racionalidade humana ou sobre a fundamentao de uma
epistemologia racionalista. Eles se tornaram importantes interlocutores por sua
contribuio sobre a teoria da ao. Isto , tiveram uma especial ateno para
os problemas que concernem identificao dos critrios para a escolha dos
cursos de ao que se pe aos seres humanos nas diferentes situaes e o
papel desempenhado pela racionalidade humana na teoria da ao. Nesse
sentido, a tradio utilitarista tem contribudo para o debate sobre os critrios
de identificao do bem e do mal. A teoria moral ou tica e a teoria sobre o
Direito so reas que tm recebido o maior impacto das sugestes do
utilitarismo.
Em segundo lugar, os utilitaristas concordam que os conceitos de bondade ou
maldade das aes concernem s conseqncias que delas decorrem. Assim,
so moralmente justificveis as aes que maximizam o bem estar de todos
aqueles seres sencientes que, de alguma forma, so afetados por elas. O
princpio cuja explicitao aponta os critrios de aprovao ou reprovao das
condutas dos agentes foi formulado pela primeira vez por J. Bentham, que o
chamou de princpio de utilidade. Posteriormente, o prprio Bentham o
identificou como o princpio da maior felicidade ; e, ainda, mais tarde o chamou
de princpio da felicidade do maior nmero . Por princpio de utilidade, ou
princpio da felicidade do maior nmero, indicado aquele princpio que
44
aprova ou desaprova qualquer ao conforme a tendncia que ela possua
de aumentar ou diminuir a felicidade daquele cujo interesse esteja em
questo, isto , conforme a tendncia da ao em promover ou se opor
sua felicidade. Os utilitaristas sustentam que quando se parte do princpio da
maior felicidade como fundamento da teoria moral possvel sustentar que as
aes so corretas na medida em que tendem a promover a felicidade, o
prazer, a vantagem e erradas conforme tendam a produzir a infelicidade, a dor,
o sofrimento em todos aqueles que so, de alguma forma, afetados por elas.
Os utilitaristas trabalham com a presuno bsica que as aes humanas, pelo
menos as que so o resultado da vontade humana, so motivadas pelo desejo
de obter algum prazer ou evitar alguma dor. Bentham diz: "A natureza colocou
o ser humano sobre o domnio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer.
Somente eles apontam o que devemos fazer, assim como determinam o que
de fato faremos. Ao trono desses dois senhores esto ligados, de um lado o
padro daquilo que certo ou errado, de outro a cadeia de causas e
efeitos".(An Introduction to the Principles of Morals and Legislation", p.1) Prazer
e dor so termos aqui considerados em sentido amplo. Assim, entende-se por
prazer qualquer sensao que um ser humano prefere sentir em um dado
momento, ao invs de sentir nenhuma; considera-se dor aquela sensao que
um ser humano prefere sentir nenhuma, ao invs de senti-la em um dado
instante. J.S. Mill tentou introduzir a idia que isto no significa que os
utilitaristas admitem que todos os prazeres so iguais e que somente so
passveis de diferenciao no que concerne quantidade. Para ele:
perfeitamente compatvel com o princpio de utilidade reconhecer o fato de que
algumas espcies de prazer so mais desejveis e mais valiosas do que
outras. Enquanto na avaliao de todas as outras coisas a qualidade to
levada em conta quanto a utilidade, seria absurdo supor que a avaliao dos
prazeres dependesse unicamente da quantidade .(Utilitarianism, p.10)
Ao que tudo indica, todos os utilitaristas concordariam que o princpio da maior
felicidade o ponto de partida de toda argumentao moral. Assim, as regras e
preceitos de conduta que expressam a moralidade humana tem como fim
ltimo a realizao de uma existncia isenta, tanto quanto possvel de dor, e o
mais rica quanto possvel de prazer, seja do ponto de vista da quantidade como
da qualidade, para todos os seres humanos e para todos os seres dotados de
sensibilidade que existem no mundo.
A tica utilitarista afirma a existncia de seis princpios fundamentais:
1. Princpio de Utilidade: todo ser humano busca sempre o maior prazer
possvel;
2. Princpio da Identidade de Interesses: o fim da ao humana a maior
felicidade de todos aqueles cujos interesses esto em jogo;
45
3. Princpio da Economia dos Prazeres: a utilidade das coisas
mensurvel e a descoberta da ao apropriada para cada situao
uma questo de aritmtica moral;
4. Princpio das Variveis Concorrentes: o clculo moral depende da
identificao do valor aritmtico de sete variveis: intensidade, durao,
certeza, proximidade, fecundidade, pureza, extenso;
5. Princpio da Comiserao: O sofrimento, mesmo nos outros seres,
sempre um mal;
6. Princpio da Assimetria: o prazer e a dor possuem valores assimtricos,
pois a eliminao da dor sempre agrega prazer.
Numa tentativa de realizar um balano das contribuies com que a tradio
utilitarista tem participado dos debates sobre teoria moral e filosofia social,
John Plamenatz destaca trs aspectos. Primeiro, os utilitaristas tem especial
cuidado em construir explicaes elaboradas e coerentes das origens sociais e
funes da moralidade. Segundo, eles tem se interessado pela linguagem da
moral e tentam explicar o que ela tem de peculiar. E terceiro, eles fazem uso de
mtodos que, desde o tempo dos utilitaristas clssicos, tem se tornado cada
vez mais usados para explicar como o ser humano se comporta e subsidi-lo
com orientao sobre como agir.
Confiana na razo e entusiasmo com a felicidade humana, esses so dois dos
ingredientes fundamentais da viso tica do utilitarismo. Certamente que o
projeto tico dos utilitaristas, enquanto uma tentativa de construir uma tica
racional, tem seus limites. Os debates sobre as teorias morais tm se
desenvolvido em diferentes direes. Dentre outros, h aqueles que no
vislumbram a possibilidade da construo de projetos ticos, posto que os
critrios dos juzos ticos esto alm dos limites do que pode ser dito pela
nossa linguagem. H os que acreditam que os utilitaristas constroem uma
interpretao formalista da razo humana como instrumento confivel de
investigao. Para esse tipo de crticos, a razo formal dos utilitaristas produz
uma viso superficial dos problemas ticos e no atinge os fundamentos do
agir humano que esto implcitos nos juzos morais. H, ainda, os que no tm
entusiasmo pela felicidade humana, uma vez que no entendem que sua busca
possa ser suficiente para dar sentido ao agir humano. O que isso parece
demonstrar que o utilitarismo no conseguir satisfazer todas as expectativas
das pessoas. Entretanto, os utilitaristas tm sido interlocutores profcuos de
diferentes tradies de investigao sobre os problemas morais e tem tentado
apresentar uma resposta s crticas que lhe so postas. No estgio em que nos
encontramos nos debates sobre teoria moral ningum pode se arvorar em ter a
ltima palavra. O que importa no renunciar idia que a discusso deve
continuar.
46
Os dois filsofos que contriburam de forma mais significativa para o
desenvolvimento da tradio utilitarista de pensar sobre os problemas da tica
foram Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill (1806 1873). Mill foi
discpulo de Bentham, entretanto, existem algumas divergncias filosficas
importantes entre os dois. O primeiro filsofo (Jeremy Bentham) defende que a
bondade ou maldade das aes que praticamos depende da quantidade de
prazer ou de dor que dela resulta para todos os que so afetado pela ao. E
as conseqncias das aes podem ser medidas por meio de clculos
matemticos, ou seja, o clculo moral depende da identificao do valor
aritmtico de sete variveis: intensidade, durao, certeza, proximidade,
fecundidade, pureza, extenso. J Stuart Mill faz uma anlise crtica dessa
viso, por considerar que os prazeres no podem estar condicionados apenas
a elementos quantitativos, mas a moralidade das condutas depende tambm
de aspectos qualitativos.
Essa a razo pela qual Mill considerado um utilitarista que teria
aperfeioado a teoria utilitarista introduzindo a idia de que h prazeres que
valem mais do que outros. Em seu texto Utilitarianism, Mill afirma que:
preciso admitir, entretanto, que em geral os escritores utilitaristas
reconheceram a superioridade dos prazeres mentais sobre os corpreos
principalmente pela maior permanncia, maior segurana, pelo menor custo
etc., dos primeiros ou seja, por suas vantagens circunstanciais, mais que por
sua natureza intrnseca. E os utilitaristas conseguiram ganhar completamente
sua causa em todas essas questes, embora pudessem ter defendido o lado
contrrio.(p.10)
Mill argumenta que existem prazeres que em sua natureza so mais valiosos,
pois seriam mais desejveis. Assim, existem prazeres que so desejados por
todos os indivduos que j o sentiram. Esses seriam os prazeres mais valiosos.
H prazeres que so universalmente desejados. Nenhuma pessoa aceitaria ser
transformada em um animal satisfeito, em troca da perda de sua racionalidade
e de sua conscincia. Portanto, h prazeres associados ao exerccio da
racionalidade e percepo de si prprio como um ser capaz de auto-
conhecimento, que so superiores e que somente podem ser obtidos por
aqueles que so racionais e conscientes.
Para Mill: Se me perguntarem o que quero dizer com a diferena de qualidade
entre os prazeres, ou o que torna um prazer mais valioso do que outro
entendido como mero prazer exceto ser maior em quantidade, s me caber
dar a nica resposta possvel. De dois prazeres, se houver um que seja
claramente preferido por todos ou quase todos os que experimentaram um e
outro, independentemente de qualquer sentimento ou obrigao moral a
preferi-lo, este ser o prazer mais desejvel.(Utilitarianism, p.10)
47
NOTAS DE RODAP:
1. Ver o texto Utilitarianism, de John S. Mill, disponvel em:
http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/jsmill/Utilitarianism.pdf
48
Captulo 9
LUDWIG WITTGENSTEIN:
SOMOS SERES MORAIS E NADA MAIS PODE SER FALADO
No conhecido texto intitulado Elementos Morais na Critica da Razo Prtica,
Afonso Bertagnoli nos diz que a inteno de Kant ao refletir sobre a tica a de
encontrar uma justificativa racional que leve o homem a: agir de tal modo que
a mxima da nossa ao possa valer ao mesmo tempo como princpio de uma
legislao universal; e tambm a: agir como se a mxima do nosso ato
devesse tornar-se primacial no domnio da vontade, tornar-se uma lei
universal da natureza.
Em 1929, Ludwig Wittgenstein (1889-1951), filsofo Austraco que viveu na
Inglaterra por muitos anos, pronunciou uma famosa conferncia que
revolucionou os debates sobre tica. Contrariamente posio kantiana de ser
a tica o estudo sobre o "dever ser", Wittgenstein afirma nessa conferncia,
que tal estado de coisas uma quimera, que nenhum estado de coisas tem,
em si, o que gostaria de denominar o poder coercitivo de um juiz absoluto
sobre as aes humanas. Assim, para Wittgenstein, a noo kantiana de tica
teria introduzido um caracterstico mal uso de nossa linguagem, o de tornar
smiles os juzos de fato e os juzos de valor. Kant estabelece a existncia da
razo prtica e dos seus elementos de possibilidade, isto , as suas exigncias
necessrias para sua prpria existncia, como o fundamento de toda anlise
sobre tica; ao passo que Wittgenstein, dentro da tradio humeana, a situa na
dimenso da esttica. Isto , os juzos morais, tais como esta ao boa, ou
m, so juzos que tem o mesmo carter necessrio de afirmaes tais como
isto belo, ou feio. Ele afirma ser um paradoxo, que uma experincia, um
fato, parea ter valor sobrenatural", que um enunciado de fato possa implicar
num juzo de valor. Para que expresse algum contedo tico, a linguagem
deveria ser capaz de traduzir o que se passa no "alm mundo", no mbito do
que est alm das provas racionais.
A teoria de Wittgenstein que nosso vocabulrio no consegue suprir nossas
necessidades quando o que est em questo a tica, mesmo que, num
primeiro momento, essa no seja a impresso. No decorrer de seu discurso, o
filsofo apresenta diversos exemplos de como a linguagem nos parece
suficiente para falar desses assuntos. Entretanto, analisando-os, percebe-se
49
que nos faltam palavras suficientes para trat-los de forma adequada. O autor
defende que podemos descrever fatos, mas no podemos descrever coisas
que no so fatos. No livro do mundo, que o filsofo cita no discurso, estariam
escritos todos os acontecimentos j ocorridos e os que viessem a acontecer,
suas respectivas descries fsicas e psicolgicas. Entretanto, Wittgenstein
afirma, que esse livro no conteria qualquer sentena ou considerao de
natureza tica. E por que? Porque a tica no um fato.
Sabemos que definir a tica um problema j exaustivamente estudado por
ns e por diversos outros filsofos que se envolveram com essa tarefa.
Contudo, A tica, na medida em que brota do desejo de dizer algo sobre o
sentido ltimo da vida, sobre o absolutamente bom, o absolutamente valioso,
no pode ser uma cincia. O que ela diz nada acrescenta, em nenhum sentido,
ao nosso conhecimento, mas um testemunho de uma tendncia do esprito
humano que eu pessoalmente no posso seno respeitar profundamente e que
por nada neste mundo ridicularizaria.. Aqui, ele prope que a tentativa de se
escrever sobre a tica, uma tentativa de se abordar uma tendncia do
esprito humano, de tentar compreender essa tendncia a agir, pensar e
promover atos que reside na alma humana.
Nas consideraes finais de seu discurso, Wittgenstein faz uma afirmao um
tanto angustiante: Esta corrida contra as paredes de nossa jaula perfeita e
absolutamente desesperanada. Nesse momento, a jaula se torna nossos
limites impostos pela linguagem e a corrida significa o nosso esforo em abordr
temas de tica e Religio.
Afinal, Wittgenstein no prope que se deixe de escrever sobre a tica, ou de
tentar compreend-la. Ele apenas nos apresenta o fato de que nossa
linguagem no capaz de descrever seno fatos e que a tica no um fato,
uma tendncia do esprito humano, que no pode ser descrita e nem
compreendida em forma de palavras.
Este o texto completo da Conferncia Sobre a tica pronunciada por
Wittgenstein: Antes de comear a falar sobre meu tema, permitam-me fazer
algumas observaes introdutrias. Tenho conscincia de que terei grandes
dificuldades para comunicar meu pensamentos e penso que algumas delas
diminuiriam se as mencionasse de antemo.
A primeira, que quase no necessito apontar, que o ingls no minha
lngua materna. Por esta razo, meu modo de expresso no possui aquela
elegncia e preciso que seria desejvel para quem fala sobre um tema difcil.
Tudo o que posso fazer pedir que me facilitem a tarefa tentando entender o
que quero dizer, apesar das faltas que contra a gramtica inglesa vou cometer
continuamente.
A segunda dificuldade que mencionarei que, provavelmente, muitos de vocs
vieram a esta minha conferncia com falsas expectativas. Para esclarecer este
ponto, direi algumas palavras sobre a razo pela qual escolhi este tema.
50
Quando o secretrio anterior honrou-me pedindo que lesse uma comunicao
para esta sociedade, minha primeira idia foi a de que deveria certamente
aceitar e a segunda foi que, se tivesse a oportunidade de falar a vocs, deveria
falar sobre algo que me interessava comunicar e que no deveria desperdi-la
dando, por exemplo, uma conferncia sobre lgica. Considero que isto seria
perder tempo, visto que explicar um tema cientfico a vocs exigiria um curso
de conferncias e no uma comunicao de uma hora. Outra alternativa teria
sido apresentar uma conferncia que se denomina de divulgao cientfica, isto
, uma conferncia que pretendesse fazer vocs acreditarem que entendem
algo que realmente no entendem e satisfazer assim o que considero um dos
mais baixos desejos do homem moderno, a saber, a curiosidade superficial
sobre as ltimas descobertas da cincia. Rejeitei estas alternativas e decidi
falar sobre um tema, em minha opinio, de importncia geral, com a esperana
de que ele ajude a esclarecer suas prprias idias a respeito (mesmo que
vocs estejam em total desacordo com o que vou dizer).
Minha terceira e ltima dificuldade , de fato, prpria de quase todas as
conferncias filosficas: o ouvinte incapaz de ver tanto o caminho pelo qual o
levam como tambm o fim a que este conduz. Isto , ele pensa: "Entendo tudo
o que diz, mas aonde quer chegar?" ou ento "Vejo para onde se encaminha,
mas como vai chegar ali?" Mais uma vez: tudo o que posso fazer pedir que
sejam pacientes e esperar que, no final, vejam no s o caminho como
tambm onde ele leva.
Vou iniciar agora. Meu tema, como sabem, a tica e adotarei a explicao
que deste termo deu o professor Moore em seu livro Principia Ethica. Ele diz:
"A tica a investigao geral sobre o que bom." Agora, vou usar a palavra
tica num sentido um pouco mais amplo, um sentido, na verdade, que inclui a
parte mais genuna, em meu entender, do que geralmente se denomina
Esttica.
E para que vejam da forma mais clara possvel o que considero o objeto da
tica vou apresentar antes vrias expresses mais ou menos sinnimas, cada
uma das quais poderia substituir a definio anterior e ao enumer-las
pretendo obter o mesmo tipo de efeito que Galton obteve quando colocou na
mesma placa vrias fotografias de diferentes rostos com o fim de obter a
imagem dos traos tpicos que todos eles compartilhavam. Mostrando esta
fotografia coletiva, poderei fazer ver qual o tpico - digamos - rosto chins.
Deste modo, se vocs olharem atravs da srie de sinnimos que vou
apresentar, sero capazes de, espero, ver os traos caractersticos que todos
tm em comum e que so caractersticos da tica.
Ao invs de dizer que "a tica a investigao sobre o que bom", poderia ter
dito que a tica a investigao sobre o valioso, ou sobre o que realmente
importa, ou ainda, poderia ter dito que a tica a investigao sobre o
significado da vida, ou daquilo que faz com que a vida merea ser vivida, ou
sobre a maneira correta de viver. Creio que se observarem todas estas frases,
ento tero uma idia aproximada do que se ocupa a tica.
51
A primeira coisa que nos chama a ateno nestas expresses que cada uma
delas usada, realmente, em dois sentidos muito distintos. Vou denomin-los,
por um lado, o sentido trivial ou relativo, e por outro, o sentido tico ou
absoluto. Por exemplo, se digo que esta uma boa poltrona, isto significa que
esta poltrona serve para um propsito predeterminado e a palavra bom aqui
tem somente significado na medida em que tal propsito tenha sido
previamente fixado. De fato, a palavra bom no sentido relativo significa
simplesmente que satisfaz um certo padro predeterminado. Assim, quando
afirmamos que este homem um bom pianista, queremos dizer que pode tocar
peas de um certo grau de dificuldade com um certo grau de habilidade.
Igualmente, se afirmo que para mim importante no resfriar-me quero dizer
que apanhar um resfriado produz em minha vida certos transtornos descritveis
e se digo que esta a estrada correta significa que a estrada correta em
relao a uma certa meta.
Usadas desta forma, tais expresses no apresentam problemas difceis ou
profundos. Mas isto no o uso que delas faz a tica. Suponhamos que eu
soubesse jogar tnis e algum de vocs, ao ver-me, tivesse dito "Voc joga
bastante mal" e eu tivesse contestado "Sei que estou jogando mal, mas no
quero faz-lo melhor", tudo o que poderia dizer meu interlocutor seria "Ah,
ento tudo bem.". Mas suponhamos que eu tivesse contado a um de vocs
uma mentira escandalosa e ele viesse e me dissesse "Voc se comporta como
um animal" e eu tivesse contestado "Sei que minha conduta m, mas no
quero comportar-me melhor", poderia ele dizer "Ah, ento, tudo bem"?
Certamente, no. Ele afirmaria "Bem, voc deve desejar comportar-se melhor".
Aqui temos um juzo de valor absoluto, enquanto que no primeiro caso era um
juzo relativo.
A essncia desta diferena parece obviamente esta: cada juzo de valor relativo
um mero enunciado de fatos e, portanto, pode ser expresso de tal forma que
perca toda a aparncia de juzo de valor. Ao invs de dizer "Esta a estrada
correta para Granchester", eu poderia perfeitamente dizer "Esta a estrada
correta que deves tomar se queres chegar a Granchester no menor tempo
possvel". "Este homem um bom corredor" significa simplesmente que corre
um certo nmero de quilmetros num certo nmero de minutos, etc.
O que agora desejo sustentar que, apesar de que se possa mostrar que
todos os juzos de valor relativos so meros enunciados de fatos, nenhum
enunciado de fato pode ser nem implicar um juzo de valor absoluto.
Permitam-me explicar isto: Suponham que algum de vocs fosse uma pessoa
onisciente e, por conseguinte, conhecesse todos os movimentos de todos os
corpos animados ou inanimados do mundo e conhecesse tambm os estados
mentais de todos os seres que tenham vivido. Suponham, alm disso, que este
homem escrevesse tudo o que sabe num grande livro. Ento tal livro conteria a
descrio total do mundo. O que quero dizer que este livro no incluiria nada
do que pudssemos chamar juzo tico nem nada que pudesse implicar
logicamente tal juzo. Conteria, certamente, todos os juzos de valor relativo e
todas as proposies cientficas verdadeiras que se pode formar. Mas, tanto
52
todos os fatos descritos como todas as proposies estariam, digamos, no
mesmo nvel. No h proposies que, em qualquer sentido absoluto, sejam
sublimes, importantes ou triviais.
Talvez agora algum de vocs esteja de acordo e invoque as palavras de
Hamlet: "Nada bom ou mau, mas o pensamento que o faz assim." Mas isto
poderia levar novamente a um mal-entendido. O que Hamlet diz parece
implicar que o bom ou o mau, embora no sejam qualidades do mundo externo
a ns, so atributos de nossos estados mentais. Mas o que quero dizer que
um estado mental entendido como um fato descritvel no bom ou mau no
sentido tico.
Por exemplo, em nosso livro do mundo lemos a descrio de um assassinato
com todos os detalhes fsicos e psicolgicos e a mera descrio nada conter
que possamos chamar uma proposio tica. O assassinato estar exatamente
no mesmo nvel que qualquer outro acontecimento como, por exemplo, a
queda de uma pedra. Certamente, a leitura desta descrio pode causar-nos
dor ou raiva ou qualquer outra emoo ou poderamos ler acerca da dor ou da
raiva que este assassinato suscitou em outras pessoas que tiveram
conhecimento dele, mas seriam simplesmente fatos, fatos e fatos e no tica.
Devo dizer agora que, se considerasse o que a tica deveria ser realmente, se
existisse uma tal cincia, este resultado parece-me bastante bvio. Parece-me
evidente que nada do que somos capazes de pensar ou de dizer pode
constituir-se o objeto. Que no podemos escrever um livro cientfico cujo tema
venha a ser intrinsecamente sublime e superior a todos os demais. Somente
posso descrever meu sentimento a este respeito mediante a seguinte metfora:
se um homem pudesse escrever um livro de tica que realmente fosse um livro
de tica, este livro destruiria, com uma exploso, todos os demais livros do
mundo. Nossas palavras, usadas tal como o fazemos na cincia, so
recipientes capazes somente de conter e transmitir significado e sentido
naturais. A tica, se ela algo, sobrenatural e nossas palavras somente
expressam fatos, do mesmo modo que uma taa de ch somente pode conter
um volume determinado de gua, por mais que se despeje um litro nela.
Disse que com relao a fatos e proposies h somente valor relativo e acerto
e bem relativos. Permitam-me, antes de prosseguir, ilustrar isto com um
exemplo ainda mais bvio. A estrada correta aquela que conduz a um fim
predeterminado arbitrariamente e a todos ns parece totalmente claro que no
h sentido em falar da estrada correta independentemente de tal alvo
predeterminado. Vejamos agora o que possivelmente queremos dizer com a
expresso "a estrada absolutamente correta". Creio que seria aquela que, ao
v-la, todo o mundo deveria tomar com necessidade lgica ou envergonhar-se
de no faz-lo.
Do mesmo modo, o bom absoluto, se um estado de coisas descritvel, seria
aquele que todo o mundo, independentemente de seus gostos e inclinaes,
realizaria necessariamente ou se sentiria culpado de no faz-lo. Quero dizer
53
que tal estado de coisas uma quimera. Nenhum estado de coisas tem, em si,
o que gostaria de denominar o poder coercitivo de um juiz absoluto.
Ento, o que temos em mente e o que tentamos expressar quando sentimos a
tentao de usar expresses como "bom absoluto", "valor absoluto", etc.?
Sempre que tento esclarecer isto para mim natural que recorra a casos nos
quais, sem dvida, usaria tais expresses, de modo que me encontro na
mesma situao que vocs estariam se, por exemplo, eu desse uma
conferncia sobre a psicologia do prazer. Neste caso, o que vocs fariam seria
tentar invocar algumas situaes tpicas nas quais sempre sentiram prazer,
pois com esta situao na mente, chegaria a se tornar concreto e, por assim
dizer, controlvel, tudo o que eu pudesse dizer a vocs. Algum poderia
escolher como um exemplo tpico a sensao de passear num dia ensolarado
de vero. Quando trato de concentrar-me no que entendo por valor absoluto ou
tico, encontro-me numa situao semelhante.
Em meu caso, ocorre-me sempre que a idia de uma particular experincia se
apresenta como se fosse, em certo sentido, e de fato , minha experincia par
excellence e por esta razo, ao dirigir-me agora a vocs, usarei esta
experincia como meu primeiro e principal exemplo. (Como j disse, este um
assunto totalmente pessoal e outros poderiam considerar outros exemplos
mais relevantes). Na medida do possvel, vou descrever esta experincia de
maneira que faa vocs invocarem experincias idnticas ou similares a fim de
poder dispor de uma base comum para nossa investigao.
Creio que a melhor forma de descrev-la dizer que, quando eu a tenho,
assombro-me ante a existncia do mundo. Sinto-me ento inclinado a usar
frases tais como "Que extraordinrio que as coisas existam" ou "Que
extraordinrio que o mundo exista".
Mencionarei, em continuao, outra experincia que conheo e que a alguns
de vocs parecer familiar: trata-se do que poderamos chamar a experincia
de sentir-se absolutamente seguro. Refiro-me a aquele estado anmico em que
nos sentimos inclinados a dizer: "Acontea o que acontecer, estou seguro,
nada pode prejudicar-me".
Permitam-me agora considerar estas experincias visto que, segundo creio,
mostram as verdadeiras caractersticas que tentamos esclarecer. E aqui est o
que primeiro tenho a dizer: a expresso verbal que damos a estas experincias
carece de sentido.
Se afirmo "Assombro-me ante a existncia do mundo", estou usando mal a
linguagem. Deixem-me explicar isso. Tem perfeito e claro sentido dizer que me
assombra que algo seja como . Todos entendemos o que significa que me
assombre o tamanho de um cachorro que maior do que qualquer outro visto
antes ou de qualquer coisa que, no sentido ordinrio do termo, seja
extraordinria. Em todos os casos deste tipo, assombro-me de que algo seja
como , quando eu poderia conceber que no fosse assim. Assombro-me do
tamanho deste cachorro porque poderia conceber um cachorro de outro
54
tamanho, isto , de tamanho normal, do qual no me assombraria. Dizer
"Assombro-me de que tal ou tal coisa seja como " somente tem sentido se
posso imagin-la no sendo como .
Assim, algum pode assombrar-se, por exemplo, da existncia de uma casa
quando a v depois de muito tempo que no a via e tinha imaginado que ela
tinha sido demolida neste intervalo. Mas carece de sentido dizer que me
assombro da existncia do mundo porque no posso imagin-lo como no
existindo.
Certamente, poderia assombrar-me de que o mundo que me rodeia seja como
. Se, por exemplo, enquanto olho o cu azul eu tivesse esta experincia,
poderia assombrar-me de que o cu seja azul em oposio ao caso de estar
nublado. Mas no isto que quero dizer. Assombro-me do cu seja l o que
ele for. Poderamos nos sentir inclinados a dizer que estou me assombrando de
uma tautologia, isto , de que o cu seja ou no azul. Mas, precisamente, no
tem sentido afirmar que algum est se assombrando de uma tautologia.
Isto pode aplicar-se outra experincia mencionada: a experincia da
segurana absoluta. Todos sabemos o que significa na vida cotidiana estar
seguro. Sinto-me seguro em minha sala, j que no pode atropelar-me um
nibus. Sinto-me seguro se j tive a coqueluche e, portanto, j no poderei t-
la novamente. Sentir-se seguro significa, essencialmente, que fisicamente
impossvel que certas coisas possam ocorrer-me e, por conseguinte, carece de
sentido dizer que me sinto seguro acontea o que acontecer. Mais uma vez,
trata-se de um mau uso da palavra "seguro", do mesmo modo que o outro
exemplo era um mau uso da palavra "existncia" ou "assombrar-se".
Quero agora convencer vocs que um caracterstico mau uso de nossa
linguagem subjaz a todas as expresses ticas e religiosas. Todas elas
parecem, prima facie, ser somente smiles. Assim, parece que quando
usamos, em sentido tico, a palavra correto, embora o que queremos dizer no
seja correto no seu sentido trivial, algo similar. Quando dizemos: " uma boa
pessoa", embora a palavra boa aqui no signifique o mesmo que na frase "Este
um bom jogador de futebol" parece haver alguma similaridade. E quando
dizemos "A vida deste homem era valiosa", no o entendemos no mesmo
sentido que se falssemos de alguma jia valiosa, mas parece haver algum
tipo de analogia.
Deste modo, todos os termos religiosos parecem ser usados como smiles ou
alegorias. Quando falamos de Deus e de que ele tudo v e quando nos
ajoelhamos e oramos, todos os nossos termos e aes parecem ser partes de
uma grande e completa alegoria que o representa como um ser humano de
enorme poder cuja graa tentamos cativar etc.
Mas esta alegoria descreve tambm a experincia que acabo de aludir. Porque
a primeira delas , segundo creio, exatamente aquilo a que as pessoas se
referem quando dizem que Deus criou o mundo; e a experincia da segurana
absoluta tem sido descrita dizendo que nos sentimos seguros nas mos de
55
Deus. Uma terceira vivncia deste tipo a de sentir-se culpado e pode ser
descrita tambm pela frase: Deus condena nossa conduta.
Desta forma parece que, na linguagem tica e religiosa, constantemente
usamos smiles. Mas um smile deve ser smile de algo. E se posso descrever
um fato mediante um smile, devo tambm ser capaz de abandon-lo e
descrever os fatos sem sua ajuda. Em nosso caso, logo que tentamos deixar
de lado o smile e enunciar diretamente os fatos que esto atrs dele,
deparamo-nos com a ausncia de tais fatos. Assim, aquilo que, num primeiro
momento, pareceu ser um smile, manifesta-se agora como um mero sem
sentido.
Talvez para aquele que, como eu, por exemplo, viveu as trs experincias que
mencionei (e podia acrescentar outras) elas parecem ter, em algum sentido,
valor intrnseco e absoluto. Mas, desde o momento em que digo que so
experincias, certamente, so tambm fatos: aconteceram num lugar e
duraram certo tempo e, por conseguinte, so descritveis. Em continuao ao
que disse h poucos minutos, devo admitir que carece de sentido afirmar que
tm valor absoluto. Precisarei minha argumentao dizendo: " um paradoxo
que uma experincia, um fato, parea ter valor sobrenatural."
H uma via pela qual sinto-me tentado a solucionar este paradoxo. Permitam-
me considerar, novamente, nossa primeira experincia de assombro diante da
existncia do mundo descrevendo-a de forma ligeiramente diferente. Todos
sabemos o que na vida cotidiana poderia denominar-se um milagre.
Obviamente , simplesmente, um acontecimento de tal natureza que nunca
tnhamos visto nada parecido com ele. Suponham que este acontecimento
ocorreu. Pensem no caso de que em algum de vocs cresa uma cabea de
leo e comece a rugir. Certamente isto seria uma das coisas mais
extraordinrias que sou capaz de imaginar. To logo nos tivssemos
recomposto da surpresa, o que eu sugeriria seria buscar um mdico e
investigar cientificamente o caso e, se no pelo fato de que isto causaria
sofrimento, mandaria fazer uma dissecao. Aonde estaria ento o milagre?
Est claro que, no momento em que olhamos as coisas assim, todo o
milagroso haveria desaparecido; a menos que entendamos por este termo
simplesmente um fato que ainda no tenha sido explicado pela cincia, coisa
que significa por sua vez que no temos conseguido agrupar este fato junto
com outros num sistema cientfico. Isto mostra que absurdo dizer que "a
cincia provou que no h milagres".
A verdade que o modo cientfico de ver um fato no v-lo como um milagre.
Vocs podem imaginar o fato que puderem e isto no ser em si milagroso no
sentido absoluto do termo. Agora nos damos conta de que temos utilizado a
palavra "milagre" tanto num sentido absoluto como num relativo. Agora, vou
descrever a experincia de assombro diante da existncia do mundo dizendo:
a experincia de ver o mundo como um milagre.
56
Sinto-me inclinado a dizer que a expresso lingstica correta do milagre da
existncia do mundo - apesar de no ser uma proposio na linguagem - a
existncia da prpria linguagem. Mas, ento, o que significa ter conscincia
deste milagre em certos momentos e no em outros? Tudo o que disse ao
transladar a expresso do milagroso de uma expresso por meio da linguagem
expresso pela existncia da linguagem , mais uma vez, que no podemos
expressar o que queremos expressar e que tudo o que dizemos sobre o
absolutamente milagroso continua carecendo de sentido.
Para muitos de vocs a resposta parecer clara: bom, se certas experincias
nos levam constantemente a atribuir-lhes uma qualidade que chamamos valor
absoluto ou tico e importante, isto somente mostra que ao que nos referimos
com tais palavras no um sem sentido, que depois de tudo, o que
significamos ao dizer que uma experincia tem valor absoluto simplesmente
um fato como qualquer outro e tudo se reduz a isto e que ainda no
encontramos a anlise lgica correta daquilo que queremos dizer com nossas
expresses ticas e religiosas. Sempre que me salta isto aos olhos, de repente
vejo com clareza, como se se tratasse de um lampejo, no somente que
nenhuma descrio que possa imaginar seria apta para descrever o que
entendo por valor absoluto, mas que rechaaria ab initio qualquer descrio
significativa que algum pudesse possivelmente sugerir em razo de sua
significao.
Em outras palavras, vejo agora que estas expresses carentes de sentido no
careciam de sentido por no ter ainda encontrado as expresses corretas, mas
sua falta de sentido constitua sua prpria essncia. Isto porque a nica coisa
que eu pretendia com elas era, precisamente, ir alm do mundo, o que o
mesmo que ir alm da linguagem significativa. Toda minha tendncia - e creio
que a de todos aqueles que tentaram alguma vez escrever ou falar de tica ou
Religio - correr contra os limites da linguagem.
Esta corrida contra as paredes de nossa jaula perfeita e absolutamente
desesperanada. A tica, na medida em que brota do desejo de dizer algo
sobre o sentido ltimo da vida, sobre o absolutamente bom, o absolutamente
valioso, no pode ser uma cincia. O que ela diz nada acrescenta, em nenhum
sentido, ao nosso conhecimento, mas um testemunho de uma tendncia do
esprito humano que eu pessoalmente no posso seno respeitar
profundamente e que por nada neste mundo ridicularizaria.
Portanto, a teoria de Wittgenstein apresentada no texto que nosso
vocabulrio no consegue suprir nossas necessidades quando o que est em
questo a tica ou a religio, mesmo que num primeiro momento essa no
seja a impresso que temos de tudo isso. No decorrer de seu discurso, o
filsofo apresenta diversos exemplos de como a linguagem nos parece
suficiente para falar desses assuntos em alguns casos, mas analisando-os de
forma rigorosa, percebe-se que nos faltam palavras suficientes. O autor
defende que podemos descrever fatos, mas no podemos descrever coisas
no factuais.
57
Porm, como o prprio Wittgenstein conclu em sua conferncia, os esforos
para tentar escrever sobre tica e discutir assuntos a ela relacionados so
extremamente vlidos. Apesar de no existirem possibilidades de escrita de
proposies de juzos absolutos, ela uma tendncia que se impe ao ser
humano e que merece ser objeto de qualquer tipo de esforo que possamos
fazer para realizar o anseio que ela parece expressar.
NOTAS BIBLIOGRFICAS
1. Lecture on Ethics, Ludwig Wittgenstein, disponvel em:
http://www.mv.helsinki.fi/home/tkannist/E-
texts/Wittgenstein/LectureOnEthics.html
2. Conferncia sobre tica, Ludwig Wittgenstein, traduo de Darley
DAlagnol, disponvel em: http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/darlei1.htm . Essa
traduo foi seguida neste captulo.
3. A eloqncia do silncio: Wittgenstein e sua conferncia sobre tica,
ANDRADE, Ricardo Henrique Resende de; PEREIRA, Ana Carolina
Reis, disponvel em:
http://www.fbb.br/downloads/maieutica_v1_n23_a1.pdf
4. A tica no pensamento de Wittgenstein, HALLER, Rudolf.. Estud. av.,
So Paulo, volume 5, nmero 11, abril 1991, disponvel em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40141991000100005&lng=en&nrm=iso
5. Wittgenstein and values: from solipsism to inter-subjectivity, MORENO,
Arley R.. Nat. hum., So Paulo, volume 3, nmero 2, dezembro 2001,
disponvel em: em:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
24302001000200002&lng=pt&nrm=iso
58
CAPTULO 10.
H LIMITES TICOS PARA A CINCIA E A TECNOLOGIA?
Vivemos em sociedades que, cada vez mais, enfrentam seus problemas com
solues fornecidas pela Cincia. A Tecnologia, ou seja, este saber fazer que
cria novas formas de interveno no mundo e potencializa nosso poder de
alterar a natureza, um dado na vida de cada ser humano.
Cincia e Tecnologia so hoje de tal forma importantes nas vidas das pessoas
que, ter as habilidades necessrias para utiliz-las se tornou condio para o
exerccio da moderna cidadania. Sem conhecimento cientfico e sem
habilidades tecnolgicas no possvel desfrutar o patrimnio de benefcios
que as sociedades modernas produzem.
Entretanto, quando nos perguntamos sobre as garantias quem temos de que
estamos praticando o bem, ou estamos fazendo algo moralmente correto,
quando construmos esse tipo de sociedade baseada no emprego das solues
fornecidas pela Cincia e pela Tecnologia, as respostas no parecem ser
satisfatrias. As sociedades construdas no regime de emprego em escala de
solues cientficas e tecnolgicas parecem estar inevitavelmente associadas a
males que nos amedrontam Tememos o resultado do consumo em massa de
alimentos transgnicos; nos apavoramos com as possveis conseqncias do
superaquecimento global; com a superpopulao no mundo; com o terrorismo;
com o desrespeito s liberdades individuais e com a desconsiderao das
identidades das minorias. E tudo isso parece estar associado com o emprego
de Cincia e Tecnologia.
Esse rpido diagnstico suficiente para nos colocar face s questes que
envolvem as relaes entre tica, Cincia e Tecnologia. Afinal, temos alguma
garantia de que a prtica de aes que so justificadas pela Cincia e os
procedimentos que decorrem das solues tecnolgicas podem ser
considerados como intervenes moralmente corretas no mundo? A prpria
atividade de produzir Cincia e Tecnologia pode ser considerada como
moralmente justificvel?
Na tentativa de subsidiar e colocar parmetros para esse debate, neste
captulo so defendidas quatro teses fundamentais:
59
1. A Cincia e a Tecnologia no so moralmente neutras, elas expressam um
conjunto de avaliaes morais que traduzem uma viso de como o mundo
deveria ser;
2. O progresso cientfico e tecnolgico no um bem em si mesmo para a
humanidade, pois novas teorias e nova informao sobre o saber fazer podem
colocar em risco o bem do ser humano;
3. A aplicao dos resultados das descobertas cientficas e inovaes
tecnolgicas no sempre um bem para a humanidade, posto que novas
descobertas podem colocar em risco a liberdade das pessoas;
4. A descoberta cientfica e a inveno tecnolgica devem ser moralmente
justificadas, posto que as investigaes e descobertas no podem ser
dissociadas do estudo das conseqncias que elas podem produzir. Assim, h
limites morais para a investigao cientfica e a inveno tecnolgica.
Associadas a essas posies, so apresentados trs objetivos estratgicos:
1. As teorias cientficas e as inovaes tecnolgicas devem ser avaliadas em
suas implicaes, tanto tericas quanto prticas atravs de constante controle
crtico.
2. O controle crtico deve ser feito por cientistas e no cientistas.
3. As informaes sobre as descobertas cientficas e inovaes tecnolgicas e
as conseqncias de suas implementaes prticas devem ser acessveis a
todos os membros da sociedade.
Nestes ltimos cem anos, aps um surto de investigao sobre os temas de
Filosofia da Cincia, durante o qual a ateno e os esforos dos filsofos,
separados em analticos e hermenutas, foram consumidos pelos debates
sobre os fundamentos do conhecimento cientfico e suas implicaes, a nova
temtica emergente nas discusses envolve questes de tica e Filosofia
Poltica. As questes decorrentes do debate sobre o conceito de justia
tornam-se os temas recorrentes dos filsofos polticos. Nesse sentido somam-
se os esforos de filsofos ocupados com a tica e os envolvidos com Filosofia
Poltica, principalmente, em decorrncia da vizinhana dos temas com os quais
se envolvem, tanto uns como outros.
Dentre os temas que tm ocupado a produo filosfica contempornea, torna-
se cada vez mais relevante a questo que pergunta sobre os limites ticos da
investigao cientfica, da inovao tecnolgica e de suas aplicaes prticas.
A agenda intelectual dos filsofos passou a incluir a investigao sobre os
critrios relevantes de justificao moral e poltica da atividade de criar teorias,
de descobrir novas formas de realizar tarefas e de coloc-las em prtica. Em
60
resumo, os problemas que so atinentes avaliao moral e poltica do
desenvolvimento cientfico, da inveno tecnolgica e de suas aplicaes
prticas tem despertado o interesse da comunidade cientfica, de uma forma
geral.
Aqui se pretende propor que o problema da identificao dos limites ticos da
Cincia seja discutido dentro do contexto que caracteriza o pensamento
moderno como uma viso ilustrada do mundo. Chama-se de viso ilustrada
aquela que entende que as limitaes da Cincia esto associadas aos limites
dos seres humanos, ou seja, que esto associadas prpria condio humana.
Assim, os limites da Cincia so imanentes ao prprio ser humano. Eles
decorrem das prprias condies que tornam possvel o tipo de conhecimento
no qual a Cincia se constitui.
Ao conhecer, o ser humano representa para si o mundo atravs de contedos
cognitivos que, ao satisfazerem determinadas regras, so identificados como
conhecimento racional. Assim, a racionalidade humana se constitui numa
condio da prpria Cincia. dentro dos limites da racionalidade que se d a
representao cognitiva do ser humano como um ser capaz de produzir o
conhecimento cientfico e de agir conforme os parmetros da ao
determinados pela racionalidade humana. Assim, o ser humano tambm um
ser tico. O ser humano ilustrado avalia suas condutas conforme referenciais
valorativos racionais. Esses referenciais determinam limites para o agir, do qual
resulta a Cincia. Donde se segue a relao de limitao entre tica e Cincia.
De igual forma, isso impe o problema da relao entre Cincia e Tecnologia,
posto que existem limites da Cincia que decorrem de sua relao com o saber
fazer que ela prpria determina. Com isso se quer argumentar o carter
imanente do humano e encontrar nessa imanncia os subsdios para propor
solues para a questo da determinao dos limites do conhecimento
cientfico, das invenes tecnolgicas e de suas aplicaes prticas.
A tica pretende dar conta de construir uma teoria racional das aes
humanas, no sentido de identificar as proposies que descrevem as regras de
conduta apropriadas para as diferentes situaes. As teorias ticas se
constroem dentro de um contexto de justificao; elas existem para oferecer
argumentos que demonstrem que determinadas condutas devem ser adotadas
pelos agentes. O objetivo dos projetos ticos encontrar critrios que permitam
a consecuo do 'bem', ou ento, da felicidade do ser humano.
Com a Cincia se deseja construir um modelo explicativo da realidade que
permita captar as suas regularidades e conhecer as conseqncias que podem
decorrer da construo de determinadas condies especficas. O objetivo das
teorias cientficas a 'verdade'. Contudo, supostamente, a 'verdade' expressa a
forma mais eficiente de se tratar com o mundo. Nesse sentido, a Cincia
61
tambm possibilita que se prescrevam procedimentos e, ao faz-lo, se
transforma em Tecnologia. Por isto se pode dizer que a distino fundamental
entre Cincia e Tecnologia est na constatao de que esta ltima tem carter
procedimental. Isto , ela resulta na identificao do procedimento 'mais
apropriado s verdades cientficas'. A tica, por sua vez, tem por objetivo a
realizao do 'bem' do ser humano que ela mesma prescreve em que consiste.
(Peluso, Luis A.; A tica entre o ceticismo e o positivismo, Campinas, SP,
Revista Reflexo, Janeiro-Agosto, 1993, Ano XX, No. 63, pp.23-43)
Assim, A tica tem por objetivo a determinao das regras de conduta que
prescrevem os atos que traduzem a noo de bem, dever, ou felicidade, no agir
humano. A determinao do bem uma tarefa que envolve a capacidade
cognitiva do ser humano, que aqui se pretende defender que seja a atividade
racional.
A Cincia tem por objetivo a consecuo da verdade, que aqui se pretende
conceber como o conhecimento que melhor satisfaz determinadas regras
metodolgicas identificadas como as regras que apontam um certo tipo de
conhecimento racional.
A Tecnologia tem por objetivo identificar o procedimento eficiente, que muitas
vezes, pode ser concebido como o procedimento que justificado pelo
conhecimento cientfico, isto , o procedimento que consentneo com o
conhecimento tido por verdadeiro em um determinado momento e, portanto,
expressivo da atividade racional. H um problema que se pe, entretanto,
quando se argumenta que nem sempre o bem, o verdadeiro e o eficaz
coincidem.
A responsabilidade moral dos cientistas indica a disposio que eles tm de
justificar, de oferecer boas razes para as formas de conduta que efetivamente
possuem. Viver eticamente significa viver segundo regras morais justificveis.
Isso no significa que as pessoas que vivem eticamente praticam
inevitavelmente o bem. Essa uma questo de justificao. Praticar o bem
significa realizar em suas aes o bem, que justificvel racionalmente.
A questo da responsabilidade moral dos cientistas encontra-se aqui delineada
no confronto de quatro teses fundamentais. Assim:
1. A Cincia e a Tecnologia no so moralmente neutras. Primeiro porque
existe um cdigo de normas que devem ser obedecidas pelos cientistas na
busca da verdade. A idia de paradigma cientfico introduzida por Thoma Kuhn
implica a existncia de regras de procedimento em funo das quais os
cientistas se agrupam. (Kuhn, Thomas. The structure of scientific revolution)
No existe acordo sobre as normas do exerccio da Cincia. Contudo, h
indcios que valores como universalismo, iseno pessoal, ceticismo,
originalidade, criticismo, humildade, tolerncia devem ser inerentes ao
exerccio da atividade cientfica. De qualquer forma, esses ideais so de
natureza moral e expressam interpretaes sobre a forma como o mundo
62
deveria ser. Nesse sentido, eles determinam o procedimento dos cientistas.
Assim, os cientistas esto obrigados a justificar esses ideais e as prticas que
eles implicam. As regras metodolgicas da Cincia expressam a preferncia
por determinados ideais morais. A suposta neutralidade cientfica no pode ser
confundida com a objetividade da Cincia. A objetividade decorre de regras
metodolgicas, como a que prescreve a necessidade de criticar e discutir as
diferentes teorias.
Ainda, o compromisso dos cientistas com a verdade da natureza e o carter
meramente explicativo da Cincia ficam seriamente prejudicados, quando se
considera o fato que a direo geral das investigaes determinada por
agncias e organismos que financiam somente certos tipos de pesquisa. Isto ,
esses organismos somente fornecem recursos para aquelas pesquisas que
justificam certas prticas que atingem os objetivos que coincidem com
interesses que essas agncias defendem. Portanto, a atividade cientfica est
comprometida com esses objetivos. Nesse sentido, a Cincia no
moralmente neutra, devendo os cientistas justificar a moralidade de suas
aes.
A neutralidade moral da Cincia parece comprometida se considerarmos o fato
que os cientistas so influenciados por suas vises do mundo, pelos seus
interesses gerais e pelas tendncias caractersticas de seu tempo. Assim, seu
conhecimento no o resultado de um esforo objetivo de explicar o mundo,
mas , certamente, influenciado por suas idias sobre como ele deveria ser.
Portanto, a atividade de produzir Cincia deve ser justificada em termos
morais.
2. O progresso cientfico e tecnolgico no um bem em si mesmo para a
humanidade. No existem garantias tericas que o resultado da pesquisa
cientfica e da inovao tecnolgica expressa sempre o progresso e, como tal,
um bem para a humanidade.
Primeiro porque, a tese que afirma o carter benfico do progresso cientfico
apia-se na teoria errnea que a evoluo, no sentido de seleo dos
melhores, uma lei que rege a estrutura do Universo. Essa posio historicista
de que caminhamos para a perfeio insustentvel. Pois, a evoluo no
uma lei natural, mas um fenmeno que somente ocorre em certas estruturas
dotadas de certas caractersticas peculiares, como a reproduo fiel ao tipo da
prpria estrutura e a reproduo fiel dos acidentes ocorridos na estrutura. O
Universo no um sistema previsvel em suas determinaes. Dessa forma, o
ser humano no o resultado necessrio de um movimento em direo ao
perfeito, mas, to somente, uma alternativa vivel da vida dentro de
determinadas circunstncias. (Monod, Jacques; A propsito da teoria
molecular da evoluo; in Harr, Rom; Problemas da revoluo cientfica,
p.38) O conhecimento humano pode ser um subproduto humano, cuja
conseqncia pode ser a prpria destruio da espcie. Portanto, cabe a
investigao sobre os ideais morais que esto implicados no avano do
conhecimento cientfico. O avano do conhecimento cientfico pode estar
associado a situaes moralmente condenveis.
63
Segundo, a idia de progresso cientfico pertence ao universo das categorias
metodolgicas da Cincia. Como tal ela indica a direo do processo pelo qual
certas teorias so substitudas por outras. Afirma-se que h progresso cientfico
quando uma teoria mais bem sucedida, conforme regras metodolgicas,
substitui aquelas que tm uma performance menos notvel em vista dos
critrios. A idia de bem da humanidade pertence ao contexto da justificao
das condutas humanas e as regras que as prescrevem. Assim, diz-se que uma
certa regra de conduta implica o bem da humanidade quando concorre para a
concretizao de determinados valores que devem ser. De uma forma geral,
pode-se dizer que a idia de progresso cientfico pertence ao contexto de
explicao das teorias.
Portanto, h progresso cientfico e tecnolgico quando h avano em direo
verdade. Isso no significa que aquilo que descoberto como verdade implica
a ordem dos ideais que devem ser. Esta ltima a ordem do mundo moral.
Nesse sentido, o progresso cientfico precisa ser moralmente justificado.
Somente a fora dos argumentos pode convencer que aquilo que a verdade
o que corresponde s exigncias da tica.
3. A aplicao dos resultados das descobertas cientficas e inovaes
tecnolgicas no sempre um bem para a humanidade. A aplicao das
novas teorias e das descobertas tecnolgicas nem sempre melhora a situao
do ser humano. Primeiro, porque a aplicao de novas teorias e invenes
tecnolgicas cria situaes nem sempre desejveis para alguns dos afetados
por elas. Assim, a descoberta de novas doenas cria a necessidade da
realizao de exames e pe em risco a liberdade das pessoas. O uso de novas
mquinas implica na mudana do estilo de vida das pessoas e,
conseqentemente, dos modos pelos quais orientam sua conduta. As
aplicaes de teorias cientficas e de inovaes tecnolgicas podem resultar
em situaes de sofrimento para os indivduos envolvidos. Geralmente as
pessoas que devem tomar as decises no esto informadas sobre os riscos
das tecnologias que empregam. Portanto, no h garantia que o uso dos
resultados do progresso cientfico e do avano tecnolgico resulte sempre no
bem da humanidade.
4. H limites morais para a investigao cientfica e a inveno
tecnolgica. Cientistas e tecnlogos no tem garantida a liberdade de
investigar e inventar. Pois, a inveno de teorias e de tecnologias deve ser
controlada moralmente, conforme a possibilidade de serem justificadas face a
critrios morais. Primeiro, porque como resultado das investigaes cientficas
atuais, o ser humano vem incrementando o seu extraordinrio poder de
destruio do mundo. A avaliao da investigao cientfica no pode ser
dissociada do estudo das conseqncias que essa investigao pode produzir.
Isso significa que toda investigao cientfica deve ser justificada. Devem ser
apresentados argumentos que procurem evidenciar as possveis
conseqncias, principalmente as conseqncias inesperadas, das
investigaes cientficas e das inovaes tecnolgicas. Segundo, porque
grande parte dos recursos aplicados nas investigaes cientficas de origem
pblica. Portanto, a sociedade tem o direito ao conhecimento cientfico til.
64
Essa utilidade deve servir como indicador das reas que so de interesse da
sociedade que custeia a pesquisa cientfica.
Portanto, o que se pretende argumentar que Cincia e Tecnologia constituem
conhecimentos em progresso contnuo. Contudo, o avano da Cincia e da
Tecnologia no necessariamente em si mesmo um 'bem' para o ser humano,
nem necessariamente um 'bem' em sua aplicao. O progresso da Cincia e
da Tecnologia para ser um 'bem', do ponto de vista tico, isto para se
conformar com o padro de conduta racionalmente desejvel, depende da
intervenincia de algumas variveis que esto diretamente relacionadas com o
controle crtico dos resultados, em termos de custos e benefcios para os
indivduos afetados.
Assim, em primeiro lugar, preciso avaliar as aplicaes da Cincia e da
Tecnologia. Isto significa que as aplicaes devem ser mantidas sob constante
controle crtico. Este controle ser direcionado no sentido de revelar os custos
e benefcios em que resulta a aplicao da Cincia e da Tecnologia.
Em segundo lugar, necessrio que essa avaliao seja feita por
cientistas e no cientistas. Os cientistas no so necessariamente os
melhores juzes de suas prprias realizaes. A avaliao a que devem ser
submetidas a Cincia e a Tecnologia se fundamenta em critrios ticos que
no coincidem, necessariamente, com os critrios cientficos.
Finalmente, as conseqncias das descobertas cientficas e das
aplicaes tecnolgicas devem ser acessveis a todos os membros da
sociedade. necessrio que sejam criados mecanismos com o fim precpuo
de informar o grande pblico sobre as conseqncias que podem advir da
aplicao das descobertas cientficas e tecnolgicas. Atravs desse
esclarecimento, os indivduos podero formar opinies e construir o seu juzo
moral.
O conhecimento algo inexorvel. Os custos de se conter o avano do
conhecimento humano e de eliminar a aplicao das descobertas cientficas e
tecnolgicas muito alto. Cincia e Tecnologia esto associadas ao tipo de
mundo que vem sendo construdo nas sociedades industriais avanadas. O
conhecimento humano corresponde ao tipo de resposta que a espcie humana
capaz de dar, na medida em que se adapta e sobrevive, enquanto uma
forma de vida. A Cincia e a Tecnologia so partes imprescindveis desse
conhecimento necessrio para a humanidade sobreviver.
Contudo, embora seja inevitvel, o conhecimento expresso na Cincia e na
Tecnologia no necessariamente um 'bem'. Ele no sempre moralmente
justificvel. Cabe ao ser humano procurar descobrir as conseqncias da
aplicao das descobertas e decidir quais so aquelas que ele deseja. Cabe ao
ser humano, ainda, criar mecanismos para que as conseqncias indesejveis
sejam evitadas.
preciso ter medo das conseqncias das invenes e da aplicao das
descobertas em Cincia e Tecnologia. Porm no se pode perder a esperana
de que os resultados das novas descobertas estaro sempre sob o controle de
65
algumas dimenses que consideramos nobres no ser humano. preciso
acreditar que no ser humano, em ltima instncia, alm do desejo de conhecer,
existe a vontade de ser justo, ou seja, de ter condutas que satisfaam os
critrios de moralidade, ainda que seja particularmente difcil a sua
identificao. Portanto, preciso estar convencido de que a racionalidade
humana no expressa somente na Cincia, mas principalmente na tica
que ela encontra sua expresso maior.
66
CAPTULO 11.
EXISTEM RAZES PARA O SUICDIO?
...encarei o abismo por longos minutos,
decidindo se dava um passo frente ou no...
(http://dedalus-atlas.blogspot.com/)
O suicdio consiste no ato de uma pessoa tirar sua prpria vida. Trata-se de ato
que, uma vez praticado, destri, inevitavelmente, o prprio agente. um ato
extremo, pois terminal. As supostas razes para algum cometer um ato de
tal gravidade, nos permitem considerar que existem tipos diferentes de
suicdios. Assim, se os motivos esto relacionados com dificuldades
financeiras, com problemas com relacionamentos com outras pessoas, ou
distrbios mentais, consideramos que se trata suicdio verdadeiro. Outra
forma de suicdio a eutansia voluntria, que ocorre quando uma pessoa,
que se encontra em um estado de sade precrio ou de doena terminal, que a
torne profundamente impossibilitada de exercer as atividades necessrias para
o atendimento de suas necessidades instintivas, sofrendo dores fortes e sem
chance de recuperao, pede para que sua vida seja terminada pela
interveno de outra pessoa. Em ambos esses casos, a situao em que a
pessoa se encontra a pe num estado de profundo desespero e ela no
encontra outra alternativa para dar cabo ao seu sofrimento, se no atravs da
prpria morte.
Diferentes sistema ticos, ou teorias morais costumam avaliar de forma diversa
as mesmas situaes envolvidas nas aes humanas. Em um grande nmero
de casos, as teorias morais acabam por emitir os mesmos juzos ticos.
Entretanto, no h garantias de que somos capazes de decidir dentre as
diferentes teorias morais quando elas discordam. Assim, se confrontarmos as
consideraes que podem ser feitas por Hume, Kant e os Utilitaristas, tais
como Bentham e Mill, poderemos ter juzos discrepantes.
Para Hume, os seres humanos decidem sobre a moralidade de suas aes
movidos por suas emoes, ou paixes morais. A razo no exerce influncia
na determinao da moralidade das aes e serve para ser utilizada como uma
ferramenta com o intuito de diferenciar uma situao prazerosa de uma no-
prazerosa. Hume acreditava que as aes consideradas morais eram aquelas
que tinham uma grande aprovao por parte dos seres humanos. Ele assim
defendia a idia de que o ser humano possui uma impresso original sobre o
que moral e aquilo que no o .
67
Kant afirmava que o ser humano por natureza egosta, ambicioso,
manipulador e s age de acordo com os prprios interesses. No entanto, o ser
humano possui a razo. Para Kant, somente atravs do senso de dever
proporcionado pela razo prtica que a humanidade consegue agir de forma
moral. Este senso de dever imposto por ns mesmos, e , segundo o autor, a
maior prova de nossa humanidade. O ser humano s est realmente livre
quando vive de acordo com seu senso de dever. Para melhor definir o que
deve ser considerado uma ao moral, Kant estabeleceu as seguintes trs
mximas morais:
1. Age como se a mxima de tua ao devesse ser erigida por tua vontade em
lei universal da Natureza. Esta regra afirma a idia da universalidade das
aes consideradas morais, que assim o devem ser para todo e qualquer ser
humano em toda e qualquer situao.
2. Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na
pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio. Esta regra
afirma o respeito e a dignidade com que se deve tratar os outros seres
humanos, que por isso devem ser vistos como um fins e nunca como meios
para a obteno de algo.
3. Age como se a mxima de tua ao devesse servir de lei universal para
todos os seres racionais. A terceira mxima moral afirma que o ser humano
deve sempre agir pensando que suas aes deveriam ser morais o suficiente
para serem praticadas por toda a humanidade, ou seja, para que a humanidade
viva em um mundo racional ao invs de natural.
Kant entende que uma ao imoral aquela que entra em desacordo com pelo
menos uma dessas trs mximas por ele propostas.
Essa a razo pela qual Kant considera imoral o ato do suicdio. Ele
argumenta que Um homem, por uma srie de males que o levaram ao
desespero, sente grande nojo de viver, muito embora mantenha o suficiente
domnio de si para se perguntar se o atentar contra a prpria vida no constitui
uma violao do dever para consigo mesmo. Procura ento averiguar se a
mxima de sua ao pode converter-se em lei universal da natureza. Sua
mxima seria esta: "por amor de mim mesmo, estabeleo o princpio de poder
abreviar minha existncia, se vir que, prolongando-a, tenho mais males que
temer do que satisfaes que esperar dela". A questo agora est apenas em
saber se tal princpio do amor de si pode ser erigido em lei universal da
natureza. Mas imediatamente se v que uma natureza, cuja lei fosse destruir a
vida, em virtude justamente daquele sentimento que tem por funo peculiar
estimular a conservao da vida, estaria em contradio consigo mesma e no
poderia subsistir como natureza. Assim, esta mxima no pode, por forma
alguma, ocupar o posto de lei universal da natureza, e por tal motivo
68
inteiramente contrria ao princpio supremo de todo dever. (Kant,
Fundamentao da Metafsica dos Costumes)
Outra forma de discutir a moralidade de nossas aes e que tem implicaes
para a avaliao tica do ato de por fim prpria vida, corresponde viso dos
utilitaristas. O utilitarismo uma corrente filosfica originada durante o sculo
XVIII cujos mais reconhecidos representantes so Jeremy Benthan e seu
discpulo John Stuart Mill. Seu estilo de argumentao moral muito
semelhante ao de Hume. Segundo o utilitarismo, a caracterstica que constitui o
ato moral que ele maximiza o bem estar de todos aqueles que so afetados
pela sua prtica. Nesse sentido, todo ser humano age buscando sentir o
mximo de prazer possvel e tentando evitar o mximo de dor possvel. No
entanto, esse prazer no pode ser egosta, sendo o objetivo final de toda ao
humana proporcionar o mximo de felicidade para todos aqueles cujos
interesses estejam ligados quela ao. Foi nesse contexto que Benthan
chegou a desenvolver um clculo moral para avaliar o nvel de utilidade que
tem uma determinada ao, medindo-a de acordo com sua intensidade,
durao, certeza, proximidade, fecundidade, pureza e extenso. Para os
utilitaristas, o sofrimento, mesmo que em outros, sempre um mal. Uma ao
boa aquela que proporciona prazer a todos aqueles que so afetados por ela,
e agir moralmente tentar realizar aes que dem prazer ao maior nmero de
pessoas possvel
Partindo desta forma de pensamento, o suicdio verdadeiro mais uma vez
condenado como um ato imoral. A presuno de que a morte significa alvio
dos males do agente, no se justifica face ao sofrimento que haver de gerar
nos demais afetados pela ao. Numa primeira aproximao tem-se a
impresso que a discusso sobre a moralidade dos atos conduzida pelos
utilitaristas de forma simplista, em evidente desconsiderao complexidade
das situaes. Entretanto, essa percepo no corresponde realidade. A
anlise utilitarista do suicdio permite entender que o ato do suicdio tem que
ser interpretado luz das razes que motivaram a ao. Essas motivaes so
expresso de como o agente percebe a realidade atravs de seu conhecimento
da realidade.
Na viso dos utilitaristas os contedos cognitivos se expressam em idias, ou
manifestaes, que so objeto de uma certa forma de tratamento que nos
permite submet-las ao exame no sentido de descobrir como esses meios de
expresso satisfazem ou infringem determinados critrios de aceitabilidade.
As formas cognitivas, ou intelectuais, de tratar o mundo, ainda que criteriosas,
tem um carter particularmente problemtico. que os critrios de
aceitabilidade no nos permitem decidir de forma definitiva e apurada entre o
aceitvel e o inaceitvel. Donde decorre que, conhecimentos com contedos
69
informativos discrepantes possam ser mantidos ao mesmo tempo. O fato de
uma idia, teoria ou crena satisfazer os critrios de aceitabilidade no significa
que essa teoria seja, definitivamente, aceitvel. Entretanto, o que parece certo
que se os critrios de aceitabilidade no so satisfeitos, ento temos o
inaceitvel. Portanto, o mundo dos contedos cognitivos, em sua prpria
natureza parece, em grande parte, indecidvel. Ser um agente cujas aes so
avaliadas em funo de contedos cognitivos indecidveis significa ser capaz
de encontrar as razes para agir em meio a motivaes provisrias. Nesse
contexto, somente so reprovveis de forma definitiva as aes que, uma vez
praticadas, no h possibilidade de evitarmos as suas conseqncias
indesejveis. Isso especialmente vlido no caso daquelas aes que
sabemos que suas conseqncias inevitveis so indesejveis. necessrio,
entretanto, pressupor que se tenha algum tipo de consenso sobre o que o
indesejvel para o ser humano. E isso , tambm, particularmente,
problemtico.
certo que h todo um conjunto de bons argumentos em favor de
comportamentos de autodestruio. Muito empenho e esforo intelectual, com
excelentes resultados, foram postos por gnios do esprito humano no sentido
de conhecer o sentido do Nada e, at mesmo, demonstrar que a considerao
do no ser o nico caminho para entender um pouco a existncia humana.
Esto errados aqueles que pensam que quem opta por no continuar existindo
est fazendo uma escolha sem amparo intelectual. H boas razes para no
ser.
Entretanto, essas razes no so decisivas. Elas satisfazem os critrios de
aceitabilidade, mas, isso no significa que sejam aceitveis de forma definitiva.
Razes para no ser continuam indecidveis. Nesse contexto, razes para
no ser no so capazes de tornar justificadas nossas condutas terminais que
delas seriam decorrentes.
Para a viso utilitarista, o agente moral possui a capacidade de agir num
contexto de interpretaes representativas do mundo em que, somente em
alguns casos, nem sempre freqentes, podemos estar seguros de suas
inaceitabilidade. Nesse sentido, ser um agente moral significa perceber que
so infundados os preconceitos, as supersties e os horrores que, via de
regra, impedem o ser humano de praticar as aes autodestrutivas e que so
precrios os conhecimentos que dispomos e que podem ser razes para viver
ou morrer.
A interpretao utilitarista construda a partir do fato que necessrio viver.
Isso nos dado e no temos escolha. No somos livres para existir. Podemos
escolher por um fim em nossas vidas. Isto certo. Entretanto, no estamos na
posio de poder declarar que o fazemos motivados por contedos cognitivos
70
que tornam a opo pela vida inaceitvel. No que concerne s aes de viver e
morrer no h razes inaceitveis. Portanto, h uma conduta moralmente
necessria. Ela consiste em evitar aes que possuam resultados esperados
indesejveis. O fato que se estamos vivos, decerto no sabemos por que
razes. Podemos mudar isso.
NOTAS BIBLIOGRFICAS
1. Para uma viso do texto integral no qual se baseou parte deste captulo,
verifique Anlise da Moralidade do Suicdio, sob o ponto de vista da
tica de Hume, Kant e do Utilitarismo, de Victor Melo de S, disponvel
em:
https://docs.google.com/document/d/1GGFrWswKmzCwqnLPyPfCU_qjl_
eCRQStz_Jv5rdxXtA/edit?hl=en&authkey=CPrpx54J#
2. Verifique tambm o texto Das Razes para o Suicdio, de Luis Alberto
Peluso, disponvel em: https://docs.google.com/document/d/1519-
HiMqeYuxRmHbJInoJAmwdb7ig-vDRYSo8Lr6VCA/edit?hl=en#
71
CAPTULO 12.
AS CINCIAS E AS ARTES MELHORAM OS SERES HUMANOS?
Em um texto muito interessante, pelos argumentos que contem, intitulado
Discurso sobre a Cincia e as Artes, Jean-Jacques Rousseau responde
seguinte pergunta: Contribuiu o restabelecimento das cincias e das artes
para purificar os costumes?. Em algumas passagens desse texto ela afirma:
No me preocupo de agradar nem aos belos espritos nem gente da moda.
Em todos os tempos, haver homens feitos para serem subjugados pelas
opinies do seu sculo, do seu pas e da sua sociedade... preciso no
escrever para tais leitores, quando se quer viver alm de seu sculo...
A riqueza do ornamento pode anunciar um homem opulento, e sua elegncia
um homem de gosto: o homem so e robusto reconhecido por outros sinais;
sob a vestimenta rstica de um lavrador, e no sob os dourados do corteso
que se encontraro a fora e o vigor do corpo. O ornamento no menos
estranho virtude, a qual a fora e o vigor da alma. O homem de bem um
atleta que tem prazer em combater nu; despreza todos esses vis ornamentos
que dificultam o uso das suas foras e cuja maior parte s foi inventada para
ocultar alguma deformidade...
Antes da arte modelar as nossas maneiras e ensinar as nossas paixes a falar
uma linguagem apurada, nossos costumes eram rsticos, porm naturais; e a
diferena dos procedimentos anunciava, ao primeiro golpe de vista, a dos
caracteres. A natureza humana, no fundo, no era melhor; mas, os homens
encontravam sua segurana na facilidade de se penetrarem reciprocamente; e
essa vantagem, cujo valor no sentimos, lhes evitava muitos vcios...
Hoje, que pesquisas mais sutis e um gosto mais fino reduziram a arte de
agraciar a princpios, reina nos costumes uma vil e enganadora uniformidade,
parecendo que todos os espritos foram atirados num mesmo molde: a polidez
sempre exige, o decoro ordena; sem cessar, todos seguem os usos, jamais o
seu prprio gnio. Ningum mais ousa parecer aquilo que ; e, nesse
constrangimento perptuo, os homens que formam esse rebanho chamado
sociedade colocados nas mesmas circunstncias faro todos as mesmas
coisas, se motivos mais poderosos no os desviarem. Jamais saberemos bem
a quem nos dirigirmos: precisamos pois, para conhecer um amigo, esperar as
grandes ocasies, isto esperar que no haja mais tempo, pois que
precisamente nesse tempo que seria essencial conhec-lo...
Que cortejo de vcios no acompanhar essa incerteza! No h mais amizades
sinceras no h mais estima real; no h mais confiana fundada. As
suspeitas, as desconfianas, os temores, a frieza, a reserva, o dio, a traio,
72
ho de ocultar-se sempre sob o vu uniforme e prfido da polidez sob essa
urbanidade to louvada, que devemos s luzes do nosso sculo...
Eis, pois, o mais sbio dos homens, segundo o julgamento dos deuses, e o
mais sbio dos atenienses, segundo o sentimento da Grcia inteira. Scrates, a
fazer o elogio da ignorncia! Acredita-se que, se ele ressuscitasse entre ns,
os nossos sbios e artistas o fariam mudar de opinio? No, senhores: esse
homem justo continuaria a desprezar as nossas vs cincias; no ajudaria a
aumentar esse monto de livros que nos inundam por toda parte, e deixaria,
apenas, como fez, como nico preceito aos seus discpulos e aos nossos
netos, o exemplo e a memria de sua virtude. E assim que belo instruir os
homens...
Eis como o luxo, a dissoluo e a escravido, em todos os tempos, foram o
castigo dos esforos orgulhosos que fizemos para sair da ignorncia em que a
sabedoria eterna nos colocara. O espesso vu com que cobriu todas essas
operaes parecia nos advertir bastante de que no nos destinou a vs
pesquisas. Os homens so perversos; seriam ainda piores, se tivessem tido a
desgraa de nascer sbios...
A astronomia nasceu da superstio; a eloqncia, da ambio, do dio, da
adulao, da mentira; a geometria, da avareza; a fsica, de uma v curiosidade;
todas, e a prpria moral, do orgulho humano. As cincias e as artes devem seu
nascimento aos nossos vcios: duvidaramos menos das suas vantagens, se o
devessem s nossas virtudes...
Sei que preciso ocupar as crianas e que a ociosidade para elas o perigo
que mais se deve temer. Que necessrio, ento, que aprendam? Eis a uma
bela questo. Que aprendam o que devem fazer sendo homens, e no o que
devem esquecer... Temos fsicos, gemetras, qumicos, astrnomos poetas,
msicos, pintores; no temos mais cidados, ou, se ainda nos restam alguns,
dispersos nos campos abandonados, a morrem indigentes e desprezados...
Que a filosofia? Que contm os escritos dos filsofos mais conhecidos?
Quais so as lies desses amigos da sabedoria? Quando os ouvimos, no os
tomamos por uma tropa de charlates, gritando cada um de seu lado em uma
praa pblica: Vinde a mim, sou o nico que no engano ningum? Um
pretende que no h corpo e que tudo representao; outro, que no h
outra substncia alm da matria, nem outro deus alm do mundo. Este
avana que no h virtudes nem vcios, e que o bem e o mal moral so
quimeras; aquele, que os homens so lobos e se podem devorar em segurana
de conscincia. Oh grandes filsofos! que no reservais para os vossos amigos
e para os vossos filhos com essas proveitosas lies! em breve, recebereis o
prmio disso, e no temeremos encontrar entre os nossos alguns dos vossos
sequazes...
Oh virtude, cincia sublime das almas simples, ser preciso ento tanto
trabalho e tantos aparelhos para te conhecer? Teus princpios no esto
gravados em todos os coraes? E no bastaria, para ensinar tuas leis,
73
penetrar em si mesmo e escutar a voz da conscincia no silncio das paixes!
Eis a verdadeira filosofia, saibamos nos contentar com ela; e, sem invejar a
glria desses homens clebres que se imortalizam na repblica das letras,
tratemos de pr entre eles e ns esta distino gloriosa que se notava outrora
entre dois grandes povos: um sabia dizer bem, o outro bem fazer.
Em seu Discurso sobre a Cincia e as Artes, Rousseau busca esclarecer
...uma dessas verdades que se relacionam com a felicidade do gnero
humano. O autor nos alerta para o fato que est ciente da censura universal
que sofrer, j que est indo de encontro a tudo aquilo que desperta a
admirao dos homens: a cincia, a erudio, as letras, as artes. O
posicionamento de Rousseau acerca do tema central do discurso, isto , se o
restabelecimento das cincias e das artes contribuiu para purificar os
costumes, patente desde as primeiras linhas e expressa a censura s
cincias, o desprezo pelo estudo e a reverncia ignorncia, mas ele no se
importa com a recusa de seus supostos ouvintes, pois, o que o impulsiona a
defesa da virtude.
Para Rousseau as cincias e as artes nasceram de nossos vcios, superstio,
ambio, dio, adulao, mentira, avareza e orgulho humano e a conseqncia
bvia desta origem a dissoluo dos costumes. Para ele enquanto as
comodidades da vida se multiplicam, as artes se aperfeioam e o luxo se
propaga, a coragem se debilita e as virtudes desaparecem. Tanto assim que
luxo e arte, jurisprudncia e injustias, histrias e guerras no teriam sentido se
considerados isoladamente.
Ao criticar a valorizao que o ornamento alcanou na sociedade, em suas
palavras ...o vil ornamento que foi inventado para ocultar alguma
deformidade, Rousseau expe, mais uma vez, sua crtica mordaz em relao
frivolidade dos homens fteis que privilegiam a retrica, a eloqncia e o
luxo, tudo o que simboliza a degradao das virtudes e a degenerao da
felicidade humana.
A aparente virtude e carter, a urbanidade de costumes, a necessidade de
aprovao mtua, esto dissociadas das disposies do corao: todos
seguem os usos, nunca o seu prprio gnio.
A corrupo de nossas almas proporcional valorizao das letras, cincias
e artes; quanto mais lhes damos valor, menos reconhecemos nossas virtudes.
A felicidade para Rousseau o estado primitivo do homem, a simplicidade, a
inocncia, a feliz ignorncia, e a virtude representao desta vida simples,
que tem origem no corao dos homens, qualidades estas que as cincias e as
artes vieram corromper.
Os exemplos histricos corroboram a argumentao rousseauniana, foi
pequeno o nmero de povos que, atravs da Cincia e das Artes, alcanaram a
virtude e felicidade. A vitria sobre imprios deveu-se, to-somente, a bravura
e pobreza destes povos libertos da cultura da Cincia. Para Rousseau o
homem virtuoso aquele que valoriza a natureza e os sentimentos, aquele que
74
pretere o artificialismo da vida civilizada austeridade moral, nos moldes do
modelo espartano.
Apesar de ter sido escrito em 1749, o texto revela uma perspectiva que ainda
hoje pode ser posta como uma instncia para inspirar o exame crtico do papel
da Cincia, das Artes, enfim, da perspectiva intelectual de interpretar e atuar
sobre o mundo. Trata-se da defesa do natural e do primitivo no ser humano.
Supostamente, possvel resgatar uma dimenso daquilo que chamamos de
humanidade e que no expresso dessa razo moderna que teve seus
caracteres fundamentais propostos por Descartes, Hume e Kant. nesse
sentido que a proposta de Rousseau de criticar a Cincia e as Artes como
sendo as expresses maiores do Projeto Iluminista e daquilo que se poderia
chamar de cultura intelectualizada do mundo moderno. Ainda hoje o texto de
Rousseau pode ser lido como fonte de inspirao para os que querem criticar
os modelos de reflexo sobre a tica, que se constroem de forma artificial
como um mero discurso sobre o bem e o mal. Essa moral desvinculada de uma
interpretao do ser humano como um ser cuja dimenso especfica dada
pela capacidade de praticar virtudes. E as virtudes so dadas pelo contexto
natural dos elos que unem todos os seres humanos nas sociedades e que
tornam possvel que todos sejam iguais.
NOTAS BIBLIOGRFICAS
1. Para ler na ntegra o texto Discurso sobre as Cincias e as Artes, de
Jean-Jacques Rousseau, acesse:
http://achiame.com/portal/sites/default/files/books/Ciencia%20e%20Arte.pdf
75
CAPTULO 13.
IMORAL MODIFICAR O PRPRIO CORPO?
Desde muito tempo atrs, o corpo humano tem sido usado como suporte
artstico. Sociedades inteiras pintaram seus corpos, perfuraram-se e tatuaram-
se em nome de seus deuses ou como forma de enfeitarem-se e seguir sua
busca por si mesmos, por seus parceiros, por seus deuses, por sua insero
numa comunidade e numa cultura.
No mundo moderno, as alteraes corporais esto, de uma forma geral,
associadas body art, ou a Arte no Corpo, que , simplesmente, uma
manifestao artstica na qual o artista torna o seu corpo um suporte ou um
meio de expresso para suas idias e sua inspirao, colocando-se como obra
viva. Provavelmente esse tipo de arte teve sua origem nas idias de Marcel
Duchamp, que revolucionou a forma de enxergar o que se chamava de arte
quando afirmou que absolutamente tudo pode ser usado como uma obra de
arte.
Na body art, o corpo humano posto em evidncia. Ela corresponde ao anseio
de buscar sensibilizar os indivduos em relao a seus corpos. A idia geral da
body art consiste em expor e potencializar o corpo, fazendo dele um
instrumento artstico do ser humano. Trata-se daquilo que tem sido chamado
desfetichizao do corpo. Grande parte das reaes contrrias, provem de
que, em algumas verses mais radicais, a body art correspondeu a algumas
performances em que os artistas trabalhavam as atividades cotidianas, os
processos biolgicos tais como digesto e excreo, ressaltando suas relaes
com o prazer e com a dor. E, muitas vezes, provocaram, propositadamente,
sentimentos de averso e repulsa no pblico presente a apresentaes e
espetculos.
Foi na dcada de 60 que a body art cresceu, vindo a mesclar-se com a arte da
performance, com o happening, com os vdeos e a fotografia. E mostrou-se, em
sua forma mais agressiva, durante os protestos pelos direitos humanos
relacionados guerra do Vietn.
Atualmente ainda mais perceptvel a incidncia de tais praticas, procurando
reproduzir o que desde sempre foi uma prtica das comunidades humanas,
remodelando os rituais, ou adequando-os a processos estticos, artsticos ou
estritamente pessoais.
A modificao corporal a alterao deliberada permanente ou no do corpo
humano por razes estticas, religiosas, culturais, artsticas, sem que existam
razes associadas preservao da sade corporal. Basicamente a
modificao corporal consiste em alteraes realizadas em qualquer parte do
76
corpo com o intuito de tornar o individuo diferente, ou semelhante, aos demais
membros de seu grupo.
Atualmente os praticantes das modificaes corporais so mais comumente
vistos fazendo uso de tatuagens, implantes subcutneos no muito diferentes
dos implantes de silicone utilizados por cirurgies plsticos, implantes
transdermais geralmente produzidos com ligas metlicas bio compatveis,
cicatrizes chamadas de escarificaes, queimaduras extremamente
elaboradas, implantes magnticos subcutneos e outras prticas menos
comuns, como o esculpimento corporal, isto , mudanas extremas nas
formas do corpo, como criar orelhas de elfo, lngua bfida etc.
A maioria das prticas de modificao corporal tem origem milenar, como as
suspenses realizadas na ndia, as perfuraes asiticas e americanas, as
escarificaes realizadas na frica, dentre outras tantas prticas. Assim como
as tatuagens, essas prticas eram adotadas por alguns grupos que viviam em
guetos bastante marginalizados nas grandes cidades. At que, nas dcadas de
60 e 70 com a valorizao dos costumes orientais e do movimento hippie, o
que era tido como marginal foi, apesar da sobrevivncia de algum preconceito,
sendo introduzindo no dia a dia da sociedade moderna.
Porm, na modificao corporal a relao do artista com o corpo humano difere
daquela que estabelecida nas Performances e na body art. Aqui, no h
distino entre o artista e a obra, entre o sujeito criador e o objeto criado. O
sujeito o objeto e no deixar de ser, independente do tempo e do espao em
que se encontre. Alm disso, o tempo da exposio deixa de ser limitado,
sendo constitudo pelo tempo de vida do indivduo transformado, e o local de
exibio no mais demarcado, sendo todos os espaos por onde ele circula.
Tal prtica , antes de transformao do corpo do indivduo, uma
transformao do indivduo em obra de arte, em veculo de expresso. O artista
transforma-se na prpria obra de arte e se expe continuamente a todos com
os quais entra em contato. Essas prticas acabam por recriar corpos atravs
da arte e criam e recriam arte, atravs dos corpos. E, com eles, instituem
modos particulares de relao social. Os corpos humanos so tomados como
telas vivas, tornando-se objetos capazes de criar possibilidades interessantes
de relacionamento entre os artistas e seus interlocutores.
Mesmo sem ser um objetivo buscado pela maioria dos que praticam a
modificao corporal, o fetiche sexual est presente nesse tipo de prtica. Pois,
sabido que, nas sociedades primitivas, a modificao do corpo tem sido
utilizada como estratgia de aquisio dos adereos para atrair parceiros
sexuais, uma vez que estes se destacavam dos demais.
Alm disto, atravs da modificao corporal, temos uma atitude que confronta
com os padres estticos e morais em vigor na sociedade, o que causa
desprezo e averso, muitas vezes seguidos de admirao, curiosidade, desejo,
atrao.
77
Uma das principais objees que so feitas prtica da modificao corporal
consiste na alegao que essa prtica mutila o corpo humano, na medida em
que subtrai algum membro ou partes do corpo modificado. Entretanto, os
praticantes dessa modalidade argumentam que na mutilao tem-se a
subtrao, a contra gosto, de alguma parte do corpo ou do poder de executar
alguma funo. Contudo, isso no ocorre na modificao corporal, quando o
agente busca alguma forma de benefcio esttico, emocional ou espiritual,
mesmo que para isso muitas vezes seja necessrio recorrer s intervenes
micro cirrgicas.
O argumento em favor da moralidade das prticas de modificaes corporais
tem sido feito no sentido de demonstrar que elas correspondem a prticas
correntes nas sociedades contemporneas. E que a dificuldade de reconhecer
a moralidade das aes de modificar o prprio corpo so meras expresses de
preconceitos. Assim, elas so, em muitos aspectos semelhantes s prticas de
mamoplastias, abdominoplastias, lipo-esculturas e demais processos cirrgicos
que tem por intuito dar s figuras das pessoas os aspectos que satisfaam os
padres estticos adotados em uma sociedade. Nesse sentido, as
modificaes corporais no podem ser consideradas diferentes em sua prpria
natureza de muitas das formas de interveno no corpo humano que so
aceitas e que possuem carter moral aprovado e reconhecido nas sociedades
contemporneas.
Vrias prticas adotadas por grupos de indivduos tem carter de interveno
nas formas do corpo humano, sem, contudo, serem consideradas como
prticas mutilatrias. Assim, a prtica da circunciso, os rituais de aplicao de
aoite e cilcio, a extrao da primeira falange do dedo mnimo das mos, o
costume de perfurar as orelhas das mulheres so atos pelos quais membros
so dilacerados ou extirpados. E todos eles, assim como a modificao
corporal, tem o mesmo carter de interveno na forma do corpo.
Diferentes culturas utilizam-se da modificao corporal como atividade de
significado religioso. A suspenso corporal uma prtica que pode levar os
seus praticantes a estados especiais de disposio espiritual. Os adeptos da
suspenso corporal a usam para meditao que pode, supostamente, conduzir
a um nvel mais elevado de conscincia espiritual.
Uns usam piercings, fazem tatuagens e implantes. Outros vo alm e
desfazem-se de dedos, mos e at mesmo membros inteiros. Alguns esticam
as orelhas e os lbios O fato que, quando tentamos entender os atos
praticados por um seguidor de um credo religioso, que atravs de mutilaes
busca encontrar a purificao de sua alma e maior proximidade com seu deus,
passamos pela dificuldade de compreender a causa desta atitude. Entretanto,
demanda um grande esforo reflexivo examinar as razes que levam pessoas
a tornarem-se bombas vivas, e a tentarem obter a vitria de sua causa poltica
e a salvao de sua alma atravs do suicdio til.
Os praticantes das modificaes corporais moldam seus corpos em busca de
satisfao, de sentirem-se melhor com os prprios corpos. Ao adotarem essa
78
prtica, eles, transformam seus corpos em um veiculo que expressa seu
desconforto com relaes aos padres vigentes em sua sociedade, ou como
um objeto a ser recriado para expressar uma obra de arte.
Automutilao, instabilidade emocional, necessidade de ateno ou falta dela,
crueldade, psicopatia, depresso, imaturidade adolescente, tortura, violncia,
pessimismo, uso de drogas e at mesmo inclinao ao suicdio so
caractersticas associadas, de forma preconceituosa, aos envolvidos com as
prticas aqui referidas.
Contudo, no contexto da modificao corporal, as intervenes realizadas em
determinadas partes do corpo ganham um significado e se inserem num
quadro de justificaes racionais que as tornam moralmente aceitveis, no
havendo razes para consider-las imorais.
O debate moral no pode ser obscurecido pela viso preconceituosa que nos
foi transmitida, muitas vezes, atravs dos costumes e da educao e que nos
torna incapazes de compreender os hbitos daquelas pessoas que so
diferentes de ns. Isso particularmente relevante no que diz respeito quilo
que considerado como comportamento normal e como atitude esperada dos
membros de uma sociedade.
Nenhuma das alegaes que so feitas em favor da imoralidade dos atos de
modificao corporal parece ter procedncia. Em nenhum sentido, essas
prticas so ofensivas contra as demais pessoas com as quais os praticantes
de modificao corporal convivem. Nem so essas prticas ofensivas aos
prprios praticantes. De uma maneira geral elas podem ser feitas em
condies que no representem riscos para os praticantes, bem como podem
ser praticadas por razes estticas justificveis em um contexto argumentativo,
como so os contextos em que se do os juzos morais.
NOTAS BIBLIOGRFICAS
1. Para mais informao, veja: http://vidasuspensa.wordpress.com/
2. Para mais informao, veja: http://www.freewebs.com/vienna-
actionists/index.htmhttp://www.freewebs.com/vienna-actionists/index.htm
3. O Corpo Como Suporte da Arte, de Beatriz Ferreira Pires, 2005, Edio: 1
4. O material aqui reunido baseado no texto: Imoralidades Contra si mesmo
de Fernanda Toscano Bloise e pode ser encontrado em sua forma original no
link:
https://docs.google.com/document/d/1u2_NEkpi_y3qsfdtB_CJYI4Yct5vnJfFbTH
1LcTN-3s/edit?hl=en#
79
CAPTULO 14.
COMO PODEMOS OBTER JUSTIA?
A primeira tentativa de responder essa questo e que deu incio a toda uma
forma moderna de discutir o problema da justia, foi dada pelo jurista Austraco
chamado Hans Kelsen (1881-1973). Ele foi o responsvel pela idia que a
construo de uma teoria que explicasse o que a Justia e em que condies
ela pode ser obtida, no assunto para ser resolvido no mbito dos debates
sobre a Cincia do Direito. Ele sugeriu que a investigao sobre a Justia
somente pode ser feita por teorias que no tem o carter emprico da Cincia
do Direito. Essa seria uma tarefa para filsofos ou polticos. Assim, seguindo-se
a sugesto de Kelsen, no podemos presumir, como vinha sendo feito pela
teoria do Direito desde o sculo XVII, que a obteno da Justia era uma tarefa
a ser realizada pelo aparelho jurdico das sociedades.
No ltimo pargrafo do Captulo I, Direito e Natureza do Livro Teoria Pura do
Direito, Hans Kelsen afirma: Do que fica dito resulta que uma ordem jurdica,
se bem que nem todas as suas normas estatuam atos de coao, pode, no
entanto, ser caracterizada como ordem de coao, na medida em que todas as
suas normas que no estatuam elas prprias um ato coercitivo e, por isso, no
contenham uma prescrio mas antes confiram uma competncia para a
produo de normas ou contenham uma permisso positiva, so normas no
autnomas, pois apenas tem validade em ligao com uma norma que estatui
um ato de coero. E tambm nem todas as normas estatuidoras de um ato de
coero prescrevem uma conduta determinada (a conduta oposta visada por
esse ato), mas somente aquelas que estatuam o ato de coao como reao
contra uma determinada conduta humana, isto , uma sano. Por isso o
Direito, ainda por esta razo, no tem carter exclusivamente prescritivo ou
imperativista. Visto que uma ordem jurdica uma ordem de coao no sentido
que acaba de ser definido, pode ela ser descrita em proposies enunciando
que, sob pressupostos determinados (determinados pela ordem jurdica),
devem ser aplicados certos atos de coero (determinados igualmente pela
ordem jurdica). Todo o material dado nas normas de uma ordem jurdica se
enquadra neste esquema de proposio jurdica formulada pela cincia do
80
Direito, proposio esta que se dever distinguir da norma jurdica posta pela
autoridade estadual.
Neste trecho Kelsen quer provar que: a cincia do Direito um conjunto de
proposies factuais que expressam o conhecimento sobre a ordem de coao
criada pelo significado jurdico (licititude e ilicitude) que as normas estabelecem
para nossas aes. Ento, a cincia do Direito um conhecimento que se
expressa em proposies factuais. Mas, um conhecimento sobre as relaes
entre aes e normas. Entretanto, as normas so proposies imperativas, ou
prescritivas. Ento, a cincia do Direito um conjunto de proposies factuais,
empricas, que tratam daquilo que estabelecido por proposies normativas
(que so manifestao da vontade da autoridade). Isso significa que, o Direito
(ordem jurdica) uma ordem imperativa. Ela manifesta a vontade de algum
(da autoridade). Mas, uma vez estatudo, o Direito, no tem mais carter
prescritivo. Ele passa a ter um carter objetivo, puro, impessoal. Ele diz algo,
empiricamente verificvel, sobre a licitude ou ilicitude das nossas aes. A
cincia do Direito trata da ordem jurdica enquanto algo empiricamente
testvel. Por isso, a cincia do Direito no se confunde com o Direito. Ela pode
ser verdadeira ou falsa. Enquanto que, sobre o Direito, sobre algo real, no
cabe dizer se ele verdadeiro ou falso. Ele o real, aquilo que acontece.
Sobre a ordem jurdica, isto sobre a forma como so regulamentadas as
condutas dos seres humanos em interao, podemos perguntar se justa ou
injusta. Essa pergunta, para Kelsen, no pode ser respondida de forma
cientfica. Ela pode ser respondida pela Filosofia, pela Moral, pela Poltica etc.
Mas, qual o significado da justia? Somente tem sentido dizer que uma ao
praticada por um indivduo justa quando seu comportamento corresponde a
uma ordem dada como justa. Assim, somente tem sentido falarmos em ordem
justa ou injusta. E uma ordem justa quando ela regula o comportamento dos
seres humanos de modo a contentar a todos, isto , quando todos encontrarem
nela a sua felicidade. Portanto, a justia a felicidade social, a felicidade que
pode ser obtida atravs da ordem social.
Entretanto, o que a felicidade? Esse um conceito que pode ser entendido
num sentido subjetivo: aquilo que cada um considera agradvel para si mesmo.
Nesse sentido, inevitvel que a felicidade de um indivduo entre em conflito
com a felicidade de outro. Deste modo ela impossvel. Nenhum arranjo das
relaes entre indivduos ser capaz de realiz-la.
Somente h um sentido em que a felicidade dos indivduos realizvel. Trata-
se de interpret-la como a satisfao das necessidades socialmente
reconhecidas. Necessidades socialmente reconhecidas so aquelas
identificadas como dignas de proteo pela maioria dos indivduos
subordinados a uma determinada ordem social. Portanto, trata-se de garantir a
81
felicidade individual dentro de uma ordem social que protege determinados
interesses socialmente reconhecidos.
Portanto, uma ordem justa aquela que permite aos indivduos atenderem
certos interesses para que possam ser felizes. Contudo, quase nunca h
acordo sobre os interesses que devem ser socialmente protegidos. H conflitos
de interesses entre as pessoas, entre os grupos, pois, os interesses se
excluem, se contradizem e se limitam mutuamente. A prpria natureza dos
interesses, que os torna conflitantes, demanda que organizemos uma
hierarquia de interesses. Para fazer uma hierarquia precisamos de valores.
Entretanto, os valores so subjetivos. Os juzos de valores so, sempre, em
ltima instncia, determinados por fatores emocionais e relativos ao sujeito que
julga. Entretanto, preciso decidir quando h conflito entre vida, liberdade,
segurana, apego verdade, compaixo, indivduo, coletividade. necessria
a construo de uma hierarquia dos valores que os disponha de forma a
sabermos qual deles deve prevalecer no caso de conflito entre eles.
A construo de uma hierarquia de valores demanda a existncia de um critrio
ltimo absoluto. O estabelecimento de um comportamento como justo implica
no juzo definitivo de que outro comportamento seria injusto. Entretanto, a
racionalidade moderna no permite a construo de juzos absolutos e
definitivos. Isto significa que o juzo, por meio do qual um comportamento
declarado como absolutamente justo no poder ter o carter racional. Para se
construir uma teoria racional da justia, seria preciso conceber a justia de
forma relativa e, portanto, construir uma hierarquia de valores relativos (e no
absolutos).
A soluo poderia estar na construo de uma teoria racional da Justia
relativa: Seria possvel construir uma hierarquia de valores relativos? Kelsen
defende que h um valor que parece ser relativo por definio a
TOLERNCIA, entendida como: a exigncia de compreender com
benevolncia a viso religiosa ou poltica de outros, mesmo que no a
compartilhemos, e, exatamente porque no a compartilhamos, no impedir a
sua manifestao pacfica. Esse valor poderia ser o fundamento de tal
hierarquia. Essa tolerncia no seria absoluta, posto que, ela somente
acontece no mbito de um ordenamento jurdico positivo capaz de garantir a
paz entre os submetidos a essa ordem jurdica, proibindo-lhes qualquer uso da
violncia, sem, contudo, inibir a possibilidade de manifestao pacfica de suas
opinies. A ordem social que se constri a partir do princpio do respeito
tolerncia a Democracia.
A Democracia o nome que damos ordem social que respeita a liberdade
das pessoas. Portanto, a Democracia a ordem social que permite a
tolerncia. A Tolerncia a predisposio ao respeito mtuo da liberdade dos
82
indivduos. Ademais, a democracia uma forma de organizar as sociedades
que propcia ao desenvolvimento da cincia. A cincia no pode prosperar
sem que ocorra liberdade de investigar de forma independente de influncias
polticas e sem que exista a liberdade total de confrontar argumentos e contra-
argumentos. A cincia um exemplo de ordem social de tolerncia. A alma da
cincia a tolerncia. Nesse sentido, a cincia (comunidade cientfica) um
exemplo de ordem social onde valores relativos permitem queles que se
relacionam segundo suas normas serem justos, felizes, verdadeiros, sinceros,
livres, pacficos, democratas e tolerantes.
Kelsen foi o responsvel pela introduo do tema sobre a Justia como a
questo mais relevante no debate contemporneo envolvendo a tica, Filosofia
Poltica, a Teoria do Direito.
83
CAPTULO 15.
LIBERAIS OU COMUNITARISTAS?
Existem dois conceitos que, desde a origem da chamada civilizao ocidental e
crist, estiveram na agenda das preocupaes intelectuais das pessoas e
foram objeto de muitas investigaes. Trata-se das idias de Verdade e
Justia. O que a Verdade? Em que condies o nosso conhecimento pode
ser considerado verdadeiro? E ainda, o que a Justia? Quando que nossas
aes podem ser consideradas como justas? Conhecer e Agir; idias e aes;
epistemologia e tica, parecem expressar duas dimenses importantes da
existncia humana.
O conceito de Justia tornou-se particularmente importante desde o incio do
sculo XX. E os parmetros do debate contemporneo sobre Justia foram
estabelecidos por Hans Kelsen. Na sua obra "Teoria Pura do Direito", Kelsen
alega que a discusso sobre a Justia no pertence ao mundo das discusses
da Cincia do Direito. Entretanto, ele constri toda uma teoria da Justia.
Ocorre que, num primeiro momento, a "Teoria Pura do Direito" e as
possibilidades de uma Cincia Positiva do Direito, ocupam os debates na
Filosofia Poltica do incio do Seculo XX. Posteriormente, as idias de Kelsen
sobre a Justia ocupam o cenrio dos debates, posto que no se consegue
entender o Direito somente atravs de uma Cincia Pura do Direito. Ns
precisamos da idia de Justia. Por outro lado, o conceito de Justia pode ser
entendido a partir de reflexes sobre o indivduo, ou de consideraes sobre a
sociedade. Isto , a Justia pode se expressar na preservao da liberdade dos
indivduos, ou na construo das condies de uma vida social bem sucedida.
nesse sentido que tem se construdo o debate contemporneo entre Liberais
(Isaiah Berlin, John Rawls, Robert Nozick, R. Dworkin) e os Comunitaristas (M.
Walzer, M. Sandel, R. Taylor, J. Habermas).
Hoje as discusses sobre tica envolvem, necessariamente, a questo da
construo de uma teoria da Justia. John Rawls (1921-2002), publicou em
1971 a sua obra Uma Teoria da Justia e com ela criou uma nova agenda de
temas a serem investigados por todos os que se interessavam por tica e
Filosofia Poltica. Nessa obra, Rawls apresenta aquilo que ele chamou de uma
teoria poltica sobre a Justia. Algumas de suas idias se tornaram estmulo
para o debate que se seguiu publicao de seu texto.
84
Para Rawls, a Justia a primeira virtude das instituies sociais, como a
Verdade o dos sistemas de pensamento. As instituies sociais devem ser
abolidas se so injustas. A justia indisponvel (no est sujeita a qualquer
tipo de negociao). Cada indivduo possui inviolabilidade fundada na Justia
que nem mesmo o bem estar da sociedade como um todo pode ignorar. Os
direitos individuais que decorrem da idia intuitiva de Justia no so
negociveis. A injustia s tolervel quando for necessria para evitar uma
injustia maior.
As instituies bsicas de uma sociedade somente so justificveis atravs da
idia de contrato social. Os contratos devem expressar as condies de
possibilidade de elaborao de compromissos justos entre pessoas que
reconhecem certas regras de conduta e que, na maioria das vezes, agem de
acordo com elas. Contratos justos seriam aqueles elaborados por pessoas
racionais, dispostas a colaborar e que tem uma mesma percepo intuitiva da
noo de Justia.
As pessoas com essas caractersticas e colocadas numa posio original, em
que elas ficassem atrs de um suposto vu de ignorncia, que as privasse de
informaes sobre como os vrios dispositivos do contrato social havero de
afetar a situao particular de cada uma, estariam em condio de identificar
as instituies bsicas de uma sociedade justa. Essas pessoas na posio
original e cobertas pelo vu de ignorncia haveriam de, consensualmente,
escolher os princpios de Justia.
Os princpios da Justia so os seguintes:
1. Primeiro Princpio: Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais
abrangente sistema total de liberdades bsicas iguais que seja compatvel com
um sistema semelhante de liberdade para todos;
2. Segundo Princpio: As desigualdades econmicas e sociais devem ser
ordenadas de tal modo que, ao mesmo tempo: a) tragam o maior benefcio
possvel para os menos favorecidos, e b) sejam vinculadas a cargos e posies
abertos a todos em condies de igualdade eqitativa de oportunidades.
O consenso sobre esses princpios e sobre os termos do acordo original que
constituem o contrato social expresso de um equilbrio reflexivo. Isto , o
processo de avanos e recuos que resultam das pressuposies razoveis e
das convices apuradas e ajustadas dos indivduos na posio original.
Portanto, os conceitos fundamentais da Teoria da Justia de Rawls so: vu de
ignorncia, posio original, princpios da Justia e equilbrio reflexivo.
O Debate sobre as idias de Rawls acabaram por resultar numa nova lista de
questes com as quais se envolveram os mais diferentes filsofos polticos dos
85
ltimos cem anos. E depois de Rawls as tentativas de resolver as perguntas
sobre a Justia distriburam os interlocutores em Liberais e Comunitaristas.
Alguns desses tpicos sero aqui apresentados.
1. O CONCEITO DE PESSOA: a Teoria da Justia de Rawls implica num
conceito de pessoa totalmente livre para satisfazer os requisitos exigidos para
se colocar na posio original. Isto , a teoria poltica liberal adotada por
Rawls concebe os seres humanos como distintos de seus fins, valores e
concepes de bem, de uma forma que no corresponde maneira como as
pessoas, de fato, se relacionam com esses fins. Essa concepo liberal de
pessoa, como seres dissociveis de suas idias sobre o bem, ignora que as
pessoas so constitudas de tal forma que no so separveis de suas prprias
concepes. No existem as pessoas que estariam na posio de poder
livremente escolher os fins que dariam sentido e valor s suas vidas. A posio
original de Rawls exige pessoas que, ao pensarem sobre a Justia, sejam
capazes de desfazerem-se de suas particularidades, tanto naturais como
sociais e de abstrarem-se de si prprias, ficando apenas caracterizadas por
seus interesses em racionalmente buscar pelo conceito de bem, a ser
construdo atravs do equilbrio reflexivo. Esse conceito de pessoa parece
impossvel de se realizar concretamente. As pessoas so como so por causa
dos valores, dos fins e das particularidades que adotam. As pessoas esto
inseridas em culturas diferentes. E se entendem a partir dos ingredientes que
so fornecidos por essas culturas. certo, entretanto, que em muitas culturas
as pessoas no se concebem como livres e iguais. Estariam essas pessoas
interessadas, de alguma forma, em adotar a posio original para satisfazer as
condies que tornariam possvel a construo de uma sociedade justa? Ao
que tudo indica, o liberalismo de Rawls e sua priorizao da liberdade
individual coerente com a teoria da justia que ele prope. Entretanto, cabe
perguntar se os custos de se adotar essa posio, que implica no abandono de
outras perspectivas, no seria alto demais.
2. INDIVIDUALISMO: Um segundo tema que a Teoria da Justia de Rawls pe
para ser pensado concerne ao seu conceito de indivduo, na medida em que
ignora que a sociedade onde as pessoas vivem que molda o que elas so e
os valores que possuem. Rawls adota uma viso do contrato social que implica
que os fins das pessoas so formados independentemente das comunidades
onde vivem. O fato que, na teoria liberal de Rawls a idia de sociedade tem
um espao muito pequeno. A nfase posta no indivduo deixa de lado a
considerao das formas como a sociedade influi na maneira como as pessoas
pensam, e se consideram como indivduos. A teoria de Rawls no reconhece
as origens sociais e comunitrias do auto entendimento que os indivduos tem
e de como eles deveriam viver suas prprias vidas. Essa forma liberal de
pensar as relaes entre os indivduos e suas comunidades exclui outras
formas de considerar essa relao. Nessa viso liberal, a sociedade no mais
86
que uma aventura cooperativa para obteno de vantagens para os indivduos,
uma associao privada formada por indivduos cujos nicos interesses so
definidos independentemente dos interesses das comunidades das quais os
indivduos so membros. Concepes do bem que envolvem a idia de bem
comum, que implicam na afirmao do valor dos laos sociais so
desconsiderados pelo modelo de Justia proposto por Rawls. Esse modelo no
abrange a idia que os bens a serem obtidos nos arranjos sociais justos so
fortemente comunitrios em seu contedo. Ele desconsidera que o que torna a
vida valiosa e digna de ser vivida que ela pode ser vivida em comunidade
com os outros seres humanos e no apenas num esquema de pura
cooperao. Enfim, a viso liberal de Rawls no consegue propor uma viso da
vida humana em termos de um desenvolvimento das pessoas que se daria na
participao na vida poltica da comunidade como parte de sua realizao. A
viso liberal de Rawls considera que os indivduos tem interesses, exigncias e
valores que so anteriores prpria sociedade. E a sociedade somente se
justifica na medida em que realiza essas pretenses individuais. A cooperao,
nessa proposta, somente um meio para a realizao dos indivduos e da
preservao das liberdades individuais. Essa seria uma viso muito limitada do
significado da vida humana.
3. UNIVERSALISMO: Trata-se, agora, de examinar em que medida se pode
afirmar que o liberalismo de Rawls apresenta concluses sobre o problema da
justia que possam ser aplicadas universalmente, ou atravs das diferentes
culturas, ou se ele admite que os diferentes modos de organizar a sociedade
so apropriados e moralmente justificveis, em diferentes tipos de cultura, de
tal forma que uma proposta poltica liberal somente faria sentido para
sociedades de um certo tipo. Trata-se de examinar at que ponto o liberalismo
de Rawls leva em considerao as particularidades culturais e os diferentes
modos com que as diversas culturas tratam diferentes valores, formas e
instituies e como ele trata as conseqncias que essas diferenas podem ter
para a teoria poltica. Considerando que se pode pensar a teoria de Rawls
como Universalista, importa identificar a relevncia que nela tem as diferenas
entre as diferentes formas de organizao dos grupos sociais. O fato que a
posio original e o vu de ignorncia de Rawls demandam abstrao de
particularidades e de tudo o que faz as pessoas serem diferentes umas das
outras. A nfase na racionalidade como instrumento de elaborao do contrato
social justo, pressupe a existncia de uma certa essncia racional dos seres
humanos. Tudo isso parece sugerir que a teoria da Justia de Rawls seria uma
teoria universal aplicvel em toda e qualquer sociedade. Entretanto, h aqueles
que insistem que a teoria de Rawls no presta a devida ateno s
especificidades culturais das diferentes sociedades e da relevncia que elas
tem para os arranjos polticos. E ainda, que o Liberalismo de Rawls no leva
em conta que as tradies e prticas comunitrias so os ingredientes para a
87
interpretao dos valores morais, dos quais o contrato social uma expresso.
O Universalismo da viso liberal concorre com o seu carter dogmtico.
Quanto mais se insiste na sua universalidade mais se deixa de interpret-la
como uma viso na qual os arranjos e as convenes sociais so interpretados
como sujeitos ao exame e crtica racional.
4. SUBJETIVISMO OU OBJETIVISMO: A teoria da Justia de Rawls coloca
nfase no indivduo, na medida em que os indivduos que so postos na
posio original e so eles que elaboram o contrato para obteno da
sociedade justa. A posio original de Rawls no deixa claro, entretanto, se se
trata de enfatizar a liberdade dos indivduos de escolherem seus modos de
vida, num sentido subjetivo, em que cada um pode escolher livremente o modo
de vida que deseja viver. Ou, se se trata de deixar os indivduos escolherem
livremente seus modos de vida, mas, mantendo, ao mesmo tempo, que
algumas escolhas so objetivamente melhores do que outras e que h, dessa
maneira, modos de vida aprovados e reprovveis definitivamente. H que se
decidir se o Liberalismo implica, ou no, na afirmao de que um modo de vida
melhor do que outro. O Liberalismo implica em valorizar a liberdade, posto
que os indivduos devem decidir entre diferentes modos de vida. Entretanto, se
suas escolhas so o mero resultado de suas preferncias pessoais,
injustificveis racionalmente, ento no faz sentido um contrato social para
faz-los adotar certo modo de vida. Enfim, Rawls e os liberais insistem em
afirmar que um julgamento objetivo que o liberalismo uma teoria correta.
Entretanto, fundamentam essa afirmao na crena que as afirmaes sobre a
forma como as pessoas devem conduzir seus modos de vida so meramente
subjetivas.
5. ANTI-PERFECTIONISMO E NEUTRALIDADE: A verso do Liberalismo
adotada por Rawls na sua Teoria da Justia prope que se pense sobre
arranjos polticos e moralidade poltica a partir da excluso de consideraes
que sejam relativas s condutas individuais privadas. Para Rawls o Estado no
leva em conta os ideais que conduzem as pessoas enquanto elas vivem as
suas vidas individuais e buscam as suas concepes de bem. Nesse sentido, o
Estado neutro face s diferentes concepes de bem adotadas pelos
cidados. O arranjo poltico das sociedades deve permitir que cada pessoa
possa fazer livremente suas prprias escolhas. Isso tudo parece apresentar
uma viso do Estado como um agente anti-perfeccionista e neutro. Na viso
liberal do Estado, no h como defender que existam polticas estimulando as
pessoas a adotarem certos modos de interpretar e viver o sentido da vida. Para
o Estado liberal to relevante passar a vida jogando games na internet, ou
assistindo peas clssicas nos teatros mais sofisticados. O vu de ignorncia,
defendido por Rawls, certamente uma estratgia anti-perfeccionista, na
medida em que exclui certas crenas sobre concepes particulares do bem.
Enfim, ao adotar uma viso perfeccionista do Estado os liberais estariam
88
apontando para a necessidade de suprimir a liberdade dos indivduos em
escolherem seus prprios modos de vida. Por outro lado, ao adotarem uma
postura anti-perfeccionista estariam dissociando o liberalismo de uma teoria
poltica que expressa progresso moral. Em nome da defesa de um Estado
neutro, os liberais precisam defender uma viso do Estado que no se pe a
favorecer alguns meios de vida e buscam proteger os direitos dos cidados
fazerem suas prprias escolhas livres. A questo consiste em saber se o
arranjo liberal das sociedades permite a preservao de certos meios de vida
que parecem perecer se no forem levadas em conta as caractersticas
comunitrias que esses meios de vida tem.
NOTAS BIBLIOGRFICAS
(Para uma leitura mais aprofundada, consulte, Mulhall, Stephen; Swift,
Adam; Liberals and Comunitarians, Blackwell, Malden, Massachusetts,
second edition, 1997.)
89
CAPTULO 16.
POR QUE PUNIMOS AS PESSOAS QUE INFRINGEM AS REGRAS DE
CONDUTA?
Quase todas as sociedades de que se tem notcia possuem cdigos de
condutas. Os cdigos de conduta so constitudos por um conjunto de
sentenas normativas que prescrevem a forma como as pessoas devem se
comportar nas diferentes situaes. Nas sociedades modernas vem se
consolidando a tradio de que esses cdigos de conduta sejam justificados
por argumentos que expressem o esforo do ser humano de ser racional. Nem
sempre foi assim. Existem sociedades onde as normas de conduta so
produzidas por autoridades, das quais no se exige que justifiquem as normas
que prescrevem. Nas sociedades modernas as normas precisam ser
justificadas. Partes daquilo que chamamos de tica e de Direito consistem nos
argumentos para justificar as aes prescritas.
As normas de conduta so enunciados que prescrevem as condutas que
devem ser praticadas pelas pessoas. Quando essas normas so prescritas de
forma tal que existe todo um sistema regulado de garantia de sua observncia
e quando a sua interpretao e a aplicao s diferentes situaes de conduta
so operadas por todo um sistema de administrao estabelecido pelas
prprias normas, no mais das vezes, composto por tribunais, juzes,
acusadores e defensores, dizemos que essas normas so leis ou normas do
Direito. As demais regras de conduta, devidamente justificadas, so chamadas
de regras da tica ou da Moral. Portanto, conforme j foi dito anteriormente,
no h discordncia entre tica e Direito. Quando as normas que so passveis
de justificao discordam daquelas que so efetivamente praticadas pelas
pessoas, ou daquelas que constituem o contedo das normas legais, ento
nem so ticas as referidas condutas das pessoas, nem constituem normas
vlidas as supostas normas legais. Somente so normas ticas ou legais
aquelas que so justificadas. Certamente, podemos discordar sobre a
justificao, ou no, de uma norma. Nesse caso temos um problema de
justificao da moralidade da conduta. muito comum acontecer isso. E isso
decorre do fato que a tica uma forma de conhecimento; e nosso
conhecimento , quase sempre, limitado.
Tanto as normas da tica quanto os dispositivos do Direito, todos fazem parte
do sistema justificado de normas de conduta das sociedades. Uma das
caractersticas do Direito a coercibilidade, isto , existe a possibilidade da
interferncia da fora no cumprimento das normas legais. Os sistemas legais
costumam prever instrumentos de garantia de observncia de seus
dispositivos. Sem garantia de obedincia dos indivduos, no h ordem, no
sentido de comando, ou imprio da lei. Os sistemas legais modernos
90
prescrevem a aplicao de penas aos infratores do ordenamento. Aplicar pena
significa punir. Assim, PUNIO a imposio de dor, sofrimento, perda ou
limitao social, a alguma pessoa em conseqncia de alguma ao ou
omisso por ela praticada.
As formas de punio legal variam conforme o tempo e o local. A pena de
morte talvez seja a forma mais antiga e universal de punio. Ela variou em
suas maneiras de aplicao, evoluindo da decapitao pela espada ou
machado, para o enforcamento, a cadeira eltrica, a cmara de gs e a injeo
de substncias mortais. Outras modalidades foram a crucificao, ser atirado
do alto de rochas, ser atirado para ser devorado por animais selvagens, ser
apedrejado, ser queimado vivo, ser afogado, ser esquartejado, ter as entranhas
queimadas, ter os membros decepados, ser queimado com ferros quentes. A
priso hoje em dia a forma mais comum de punio legal. Ela implica na
supresso total ou parcial da liberdade de locomoo do infrator. H, contudo,
formas mais brandas de punio, como o ressarcimento de prejuzo causado e
a perda de direitos polticos.
Diversas teorias tm tentado dar uma justificativa para as punies legais. Isto
, as teorias das penas legais procuram responder questo: Por que as
pessoas so punidas? Um autor que determinou o rumo a ser seguido pelas
teorias que tentaram responder a essa questo foi Cesare Beccaria. Em seu
livro 'Dei Delliti e delle Pene' (1764) ele defendeu a teoria de que o Estado tem
o direito de punir os cidados, com a finalidade de evitar a guerra e a anarquia
social. Para ele as punies deveriam causar o impacto necessrio para
desestimular as pessoas de cometerem atos criminosos. Suas teorias foram
desenvolvidas por Jeremy Bentham, que criticou severamente o sistema penal
selvagem dos sculos XVIII e XIX. Ele reafirmou a tese de que as punies
devem ser aplicadas somente como instrumento de preveno de crimes. A
justificativa das penas legais a sua utilidade para a sociedade.
Modernamente, apresentaram-se quatro teorias que disputam sobre o
significado das penas legais. Assim,
1. Teoria das Penas como medidas de desencorajamento: as punies legais
podem ser justificadas a partir de dois pressupostos: a) os indivduos que
cometem crimes sabem o que esto fazendo e procuram evitar situaes que
resultem em sofrimento prprio; b) os criminosos relembram experincias
passadas e so capazes de prever as conseqncias de suas aes. Partindo
desses princpios se argumenta que a punio pblica estimula os
espectadores a participarem de uma situao em que os valores que foram
desrespeitados so reafirmados, a autoridade daquele que aplica a pena
legitimada e o preo a ser pago por potenciais infratores relembrado. Nesse
sentido, as punies legais so medidas que visam desestimular os criminosos
potenciais.
Essa teoria tem sido muito estimulante para os estudiosos das teorias das
penas legais. Contudo, ela tem tambm os seus limites. Assim, muito difcil
encontrar o ponto exato em que as penas so suficientemente severas para
desestimular a prtica do crime e, ao mesmo tempo, suficientemente brandas
para no provocarem mais sofrimento do que o necessrio. Ela implica, ainda,
91
que existam as instituies eficientes para a aplicao do Direito, e que as
sociedades sejam compostas por indivduos que tenham um nvel razovel de
conhecimento das implicaes de suas aes. Para a pena ser um instrumento
de desestmulo prtica de atos delituosos necessrio que exista certeza de
que o criminoso sabe o que est fazendo, e que ser detido e condenado pelos
Tribunais.
2. Teoria das Penas como medidas de compensao do ofendido: as punies
legais podem ser justificadas partindo-se do princpio de que os criminosos
devem sofrer na medida da maldade de sua ao criminosa, como forma de
compensao pelo sofrimento causado no ofendido. a chamada 'lei do talio'
que pode ser expressa na mxima 'olho por olho, dente por dente'.
Essa teoria tem dificuldades aparentemente insuperveis. Assim, em sua
aplicao prtica a certos casos muito difcil se definir qual o tipo preciso de
ofensa, ou prejuzo, causado por um ato criminoso. Em casos como o estupro,
ou o seqestro seguido de morte, no h como aplicar 'o mesmo' sofrimento ao
criminoso. Outra dificuldade est no fato que o nvel de maldade de uma ao
ser medido pelos critrios do criminoso que certamente so distintos daquela
que seria considerada como a maldade intrnseca do crime. Um crime infame
para o Direito, certamente no o ser para a mente deturpada de um criminoso
cruel.
3. Teoria das Penas como medidas de recuperao do criminoso: as punies
legais podem ser justificadas como medidas construtivas de mudanas no
comportamento dos criminosos. Assim, as diferentes penas somente tm
sentido na medida em que produzem mudanas de comportamento nos
criminosos potenciais. Elas seriam medidas de impacto capazes de conduzir as
pessoas a um exame realstico das conseqncias de seu comportamento
social.
Essa teoria depara-se hoje com algumas objees srias. Assim, no certo
que todos os crimes sejam, de fato, resultados de conduta patolgica.
Certamente que crimes como o homicdio, os ataques sexuais, a violncia,
podem estar associados mentalidade criminosa, ou revelem falta de hbitos
de convivncia social no criminoso. Contudo, o trfico de drogas e a sonegao
de impostos, dificilmente podero ser vistos como praticados por razes
patolgicas. Ainda, argumenta-se que essa teoria somente teria sentido se
existisse todo um aparato cientfico necessrio para identificar os
comportamentos que so patolgicos e j fossem conhecidos os instrumentos
de cura. Contudo, a evoluo da cincia contempornea no nos permite
concluir que j se chegou a tal estgio. Assim, no h garantias cientficas da
identificao de todos os estados patolgicos, bem como no h certeza de
que se conhecem as terapias convenientes para cada situao. De uma
maneira geral, no sabemos exatamente quais as 'doenas' que levam ao
crime, nem como cur-las.
4. Teoria das Penas como instrumentos de proteo da sociedade: as penas
legais podem ser justificadas ainda ao se argumentar que os criminosos
representam um perigo para a sociedade. Assim, as punies teriam o sentido
de medidas preventivas de aes criminosas. Para essa teoria, aquele que
92
comete um crime revela sua criminalidade potencial e deve ser tirado do
convvio social at que existam garantias de que no voltar a delinqir.
Essa teoria objetada por aqueles que argumentam que ela pressupe uma
evoluo da criminologia que irreal. Para essa teoria ser vlida seria preciso
que dispusssemos de tcnicas preditivas que nos permitissem prever o
comportamento futuro de criminosos. Assim, no possvel saber se um
indivduo voltar a cometer atos criminosos, portanto, em que extenso ele
um perigo para a sociedade. Tirar um indivduo do convvio da sociedade com
base na idia de que ele somente pode voltar aps demonstraes de que no
voltar a delinqir, haver de significar que jamais esse indivduo voltar a viver
em liberdade.
Todas as Teorias das Penas Legais parecem reconhecer que as penas so a
garantia da ordem jurdica; elas estimulam as pessoas obedincia das leis.
Elas no devem ser excessivas, caso contrrio no se obter com elas o
resultado mximo. Elas precisam, ainda, ser razoveis. Isto , elas precisam
ser justificveis por razes, em certa medida, aceitas por aqueles que so
penalizados. Elas devem ser aplicadas somente sobre aes que sejam
definidas consensualmente como inaceitveis. Elas devem, ainda, apresentar
algum tipo de resultado, tanto em termos individuais como coletivos.
As modernas Teorias das Penas Legais tendem a se afastar da interpretao
de que punio vingana. Procura-se, hoje, interpretar o castigo como algo
que produz resultados interessantes para a sociedade e justia. Jeremy
Bentham dizia que as punies possuem a mesma natureza dos atos
criminosos. Isto , elas produzem sofrimento. Nesse sentido, ele recomendava
que se deve punir provocando o menor sofrimento necessrio para obter certos
fins. O sofrimento desnecessrio, ainda que seja a dor de um criminoso
impiedoso, faz a diferena entre um ato de justia e um ato de desrespeito
ordem legal. Todo sofrimento injustificvel desnecessrio e, portanto, imoral.
93
CAPTULO 17.
EXISTEM DIREITOS HUMANOS INABALVEIS?
Os filsofos acadmicos tm investido uma enorme quantidade de esforo,
principalmente neste ltimo sculo, na explorao das questes que
concernem tica em sentido filosfico. Contudo, os resultados so pequenos.
Em contrapartida, a investigao sobre a tica social, com especial referncia
teoria do Direito, tem sido caracterizada por um grande sucesso. O que isto
parece significar que, as discusses filosficas sobre a moralidade das aes
no tm dado conta de fazer face aos problemas que esse tipo de investigao
pe. De uma forma geral, as discusses filosficas no tm conseguido
escapar das limitaes impostas por respostas que ficam presas dentro das
dificuldades de posies cticas e positivistas. As respostas da filosofia
contempornea para as questes ticas dividem-se e enquanto algumas
seguem em direo ao positivismo, outras, avanam para posturas de
ceticismo.
Em contrapartida, as discusses jurdicas, fundamentadas por uma postura que
se poderia chamar de pragmatismo humanitarista, tm produzido resultados
positivos. Essa a razo que teria levado N. Bobbio a afirmar: "O problema
fundamental em relao aos direitos do homem, hoje, no tanto o de justific-
los, mas o de proteg-los. Trata-se de um problema no filosfico, mas
poltico". (A Era dos Direitos", p.24)
Alguns filsofos do direito trabalham hoje com a idia de que as pessoas que
vivem nas sociedades marcadas pelo triunfo do individualismo possuem uma
compreenso generalizada de que o objetivo da regulamentao das condutas
a realizao do ser humano individual, isto , que o objetivo da ordem social
deve ser a felicidade, ou bem estar dos indivduos. Concorda-se que o respeito
individualidade implica na criao de condies de reciprocidade entre os
agentes, isto eqidade entre os concernidos, expressa no ideal de tratar os
iguais de forma igual e tratar de forma diferente os diferentes. E, ainda, h um
forte consenso no sentido de que o humanitarismo, ou o cuidado com todos os
membros do grupo, com especial referncia aos desvalidos, constitui um dos
objetivos da ordem social regulamentada. Assim, as modernas especulaes
sobre as razes do Direito partem da consagrao dos princpios do
individualismo, da eqidade e da compaixo. O que isto parece indicar
que h uma base slida de aspiraes definidas das pessoas e isto permite
que se pleiteie um certo pragmatismo. Existe um acordo consensual entre as
pessoas sobre um sentido mnimo para a regulamentao da vida em
sociedade. Esse mnimo consensual passa pela idia de que a ordem jurdica
deve realizar o bem estar dos indivduos, deve estatuir efetivos instrumentos de
94
equnime tratamento para todos e deve criar instrumentos apropriados para
dar expresso ao sentimento de solidariedade das pessoas.
A palavra tica tem sido usada para designar as formas de comportamento das
pessoas ou o conjunto de leis e dispositivos normativos positivos, com os quais
se pretende organizar as relaes de convivncia das pessoas que vivem em
sociedade. Essas leis teriam um poder cogente sobre os indivduos, de tal
forma que, quer pelo poder de um soberano ou de uma instituio que
expresse o poder de obrigar nas sociedades, os indivduos se vm sob uma
autoridade que os coage a obedecer a lei. nesse contexto que a tica se
confunde com o Direito.
nesse sentido de tica Social, ou tica jurdica, que, conforme aqui se
argumenta, teriam ocorrido os avanos mais significativos na discusso dos
problemas. Tem prevalecido um certo pragmatismo humanitarista nas
discusses jurdicas. Esse enfoque tem permitido concluses estimulantes
sobre o sentido da ordem social.
Para esse pragmatismo humanitarista uma ordem social justificvel implica no
reconhecimento de que, historicamente, no se pode separar o
reconhecimento da existncia dos direitos do cidado (ser humano), a efetiva
proteo desses direitos e a realizao da paz mundial. Assim, direitos
humanos, democracia e paz perptua so caractersticas inseparveis de
uma mesma ordem social. Isto significa que uma ordem social s pode
reconhecer a existncia de direitos humanos (direitos do ser humano) se
houver efetiva proteo desses direitos (democracia) e se houver condies
de existir outra alternativa para a paz, que no seja a guerra (paz perptua).
Os direitos humanos ou direitos naturais so direitos que nascem em certas
circunstncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra
formas antigas de poder. Os direitos humanos nascem gradualmente em
decorrncia de movimentos sociais. Assim, a idia de que existem direitos
humanos, contra os quais os Estados no podem se colocar, nasceu no incio
da era moderna, juntamente com a concepo individualista de sociedade.
Os direitos humanos surgem juntamente com a inverso na representao da
relao poltica entre Estado e cidado, ou soberano e sdito, no Estado
Moderno. Essa representao faz valer, cada vez mais, uma perspectiva
individualista, na qual se enfatiza os direitos dos indivduos, agora
considerados cidados (isto , seres humanos detentores de direitos contra os
quais o Estado no pode prevalecer). A relao poltica nas sociedades
modernas pautada pela idia de que qualquer ser humano cidado do
mundo. Em qualquer lugar ele tem direitos humanos (fundamentais).
Todos os direitos so histricos. Eles correspondem a carncias que
dependem de circunstncias sociais especficas. Carncias s existem quando
podem ser identificadas e podem ser satisfeitas. Falar em direitos fundamentais
usar uma linguagem retrica, irrelevante em uma discusso de teoria do
direito.
95
Existem diferentes geraes de direitos humanos. Pode-se falar em direitos de
primeira gerao: a liberdade religiosa (liberdade de conscincia), as
liberdades civis (liberdade de propriedade) ; em segunda gerao: as
liberdades sociais (liberdade de trabalho, de associao); direitos de terceira
gerao: liberdade de viver em um ambiente no poludo; direitos de quarta
gerao: liberdade de manipulao do patrimnio gentico.
A linguagem dos direitos humanos tem a funo prtica de dar fora s
reivindicaes dos movimentos que exigem a satisfao de novas carncias
materiais e morais. Ela pode, contudo, ser enganadora se ele obscurecer ou
ocultar a realidade da diferena entre o direito reivindicado e o direito
reconhecido e protegido.
Entretanto, as pessoas insistem em afirmar a existncia de direitos que
decorrem da prpria natureza humana, sendo, nesse sentido, inabalveis. Essa
posio parece estar amparada pelas expectativas que as pessoas possuem
sobre a natureza da investigao em tais questes - expectativas sugeridas
pelo desejo de provas conclusivas.
Uma concepo importante do conhecimento a posio fundamentalista, cuja
idia geral que todo conhecimento necessita estar apoiado em algumas
afirmaes que so certas, que no possam ser de outra forma. Aplicada
tica, esta concepo do conhecimento implica que todo julgamento moral
precisa ser fundamentado em princpios gerais inegveis ou, ainda, ele
necessita ser construdo a partir de certo conhecimento sobre o que certo ou
errado, bom ou mal, justo ou injusto em casos particulares. Tal conhecimento
no derivado da experincia ordinria. Assim, o julgamento moral seria
derivado de alguma faculdade misteriosa de 'intuio moral'.
Certamente, se pode propor, com algum sucesso, que os conceitos de bem e
mal nos so dados por algum tipo de afeco, ou desejo, moral. Nesse sentido,
o bem aquilo que todos desejamos de forma irrecusvel. Isso no significa
que nossos juzos morais estabelecendo a bondade ou maldade de certas
condutas sejam intuitivos. Eles so o resultado de nosso esforo intelectual de,
partindo dos conceitos de bondade e maldade dados, aplic-los, segundo
critrios racionais, na avaliao das nossas situaes de ao.
Alguns filsofos pensam que os seres humanos possuem uma faculdade
especial que fornece conhecimento moral infalvel, contudo, muitos de ns no
nos percebemos como portadores desse recurso de conhecimento, e somos
incapazes de receber as mensagens dessa suposta intuio moral. Aqueles
que afirmam possuir essa capacidade e haver recebido as informaes morais,
discordam sobre o seu contedo, e a natureza de sua faculdade nunca foi
explicada. A prpria idia da existncia de tais faculdades parece absurda.
Antes de se chegar a tais concluses, contudo, necessrio examinar a
concepo geral de conhecimento que essa viso da tica pressupe. Essa
forma de pensar implica que todo conhecimento do mundo ao nosso redor
pode ser derivado de princpios racionalmente inegveis sobre a natureza do
96
mundo ou ainda deve ser construdo, por passos indubitveis, atravs de uma
variedade de verdades particulares, tais como aquelas que se aprende atravs
da simples e incorrigvel observao.
A moderna Filosofia da Cincia entende hoje que o progresso cientfico no se
baseia em verdades indubitveis. Nem poderia faz-lo, pois os seres humanos
no dispem de uma faculdade especial que lhes comunica sobre as leis gerais
da natureza. O que parece certo que o conhecimento dessas leis sempre
caminha alm das observaes especficas que so feitas ou poderiam ser
feitas.
O conhecimento humano no infalvel. O entendimento que com ele se obtm
sujeito a correes, quando boas razes so encontradas para modificar as
idias estabelecidas. Mas a experincia parece mostrar que o progresso
cientfico no ilusrio. O crescente entendimento do mundo, por mais limitado
que ele seja, demonstrado pelo desenvolvimento da habilidade de
transformar a ordem natural. Ao se assumir esta modesta noo de progresso
cientfico, entretanto, torna-se necessrio abandonar a antiga noo de que o
conhecimento repousa sobre fundamentos indubitveis.
Isto sugere que se est exigindo demais da tica ao se esperar prova absoluta
dos princpios gerais, ou certeza indisputvel de julgamentos morais
especficos. Nessa rea da vida, como em qualquer outra, o ser humano est
em busca de boas razes para uma posio moral em oposio s outras, se
que isto pode ser encontrado.
O que importa registrar que os juzos morais so racionalmente discutveis,
que se pode discutir a justificao e discordar sobre os argumentos que so
apresentados para cada posio. Se algum deseja desafiar um julgamento
moral, essa pessoa necessita mostrar que os fundamentos desse julgamento
so irrelevantes ou ilusrios. Se seus argumentos fracassarem, ento o
julgamento feito ter maior chance ainda de ser justificvel, porque ele ter
resistido aos desafios. Se seus argumentos avanam o entendimento do que
est em questo, ento ele ter aumentado o conhecimento moral. Pois o
conhecimento moral, assim como o conhecimento de outros assuntos, depende
de nossa capacidade de oferecer argumentos em seu favor e pode ser
reforado por novas experincias. Este tambm parece ser o padro para o
conhecimento sobre o resto de nossas vidas.
O conhecimento, embora possa se expressar em proposies, contudo, ele
parece ser algo mais do que isto. O conhecimento parte da 'aventura
humana'. Essa aventura que consiste na busca infindvel de criar um mundo
onde as relaes entre os seres expressem aquilo no que o ser humano
acredita. preciso que continuemos a discusso filosfica, necessrio que
estejamos preparados para defender e atacar pontos de vista, urge que
estejamos prontos a modificar nossos julgamentos morais. Isto parece
significar que a tica ainda uma questo aberta investigao filosfica.
Certamente um campo onde falta muito ainda por descobrir.
97
CAPTULO 18.
POR QUE NO PREMIAMOS QUEM HONESTO?
As mais diferentes posies que se fazem presentes na moderna discusso
sobre teoria do Direito tm partido da pressuposio que todo sistema jurdico
se constitui de regras de comportamento que tm o sistema punitivo como
garantia da subservincia das pessoas. Assim, a garantia de todo conjunto de
normas e institutos jurdicos , em ltima instncia, um sistema de controle
baseado na imposio de punio, pena, restrio ou sofrimento sobre o autor
do ato infracional.
Entretanto, srias objees tem sido produzidas pelos crticos dos sistemas
jurdicos, enquanto conjuntos de normas e instrumentos de controle do
comportamento das pessoas. Tem havido um forte movimento de denncia da
insustentabilidade das teorias que interpretam o aparato jurdico das
sociedades como instrumento de controle social atravs do estabelecimento de
um sistema punitivo. Argumenta-se contra a violncia gerada pelo prprio
sistema de administrao da justia na medida em que controla, atravs da
punio, o comportamento social. De uma forma geral, isso tem dois
significados. Primeiro, argumenta-se que o discurso do Direito Penal
irracional, bem como, o aparelho da Justia punitiva hoje acusado de gerar
mais violncia do que aquela que consegue eliminar.
nesse contexto de crtica da punio como instrumento de garantia para a
obedincia dos indivduos submetidos aos sistemas normativos, que
conveniente relembrar a contribuio dada pelos autores utilitaristas, quando
no sculo XVIII, j se discutia sobre as razes do ato de punir.
H evidncias que os utilitaristas clssicos, com especial referncia a Jeremy
Bentham, pensaram na recompensa, compensao ou prmio como um
instrumento complementar ao sistema punitivo. Nesse sentido, punio e
recompensa seriam faces de uma mesma moeda. A recompensa pode ser
fundamental na determinao do comportamento dos agentes e, nesse sentido,
pode ser, em simetria com a punio, um instrumento da garantia de todo um
sistema normativo do comportamento humano. Assim, um sistema premial
pode ser instrumento de garantia da prtica do bem.
Entretanto, no debate contemporneo sobre o significado e a
instrumentalizao da punio tem sido negligenciada a anlise do carter
instrumental benfico, como medida de estmulo para a ao, que a
recompensa, ou prmio, pode ter. Em contraposio a uma interpretao
meramente punitiva dos instrumentos de garantia dos sistemas legais,
possvel fundamentar todo o sistema de estatutos e institutos, que constituem a
tica e o Direito, em uma interpretao simtrica entre a funo penal, ou
98
punitiva, e a funo premial, ou recompensatria, dos seus instrumentos de
garantia. A tica e o Direito, nessa perspectiva, no se utilizam somente de
instrumentos de controle negativo, inibindo certos cursos de ao, na medida
em que castigam, punem ou impingem sofrimento quele que infringe as regras
de conduta. Mas, so, ainda, garantidos por instrumentos de controle positivo,
que podem incentivar ou estimular as pessoas a agirem, ou deixarem de agir,
de uma certa forma, posto que, ao assim fazerem, tornam-se merecedoras de
um prmio, ou recompensa, que fazem-se acrescer aos resultados naturais e
sociais do ato praticado.
Nos anos entre 1750 e 1850 foram produzidas diversas obras sobre a questo
da garantia da obedincia tica e ao Direito. Esse tema faz parte da agenda
intelectual criada desde o final do sculo XVIII, quando ocorre a virada
iluminista no mundo das teorias filosficas e jurdicas e se inicia a revoluo do
Direito rumo implementao do princpio da racionalidade moderna no mundo
dos institutos jurdicos. Claude Adrien Helvetius, Cesare Beccaria, Jeremy
Bentham, John Stuart Mill, dentre outros, denunciaram o sistema punitivo e o
emprego da violncia como instrumento de controle social em sua poca.
Tambm eles discutiram criticamente os diferentes sistemas punitivos e
elaboraram teorias sobre o controle social do comportamento dos cidados
pensando em formas de evitar os pontos que hoje se tornaram o fulcro do
debate sobre a garantia de sistemas de condutas atravs de mecanismos
punitivos.
Dentre os autores que se destacaram por sua contribuio sobre as relaes
entre punio e recompensa como instrumentos de garantia do controle do
comportamento coletivo destaca-se Jeremy Bentham (1748-1832). Ele parece
ter sido o primeiro a encaminhar a discusso da questo da justificao
utilitarista das punies legais. Isto , partindo da interpretao que o
utilitarismo pretende ser um projeto tico que privilegia a busca do prazer e a
fuga da dor, investigou como que esse mesmo projeto justifica que as leis
necessitem ser garantidas pela punio e, portanto, pelo sofrimento dos
infratores. Posto de outra forma, sendo o sofrimento um mal, em que sentido a
punio pode ser um bem?
Partindo da interpretao que as punies tm o carter de 'medidas de
desencorajamento', Bentham fornece um conjunto de critrios plausveis para a
identificao da menor punio possvel. As punies seriam, juntamente com
as recompensas, os nicos instrumentos justificveis racionalmente que podem
exercer alguma influncia na determinao da forma de conduta das pessoas,
posto que, alteram, de fato, as conseqncias naturais das regras de conduta,
agregando-lhes prazer ou sofrimento. Elas so, portanto, os instrumentos de
garantia da obedincia s regras de conduta. As leis so sempre postas para
um fim, ou uma finalidade. A finalidade ultima ou geral de uma lei no pode ser
outra seno o bem estar da comunidade. O bem da comunidade a soma dos
bens particulares, isto , dos diversos indivduos da qual ela se constitui. Desta
forma o aumento do bem de cada um dos indivduos implica no aumento do
bem da comunidade como um todo. Portanto, uma lei ser to mais
99
propriamente uma lei, na medida em que ela seja capaz de ser uma expresso
do principio de utilidade.
Essa , portanto, uma posio fortemente fundamentada no individualismo.
Nesse sentido, nenhuma atitude humana pode ser censurada ou aprovada sem
referncia ao principio de que cada individuo deve buscar seu prprio prazer,
ou utilidade. A aplicao deste principio pode conduzir concluso que o mais
srdido prazer que o mais temvel dos malfeitores consegue obter de seu crime
no haveria de ser reprovado se esse individuo existisse sozinho, ou se sua
ao no afetasse a felicidade dos demais.
A finalidade da ordem jurdica contribuir para a felicidade da comunidade e
impedir a pratica de atos que impliquem na diminuio dessa felicidade.
Agregando punio e recompensa aos resultados das normas de condutas, o
legislador pode influenciar as aes e promover a felicidade dos seres
humanos. A ao que a lei influencia pode ser a do prprio legislador ou a de
outros indivduos. O legislador pode promover a felicidade de outros indivduos
de duas maneiras. Primeiramente pode influenciar as aes criando uma
situao em que a absteno da prtica de determinada ao haveria de
produzir srio inconveniente ao indivduo. Em segundo lugar, pode influenciar
as aes criando uma situao em que a execuo de determinada ao
haveria de produzir conseqncias vantajosas para o individuo. Dessa
maneira, atravs dos mtodos punitivos e premial, o legislador causa, ou
pretende causar, a pratica ou a absteno de uma ao. Nesse sentido, o
legislador cria o dever.
Existe uma simetria entre recompensa e prazer, da mesma forma como existe
simetria entre punio e sofrimento. As punies podem ser infligidas em
diversas formas e para todos os tipos de pessoas. Isto , as aes de punio
consistem em obrigar o infrator a produzir as aes que havero de trazer
como resultado o seu sofrimento. Contudo, o mesmo no ocorre com a
recompensa. A recompensa consiste em dar ao premiado os meios ou
recursos para que o agente possa escolher e praticar as aes que lhe trazem
prazer. Portanto, recompensar consiste em criar para o agente a possibilidade
da prtica de uma escolha de um dentre vrios cursos de ao possveis numa
determinada situao.
A recompensa, no sentido mais geral e extensivo da palavra consiste em uma
certa quantidade de bem, a qual conferida a algum, com a inteno de
benefici-lo(a) por isso, em funo de um certo servio que se supe, ou se
acredita, ter sido feito por ele(a).
Assim, a recompensa funciona como um motivo para a prtica de aes teis
sociedade, da mesma forma como a punio est associada preveno de
aes as quais so consideradas como expressivas de uma tendncia nociva
aos interesses coletivos.
As recompensas dizem respeito a quase todas as transaes entre os seres
humanos e tambm o Estado, em face dos cidados, tem demandas por bens
100
e servios, da mesma forma como ocorre entre os indivduos. nesse sentido
que o emprego da recompensa se torna um assunto para polticos e exige a
ateno do legislador.
H, ainda, simetria entre a punio e a recompensa enquanto instrumentos de
controle do comportamento dos sujeitos. Uma ao que pode ser inibida ao se
associar a ela uma punio, pode tambm ser evitada ao se fazer decorrer da
absteno de sua prtica uma recompensa. A diferena que aqui se quer
considerar relevante refere-se ao carter violento do controle negativo que se
faz com a imposio do sistema penal. O controle social penal implica na
subsuno da vontade do agente que, presumivelmente, no deseja a
conseqncia punitiva do ato infracional que pratica. Ningum sadio deseja
sofrer punio.
O controle social positivo, exercido pelo sistema premial, deixaria ao sujeito a
possibilidade de livremente receber, ou no receber, a recompensa pelo ato
praticado. Nesse sentido, ele seria mais um instrumento para o exerccio da
cidadania, ou da competncia dos sujeitos acionarem o aparelho social capaz
de garantir a conseqncia premial do ato que praticam. A construo de um
sistema premial est associada elaborao de uma teoria do controle social
que privilegie o carter recompensatrio que certas medidas jurdicas podem
traduzir.
Tanto a punio como a recompensa adquirem sua maior fora em um sistema
combinado no qual o agente recebe uma recompensa pela prtica da ao
correta e sofre uma punio pela omisso da ao devida. Nesse sentido,
pune-se sempre a omisso daquele que deveria agir de forma correta. Para
que ocorra a penalizao necessrio que exista um curso de ao prescrito
pelo legislador como sendo o procedimento correto e devido naquela
circunstncia e haja uma pena atribuda quele que omite a prtica da ao
devida. Ainda que a prtica devida seja a omisso de uma certa prtica.
Raciocnio semelhante aplica-se recompensa. Recompensa-se sempre a
ao daquele que pratica o curso de ao considerado correto ou justificado de
acordo com argumentos de natureza moral.
Esse sistema, de punir e recompensar, combina o carter atrativo e voluntrio
da recompensa com a fora inibidora e a constante certeza da punio. O fato
que, devido sua prpria natureza, existe todo um conjunto de circunstncias
que conspiram contra a certeza da punio. Assim, os subterfgios e
escamoteamentos do autor, a falta de evidncias dos atos cometidos, a
falibilidade e os erros constantes dos magistrados. No que tange
recompensa, haver certamente todo o empenho daquele que pratica o ato em
demonstrar o seu mrito e o seu ttulo ao prmio.
A tarefa do legislador, ou poltico, consiste em unir, em cada indivduo sujeito
de uma ao, o seu interesse e o seu dever. A legislao perfeita aquela que
aponta que o dever de cada um consiste em seu prprio interesse. De uma
forma geral, se tem pensado que essa tarefa pode ser conseguida quando se
cria uma obrigao e se estabelece uma punio para sua inobservncia.
101
Contudo, se isso fosse suficiente, nenhum legislador fracassaria em sua
misso. O fato que a fora da punio no suficiente para determinar a
vontade do agente no sentido da prtica do curso de ao privilegiado pelo
legislador como expressivo do interesse do prprio agente concernido.
Somente o carter voluntrio e o atrativo da recompensa (do prazer e do lucro)
provisionada pelo legislador obedincia da regra, associada fora que
peculiar da punio, pode determinar a unio de interesse e dever.
Ao estabelecer um sistema combinado de recompensas para as aes e
punies para as omisses, o legislador agrega sofrimento quele j existente
na sociedade em decorrncia das conseqncias de todos os atos malficos
efetivamente praticados. Punio sempre sofrimento agregado ao sofrimento
j anteriormente produzido pelo prprio ato criminoso. A recompensa, por sua
vez, no produz um excedente de bem-estar, felicidade, ou prazer, ao total
daquele j existente na sociedade. Isto ocorre porque toda recompensa implica
em dispndio, em gasto, da parcela do quanto de bem-estar disponvel no
acervo dos resultados benficos dos atos corretos praticados por todos os
indivduos que compem a sociedade. A recompensa tem um custo social. Ela
significa bem-estar que atribudo a algum s custas do acervo total de bem-
estar disponvel na sociedade. A recompensa de uma parte supe o dispndio
de outra parte. Muitas vezes, o que recebido por algum a ttulo de
recompensa retirado de algum a ttulo de punio.
Assim, o sistema punitivo, na medida em que inibe os atos criminosos, h de
gerar um certo volume de bem-estar a ser distribudo sob a forma de
recompensa. A ausncia de bem comparativamente um mal e a ausncia de
mal comparativamente um bem. No sistema de punio e recompensa se
distribui, sob a forma de recompensa, o bem economizado no exerccio de atos
punitivos.
A distribuio de punies deve ser frugal, posto que a punio sofrimento e
agrega mal-estar ao total j existente na sociedade. Assim, tambm, no se
deve ser menos rigoroso na distribuio de recompensas. Tanto a punio,
quanto a recompensa tem um carter malfico. A punio um mal quele ao
qual aplicada. A recompensa um mal quele a cujas custas ela aplicada.
Toda recompensa tem sempre um custo em termos de taxas ou impostos ou
contribuio dos cidados. Ademais h que se considerar, ainda, que a quantia
recolhida pelo poder pblico sob a forma de taxas, impostos, contribuies no
tem um valor malfico sobre aquele em quem incide que seja diretamente
proporcional ao valor benfico que produz quele que posteriormente a recebe.
Isto devido ao carter assimtrico dos resultados quando certas quantidades
de benefcios poupados e que tiveram um custo em termos de sofrimento so
distribudos sob a forma de recompensas ou benefcios a serem desfrutados
por algum em funo de seu merecimento. Isto , um quanto de bem estar
retirado de algum a ttulo de punio no produz o mesmo tanto de bem estar
quele que atribudo em termos de recompensa. O que isso tudo parece
revelar que h todo um sistema de regras que controlam a economia da
distribuio de penas e recompensas.
102
Enfim, no desenvolvimento de nossas teorias sobre os mecanismos para
garantir a obedincia tica e ao Direito, ns fomos capazes de explorar as
possibilidades das punies. Entretanto, as teorias sobre as recompensas
foram, em algum momento, esquecidas. Talvez tenha chegado o momento de
retomarmos as contribuies oferecidas nos debates travados nos sculos
XVIII e XIX. O fato que as punies que aplicamos no tem sido suficientes
para garantir a obedincia das pessoas. As penas tem sido elas prprias
instrumento de violncia e uma forma de desrespeito tica e ao Direito.
103
CONCLUSO
Este livro foi desenvolvido em trs mdulos de temas e questes. No primeiro,
foram tratadas algumas questes gerais com as quais se pretendeu esclarecer
o conceito de tica e demarcar os significados dessa palavra, quando usada
em diferentes contextos. Num segundo mdulo, foram examinadas algumas
das teorias morais escolhidas por permitirem ao leitor ter uma idia de como se
discutem os fundamentos da tica dentro da tradio anglo-americana. Autores
como Hume, Kant, John S. Mill e Wittgenstein foram revisados em suas
principais idias. A terceira parte uma tentativa de apresentar algumas
perguntas sobre situaes concretas de ao e a tentativa de apresentar
respostas a partir de uma perspectiva tica.
Examinando a forma como a tica foi apresentada neste livro, o leitor pode
perceber que, se pretendemos falar sobre os critrios que utilizamos quando
emitimos nossos juzos morais e, principalmente, se pretendemos trat-los com
clareza e preciso, os resultados no so muito animadores. Aqueles leitores
que estavam esperando concluses definitivas e verdades acabadas sobre o
que devemos fazer, certamente, ficaram frustrados. O exame cuidadoso da
linguagem empregada nos debates ticos nos leva concluso que, para
chegarmos a concluses finais em tica, seria preciso que nossa linguagem
comportasse sentenas finais ou absolutamente verdadeiras. E a construo
dessas sentenas tem se mostrado impossvel. Teorias sobre o conhecimento
humano, que foram elaboradas recentemente, mostram que no temos
instrumentos capazes de garantir a verdade absoluta das proposies que
construmos. Somos capazes de elaborar teorias sobre o mundo que
satisfazem critrios de rigor e de clareza, mas, isso no suficiente para
podermos afirmar a verdade definitiva, a impossibilidade de contestao,
daquilo que est sendo afirmado na proposio. Sem verdades definitivas,
ficam prejudicados os debates sobre a moralidade das nossas aes. A nossa
pretenso ao elaborarmos um juzo moral que ele seja vlido para sempre,
definitivamente. O que eu desejo dizer quando afirmo que a ao de torturar
seres sencientes um mau, que isso foi, e ser sempre assim. Acontece
que no tenho como provar que isso sempre foi e sempre ser assim. Para
isso no h prova. A palavra sempre expressa tempo demais. No existem
provas para sempre. Ento, no h provas para aquilo que desejo dizer quando
falo de moral. Acabo empregando uma linguagem cheia de imprecises e
obscuridades.
Quer isso tudo dizer que devemos ficar em silncio? Quer isso tudo dizer que
todos os esforos empregados para discutir tica so inteis? Estaremos todos
de mos amarradas?
Parece que no. O desafio de falar de coisas absolutas atravs de uma
linguagem que somente capaz de expressar conhecimentos relativos,
hipotticos e conjeturais vem sendo enfrentado com grande valentia e algum
sucesso, pela Filosofia contempornea. Alguns tem sugerido que existem
104
afirmaes definitivas que so relativas em seu contedo. Assim, por exemplo,
quando afirmo de forma definitiva que a tolerncia o bem, estou afirmando de
forma definitiva um valor de contedo relativo. Outros, pensam que podemos
nos utilizar de recursos que tornem inegociveis certas afirmaes
fundamentais para o debate moral. Assim, por exemplo, se combinarmos que a
justia um bem, podemos discordar depois sobre as conseqncias desse
arranjo, mas no poderemos discordar dos princpios que decorrem de sua
afirmao. Enfim, apesar das dificuldades, continuamos a tarefa de elaborar
juzos morais que sejam, minimamente, justificveis de forma racional.
Nessa altura dos avanos que tivermos feito, importa no sermos excludentes.
Precisamos explorar novos argumentos, ensaiar novas teorias, buscar outras
solues. certo que algumas direes j se mostraram impossveis de serem
seguidas. Somos experientes o suficiente para constatarmos que solues que
envolvam violncia, tortura, morte e destruio no so aceitveis. No h,
entretanto, motivos proibitivos de novas tentativas e da busca de diferentes
modos de viver. H riscos, assim como h a coragem daqueles que forem
capazes de ousar nessa situao.
Nos debates sobre a moralidade de nossas condutas desejamos, mais do que
em qualquer outro campo de nossas manifestaes, falar de forma absoluta.
Isso decorre da natureza do assunto que est em pauta. Em matria Moral,
ningum deseja examinar a posio daquele que discorda. De uma forma
geral, a gente, simplesmente recusa a opinio do outro. Todos ns queremos
falar de tica de forma absoluta. Eu sou honesto uma expresso que
demanda convico absoluta.
Este livro foi escrito para demonstrar que aquele que deseja dizer com clareza
e preciso tudo o que diz, sempre que afirma com segurana absoluta a frase
Eu sou honesto, no sabe o que diz.
You might also like
- Financiamento Habitacional e As Opções de Taxas de Juros PDFDocument55 pagesFinanciamento Habitacional e As Opções de Taxas de Juros PDFCledyson KyldaryNo ratings yet
- ImobiliariaDocument24 pagesImobiliariaCledyson KyldaryNo ratings yet
- Guia Do Proprietario PDFDocument20 pagesGuia Do Proprietario PDFCledyson KyldaryNo ratings yet
- Cartilha Compra de Imoveis PDFDocument2 pagesCartilha Compra de Imoveis PDFCledyson KyldaryNo ratings yet
- Módulo 03Document30 pagesMódulo 03Cledyson KyldaryNo ratings yet
- Article 110609 20130715220608d0bdDocument9 pagesArticle 110609 20130715220608d0bdCledyson KyldaryNo ratings yet
- Ética de Kant e os imperativosDocument4 pagesÉtica de Kant e os imperativosRafael CarvalhoNo ratings yet
- Oração A São JorgeDocument1 pageOração A São JorgeVania Araujo OniraNo ratings yet
- A ética segundo Hegel: a distinção entre ética e moralDocument2 pagesA ética segundo Hegel: a distinção entre ética e moralCledyson Kyldary100% (4)
- 61 Grandes Ideias de Vendas e Marketing - Raul CandeloroDocument25 pages61 Grandes Ideias de Vendas e Marketing - Raul CandeloroEnrico CardosoNo ratings yet
- Dirceu Processualdotrabalho Questoes 42 PDFDocument2 pagesDirceu Processualdotrabalho Questoes 42 PDFCledyson KyldaryNo ratings yet
- Curso Tropa Elite - Direito Penal 2Document4 pagesCurso Tropa Elite - Direito Penal 2Cledyson KyldaryNo ratings yet
- Módulo 04Document87 pagesMódulo 04Cledyson KyldaryNo ratings yet
- Módulo 02Document27 pagesMódulo 02Cledyson KyldaryNo ratings yet
- Módulo 01Document32 pagesMódulo 01Cledyson KyldaryNo ratings yet
- CESPE 2002 - Delegado Federal - Conhecimentos BásicosDocument5 pagesCESPE 2002 - Delegado Federal - Conhecimentos BásicosCledyson KyldaryNo ratings yet
- Direito Penal Material 4 Tropa Fato Tipico Elemento SubjetivoDocument2 pagesDireito Penal Material 4 Tropa Fato Tipico Elemento SubjetivoCledyson KyldaryNo ratings yet
- DireitoDocument2 pagesDireitoCledyson KyldaryNo ratings yet
- Procedimentos Administrativos Deflagrados Pela FiscalizaçãoDocument3 pagesProcedimentos Administrativos Deflagrados Pela FiscalizaçãoCledyson KyldaryNo ratings yet
- Direito PenalDocument5 pagesDireito PenalCledyson KyldaryNo ratings yet
- Estrutura de ExposiçãoDocument17 pagesEstrutura de ExposiçãoAndresa Barbosa Do CarmoNo ratings yet
- Resumo de Aulas Do 1º Ano Ensino MédioDocument2 pagesResumo de Aulas Do 1º Ano Ensino MédioRenata Narciso TavaresNo ratings yet
- Análise de trechos literários sobre o Romantismo e o ImpressionismoDocument7 pagesAnálise de trechos literários sobre o Romantismo e o ImpressionismoLaura MonteiroNo ratings yet
- Tutorial Octave MatlabDocument26 pagesTutorial Octave MatlabBruno F. RosaNo ratings yet
- Renascimentos Um Ou Muitos, Por Evandro BrasilDocument13 pagesRenascimentos Um Ou Muitos, Por Evandro BrasilEvandro Brasil100% (2)
- A Centralidade Da Pregação Da Palavra No CultoDocument10 pagesA Centralidade Da Pregação Da Palavra No Cultojulhofonseca1No ratings yet
- Cantando aprende-seDocument15 pagesCantando aprende-seSilvia Carina RodriguesNo ratings yet
- Alvos de Oração ItamarandibaDocument2 pagesAlvos de Oração ItamarandibaWilson RochaNo ratings yet
- Os 5 Teólogos Mais Importantes Do CristianismoDocument16 pagesOs 5 Teólogos Mais Importantes Do CristianismoRoberio OliveiraNo ratings yet
- Guia Portage de Educação Pré-EscolarDocument13 pagesGuia Portage de Educação Pré-EscolarAnonymous jH2v0BNo ratings yet
- Atividade Avaliativa III Unidade 8º ADocument5 pagesAtividade Avaliativa III Unidade 8º AEliete Pereira LimaNo ratings yet
- A contribuição de Harvey Cox sobre o papel da Igreja na cidade secularDocument20 pagesA contribuição de Harvey Cox sobre o papel da Igreja na cidade secularNaman De Moura BritoNo ratings yet
- Características Literárias de Augusto Dos Anjos No PoemaDocument8 pagesCaracterísticas Literárias de Augusto Dos Anjos No PoemaJordam OliveiraNo ratings yet
- J.C. Avellar - Napoleão A CavaloDocument20 pagesJ.C. Avellar - Napoleão A CavaloDeborah NevesNo ratings yet
- Qoam - Módulo I - Master - Janeiro e Fevereiro - 2022Document150 pagesQoam - Módulo I - Master - Janeiro e Fevereiro - 2022Felipe MedinaNo ratings yet
- O PREGADOR E O SERMÃODocument35 pagesO PREGADOR E O SERMÃOembrevejesusvoltaraNo ratings yet
- Listagem BL Livros Pesquisarqh CONFERIDADocument28 pagesListagem BL Livros Pesquisarqh CONFERIDAmarcioNo ratings yet
- Permutações e fatorial em exercícios de estatísticaDocument2 pagesPermutações e fatorial em exercícios de estatísticaJoão CarlosNo ratings yet
- O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo - ResumoDocument3 pagesO Fim para o Qual Deus Criou o Mundo - ResumoOsmar SiqueiraNo ratings yet
- Metodologias de ensino da L2 para surdos na modalidade escritaDocument6 pagesMetodologias de ensino da L2 para surdos na modalidade escritarayane thaynara santosNo ratings yet
- Ficha de Planejamento - 2022Document4 pagesFicha de Planejamento - 2022Walter SantosNo ratings yet
- Debate sobre a Eucaristia nos séculos 9-13Document2 pagesDebate sobre a Eucaristia nos séculos 9-13Paulo FranciscoNo ratings yet
- Cifra Club - Regis Danese - FamíliaDocument4 pagesCifra Club - Regis Danese - Famíliagabrielgomes06No ratings yet
- A Metáfora como Chave para a Filosofia da Linguagem de DavidsonDocument14 pagesA Metáfora como Chave para a Filosofia da Linguagem de Davidsonjr1234No ratings yet
- Gramatica e Texto FINALv2Document224 pagesGramatica e Texto FINALv2Rodrigo Soares MartinsNo ratings yet
- Português - Prova Resolvida - Comentada - Toq1Document21 pagesPortuguês - Prova Resolvida - Comentada - Toq1Redacaoy100% (1)
- Aula 3 - As Competências de Avaliação Da Redação PDFDocument19 pagesAula 3 - As Competências de Avaliação Da Redação PDFRicardo Leandro Flores RicaldeNo ratings yet
- Língua Modalidade Oral e EscritaDocument18 pagesLíngua Modalidade Oral e EscritaThalia Caroline MartinsNo ratings yet
- 2316 8429 1 PBDocument13 pages2316 8429 1 PBMichelle ArandaNo ratings yet
- Plano anual 5o ano Língua PortuguesaDocument42 pagesPlano anual 5o ano Língua PortuguesaLee Touka100% (1)