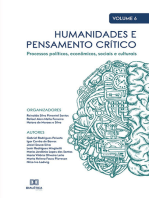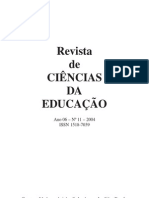Professional Documents
Culture Documents
570 - Mudanas No Trabalho1
Uploaded by
Donaciano Duarte100%(1)100% found this document useful (1 vote)
157 views336 pagesOriginal Title
570_Mudanas No Trabalho1
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
100%(1)100% found this document useful (1 vote)
157 views336 pages570 - Mudanas No Trabalho1
Uploaded by
Donaciano DuarteCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 336
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL.
rasll o lortugal no contoxto da transnaclonallzaao
Coordenador Editorial de Educao:
Valdemar Sguissardi
Conselho Editorial de Educao:
Jos Cerchi Fusari
Marcos Antonio Lorieri
Marcos Cezar de Freitas
Marli Andr
Pedro Goergen
Terezinha Azerdo Rios
Vitor Henrique Paro
Llislo Lstanquo Loonardo Mollo o Sllva koborto Vras
Antonlo Caslmlro lorrolra Hormos Augusto Costa
(Crganlzadoros)
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL.
rasll o lortugal no contoxto da transnaclonallzaao
Con coot|ou|oes Je.
Antonlo Caslmlro lorrolra oavontura do Sousa Santos
Carlos Alborto Crana Llislo Lstanquo
lranclsco do Cllvolra Coraldlno dos Santos
Hormos Augusto Costa }oao lroona
Loonardo Mollo o Sllva Manuol Carvalho da Sllva
lotor Watorman klchard Hyman koborto Vras
MUDANAS NO TRABALHO E AO SINDICAL: Brasil e Portugal no contexto da
transnacionalizao
Elsio Estanque; Leonardo Mello e Silva; Roberto Vras; Antnio Casimiro Ferreira;
Hermes Augusto Costa (Orgs.)
Capa: Estdio Graal
Reviso: Maria de Lourdes de Almeida
Composio: Dany Editora Ltda.
Coordenao editorial: Danilo A. Q. Morales
Por recomendao dos organizadores, foi mantida a ortografia vigente em Portugal.
Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou duplicada sem autorizao expressa
dos autores e do editor.
2005 by Organizadores
Direitos para esta edio
CORTEZ EDITORA
Rua Bartira, 317 Perdizes
05009-000 So Paulo-SP
Tel.: (11) 3864-0111 Fax: (11) 3864-4290
E-mail: cortez@cortezeditora.com.br
www.cortezeditora.com.br
Impresso no Brasil setembro de 2005
S
Sumrlo
Apresentao
Elsio Estanque, Leonardo Mello e Silva, Roberto Vras,
Antnio Casimiro Ferreira e Hermes Augusto Costa ...................................... 7
I PARTE AS RELAES LABORAIS E OS DESAFIOS DO PACTO SOCIAL
Captulo 1. Europeizao ou eroso das relaes laborais?
Richard Hyman................................................................................................. 15
Captulo 2. O dilogo social e a reforma trabalhista e sindical no
Brasil: debate atual
Roberto Vras .................................................................................................... 45
Captulo 3. Dilogo social: notas de reflexo a partir da experincia
europeia e portuguesa
Antnio Casimiro Ferreira ................................................................................ 71
Captulo 4. O enigma de Lula: ruptura ou continuidade?
Francisco de Oliveira ........................................................................................ 96
II PARTE O TRABALHO E O SINDICALISMO ENTRE OS PATAMARES NACIONAL
E TRANSNACIONAL
Captulo 5. Mudanas e clivagens no mundo do trabalho: novas
tecnologias ou novas desigualdades? O caso portugus
Elsio Estanque .................................................................................................. 103
Captulo 6. Mudanas na organizao do trabalho em empresas
brasileiras nas ltimas dcadas: uma viso geral
Leonardo Mello e Silva ..................................................................................... 132
6 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Captulo 7. Teses para a renovao do sindicalismo em Portugal,
seguidas de um apelo
Boaventura de Sousa Santos ............................................................................. 166
Captulo 8. O sindicalismo na UE e MERCOSUL:
etapas e caminhos em aberto
Hermes Augusto Costa ..................................................................................... 188
Captulo 9. O internacionalismo sindical na era de Seattle
Peter Waterman ................................................................................................ 218
III PARTE VOZES DO MUNDO SINDICAL
Entrevistas com Geraldino dos Santos (FS) e Carlos Alberto
Grana (CUT) .................................................................................................... 263
Entrevistas com Manuel Carvalho da Silva (CGTP-IN) e
Joo Proena (UGT) ....................................................................................... 288
Nota sobre os autores ......................................................................................... 331
7
Aprosontaao
Fruto, em grande medida, dos mltiplos impactos das dinmicas
do capitalismo mundial, as ltimas dcadas do sculo XX e a entrada no
novo milnio foram marcadas por profundas transformao na esfera
laboral e na sociedade em geral: a inovao tecnolgica, a expanso da
robtica e a emergncia da chamada sociedade da informao no con-
texto da actual onda neoliberal deram mais visibilidade s esferas do
consumo e do lazer, enquanto o trabalho parece ter perdido a sua velha
centralidade, quer na determinao da aco colectiva quer na experin-
cia subjectiva dos cidados; outros dispositivos culturais e dimenses
identitrias situadas fora do espao da produo ganharam maior rele-
vncia social e at poltica, em desfavor da velha luta de classes; o de-
semprego estrutural e a diversidade de formas de excluso social cres-
ceram em amplitude e intensidade, contribuindo aparentemente para
que o trabalho perdesse o seu tradicional estatuto de principal elo de
ligao entre o indivduo e a sociedade. Aparentemente, porque as mu-
danas operadas no campo profissional e nas relaes laborais
fragilizaram a capacidade de aco e de resistncia organizada nesta
esfera, mas, a nosso ver, o trabalho persiste como a principal fonte de
dignidade humana e, deste modo, a perda de estatuto do trabalho
corolrio da perda de dignidade do trabalhador e do agravamento do
risco e insegurana que lhes esto associados.
A crescente segmentao dos mercados de trabalho e a deslocaliza-
o do emprego para pases com mo-de-obra barata contriburam para
8 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
degradar as condies de trabalho no mundo inteiro, e ao mesmo tempo
intensificar a precariedade de novos sectores da fora de trabalho, so-
bretudo nos pases do Sul, que se mantm com nveis de rendimento no
limiar da subsistncia, seno mesmo abaixo disso. Estas tendncias alte-
raram drasticamente o equilbrio entre capitalismo e democracia nos pa-
ses ocidentais e multiplicaram as formas de explorao, pobreza e opres-
so escala global.
Como resultado deste processo, no s a importncia integradora
do trabalho passou a ser mais abertamente questionada, como as con-
dies de actuao do movimento sindical reflectem agora novos obs-
tculos e dificuldades, que pem em evidncia a sua crescente fragili-
zao. Colocadas perante tais problemas, as estruturas sindicais pro-
curam, no entanto, resistir e adaptar-se s novas condies sem perde-
rem a sua identidade, isto , procurando abrir espao e alargar a sua
aco no sentido de estabelecer novas alianas e redes de solidarieda-
de, seja atravs da convergncia com novos programas envolvendo
novos actores e movimentos sociais, seja atravs da sua expanso para
a escala transnacional.
A intensidade das transformaes em curso de tal ordem que
muitos dos conceitos e modelos analticos em que h poucas dcadas
se apoiaram os principais estudos sociolgicos neste domnio se tm
revelado desajustados para conferir visibilidade e consistncia inter-
pretativa a fenmenos como os da flexibilidade, da precariedade, da
informalidade, da insegurana ou do individualismo, os quais tm de
ser hoje analisados do ponto de vista da sua interconexo escala
mundial.
a esta luz que o presente livro procura traar um olhar actualizado
sobre os problemas e desafios que hoje se colocam ao mundo do traba-
lho e ao exerccio da cidadania dos trabalhadores dentro e fora da
esfera produtiva , um olhar que pretende sustentar-se no justo equil-
brio entre as perplexidades perante a realidade e a esperana perante os
desafios futuros.
Os vrios artigos que compem este livro encontram-se, pois,
balizados pelo tema da mudana e pelos dilemas/problemas que ela
levanta, nomeadamente: na relao entre emprego estvel e ausncia de
emprego, na articulao de papis entre foras sociais e polticas pela
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 9
melhoria nas relaes laborais, nas (in)compatibilidades entre tecnolo-
gias e desigualdades, nos limites e possibilidades dos preceitos gerais
associados aos modelos produtivos, nas teses para a renovao do mo-
vimento sindical, ou nas opes de actuao sindical escala transna-
cional, seja esta regional ou mesmo internacional, como forma de supe-
rar a crise de modelos nacionais.
Como indica o subttulo do presente livro, o repto para reflectir
sobre as relaes laborais e o sindicalismo num contexto de mudana foi
lanado essencialmente a um conjunto de investigadores e sindicalistas
portugueses e brasileiros. Portugal e o Brasil ocupam, por isso, um lu-
gar de destaque nesta obra, o que resulta no s da cooperao entre o
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e o Centro de
Estudos dos Direitos de Cidadania da Universidade de So Paulo, ao
abrigo do Programa de Cooperao Cientfica e Tcnica Luso-Brasileiro
entre o Instituto de Cooperao Cientfica e Tecnolgica Internacional
(actual Gabinete de Relaes Internacionais da Cincia e Ensino Supe-
rior) e a Fundao Coordenao de Aperfeioamento do Pessoal de N-
vel Superior, como tambm da convico recproca de que as mudanas
que presentemente cruzam as relaes laborais e o sindicalismo dos dois
pases no so especficas apenas de cada um deles. A partilha dos pro-
blemas e das angstias, assim como das possveis solues para lidar
com os primeiros e com as segundas , por isso, transnacional. Da que,
para alm de Portugal e Brasil, o livro contenha artigos cujo enfoque
analtico so os contextos transnacionais, sejam estes de mbito regional
ou mesmo internacional.
Na sua organizao formal, este livro encontra-se estruturado em
trs partes. Na primeira parte, discutem-se as relaes laborais sobretu-
do luz dos desafios suscitados pela construo de pactos sociais como
possvel estratgia de convergncia, quer entre os clssicos actores
sindicais, patronais e governamentais, quer entre estes e outras entida-
des da sociedade civil. No captulo 1, Richard Hyman discute a noo de
trabalho e de relaes laborais e analisa ainda os contornos de um novo
modelo de relaes laborais europeu. O autor aponta como principal
desafio para o trabalho escala europeia a construo de um sistema
transnacional das relaes laborais que contribua para a consolidao
de uma sociedade civil europeia emergente. A ocorrer, tal processo
10 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
assumir-se-ia como alternativa concepo elitista e burocrtica e inrcia
organizacional e incapacidade crtica dos sindicatos que hoje prevale-
cem na Europa. No captulo 2, Roberto Vras interroga-se, na sequncia
da eleio de Lula da Silva como Presidente da Repblica do Brasil, so-
bre as possveis configuraes que ter o campo democrtico popular
(foras sociais e polticas com origem nas lutas operrias e populares do
final dos anos 70 do sculo XX) e sobre as possveis opes sociais do
novo governo. O projecto de construo de um pacto social, em grande
medida inspirado na experincia europeia, ocupa um lugar de destaque
no texto, sendo discutidos os seus possveis impactos sobretudo para o
sindicalismo brasileiro. No captulo 3, Antnio Casimiro Ferreira baseia-se
na experincia de dilogo social de mbito europeu assim como da Or-
ganizao Internacional do Trabalho, conferindo ateno especial ao
caso portugus. Esta primeira parte encerra, no captulo 4, com o con-
tributo de Francisco de Oliveira, que nos fornece uma viso sobre o
significado e sobre os paradoxos decorrentes da vitria eleitoral de Lula
da Silva. Trata-se de uma anlise que, um pouco na linha da contribui-
o de Roberto Vras, se interroga sobre os impactos polticos da de-
correntes para as foras do trabalho que a era FHC havia deitado
por terra.
Na segunda parte do livro, as mudanas do trabalho e do sindica-
lismo so analisadas especificamente em vrios quadrantes: em Portu-
gal, no Brasil, na UE e no MERCOSUL, e ainda em termos internacio-
nais. No captulo 5, Elsio Estanque questiona-se at que ponto as mu-
danas e clivagens operadas no mundo do trabalho esto a abrir simul-
taneamente espaos para a afirmao (ambiciosa) de novas tecnologias,
assim como para a afirmao (perversa) de novas desigualdades. Por
sua vez, Leonardo Mello e Silva, no captulo 6, traa uma viso geral
sobre as mudanas operadas na organizao do trabalho em empresas
brasileiras nas ltimas dcadas. Ao faz-lo, discute comparativamente
os preceitos gerais dos modelos produtivos e as possibilidades e limita-
es de sua aplicao, com nfase na organizao do trabalho no contex-
to brasileiro. No captulo 7, Boaventura de Sousa Santos centra-se no
movimento sindical portugus e nos inevitveis desafios de mudana a
que aquele no pode furtar-se. Trata-se de uma reflexo que, apesar de
formulada h uma dcada, conserva grande actualidade. Na verdade, o
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 11
texto bem revelador das contradies prevalecentes no sindicalismo
portugus entre um discurso de abertura mudana e prticas que per-
sistem em contrari-la, o que se traduz nas conhecidas dificuldades em
implementar quaisquer processos de renovao. No captulo 8, Hermes
Augusto Costa concentra-se nas estratgias regionais do sindicalismo,
seja na UE, seja no MERCOSUL. O autor compara alguns dos limites,
desafios e etapas do sindicalismo nos dois espaos regionais. Por fim,
no captulo 9, Peter Waterman procura definir os contornos do interna-
cionalismo sindical sado dos confrontos anti-globalizao gerados em
Seattle. A sua ideia mostrar que, perante a crise mundial que atravessa
a esfera do trabalho, se impe uma nova viso do internacionalismo
sindical que seja ajustada a um perodo de capitalismo globalizado/co-
nectado em rede/informatizado, realando-se, para o efeito, a impor-
tncia da constante comunicao entre o sindicalismo e outras organiza-
es sociais no sindicais.
Finalmente, na terceira parte do livro concedida uma voz aos
dirigentes das principais centrais sindicais portuguesas e brasileiras. Pelo
lado portugus, colhemos os depoimentos de Manuel Carvalho da Silva
(CGTP) e de Joo Proena (UGT), ao passo que pelo lado brasileiro so
disponibilizadas as vises de Geraldino dos Santos (FS) e Carlos Alberto
Grana (CUT). Por se tratarem de quatro reputadas figuras do movimen-
to sindical dos dois pases e pelo facto de, nessa condio, deterem tam-
bm importantes responsabilidades na revigorao do sindicalismo,
quisemos saber a sua opinio sobre um conjunto de temas que suscitam
desafios e respostas, muitas vezes urgentes, por parte do movimento
sindical. De entre os principais tpicos de entrevista com que
confrontmos os nossos interlocutores, destacamos os seguintes: poss-
veis articulaes entre o movimento sindical e outras organizaes da
sociedade; desafios de actuao transnacional, num contexto de cres-
cente globalizao das economias e dos mercados; novas clivagens emer-
gentes nas relaes de trabalho, entre trabalhadores qualificados e sem
qualificaes, entre trabalho estvel e insegurana permanente; relao
partidos-sindicatos; compatibilizao entre competitividade econmica
e direitos sociais; experincias e instncias de promoo de dilogo so-
cial segundo diferentes nveis de interveno.
Por ltimo, queremos expressar o nosso agradecimento Revista
Crtica de Cincias Sociais, por nos ter autorizado a publicao dos textos
12 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
de Richard Hyman (2002), Peter Waterman (2002), bem como das entre-
vistas a Manuel Carvalho da Silva (2002) e a Joo Proena (2002), assim
como revista Vrtice e revista Margem Esquerda por nos terem autori-
zado, respectivamente, a publicao dos textos de Boaventura de Sousa
Santos (1995) e de Francisco de Oliveira (2003).
Elsio Estanque
Leonardo Mello e Silva
Roberto Vras
Antnio Casimiro Ferreira
Hermes Augusto Costa
13
l larto
As rolaos laborals o os
dosalos do pacto soclal
14 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
1S
1
Luropolzaao ou orosao das rolaos laborals:'
k|c|aJ |jnao
lntroduo
Este texto procura relacionar uma srie de temas que penso se-
rem mais difceis de equacionar do que geralmente se supe, temas
que so actualmente mais problemticos a nvel emprico do que quan-
do as relaes laborais foram inventadas (tanto no mundo material l
fora, como no mundo intelectual da anlise acadmica). Esses temas
incluem o carcter da regulao do emprego, a natureza dos mercados
de trabalho e a relao entre status e contrato. A articulao entre estes
temas est no centro da arquitectura dos sistemas de relaes laborais
e da coerncia analtica desta rea de estudos. Esta articulao, sempre
fundamentalmente de carcter nacional, posta em causa pela inte-
grao econmica transnacional e, portanto, a europeizao econmica
pode vir a significar a eroso, em vez da europeizao, das relaes
laborais.
' lol aprosontada uma vorsao prvla dosto artlgo como conorncla plonrla ao congrosso
anual da rltlsh Unlvorsltlos lndustrlal kolatlons Assoclatlon, quo tovo lugar na Unlvorsldado do
Warwlck om }ulho do 2000.
16 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
As possibilidades e perspectivas de criao de um sistema europeu
supranacional de relaes laborais tm vindo a ser intensamente debati-
das h mais de uma dcada. Farei referncia a alguns destes debates na
parte final deste artigo. Mas penso que, antes de nos reportarmos agen-
da habitual relativa europeizao das relaes laborais, essencial re-
ver as nossas concepes sobre a natureza dessas relaes a nvel nacio-
nal. Eu entendo-as como um campo de tenso entre a construo
econmica da relao de trabalho e os constrangimentos sociais mais
latos ao seu carcter econmico, tendo os ltimos essencialmente uma
especificidade nacional. Da que o meu pressuposto seja o de que os
mercados de trabalho s constituem de facto mercados em aspectos
limitados. Nos pases da Unio Europeia (UE), os regimes de emprego
(ou sistemas de relaes laborais) representam variedades de estruturas
institucionais que asseguram que a relao empregador-empregado no
seja principalmente determinada pelas foras do mercado. Falar de mer-
cados de trabalho significa adoptar ou sugerir uma concepo er-
rada da natureza das relaes de trabalho, concedendo implicitamente
uma vantagem ideolgica primordial queles cujo modelo ideal de uma
Europa integrada o de um mercado continental.
Portanto, formulo a questo central do seguinte modo: no contexto
da integrao econmica europeia, qual a robustez das instituies
civilizadoras que garantem que os mercados de trabalho no so verda-
deiramente mercados? Podemos identificar pelo menos trs tipos de pres-
so derivada da intensificao da concorrncia transnacional nos mer-
cados de produtos, das decises cada vez mais estratgicas e premedita-
das das grandes empresas transnacionais e das iniciativas desregulado-
ras de muitos governos que, acidental ou deliberadamente, esto a
fazer com que os mercados de trabalho se assemelhem mais aos merca-
dos, fazendo pender a balana para o lado oposto do social dentro das
economias de mercado social na Europa. Quo radical a viragem
para as foras do mercado na determinao da relao de trabalho? Ser
desejvel que os mercados de trabalho europeus se venham a asseme-
lhar mais aos mercados? Ou, se as proteces institucionais contra os
efeitos prejudiciais das dinmicas irrefreadas do mercado continuarem
a ser necessrias, embora a nvel puramente nacional estejam a perder a
sua eficcia, quais so as implicaes para a interveno regulatria a
nvel supranacional? H muito tempo que Commons (1909/1968) fami-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 17
liarizou a tese de que as fronteiras da regulao do emprego so molda-
das pela extenso dos mercados de produtos; mas este processo tudo
menos automtico. Expandir os quadros regulatrios quando os meca-
nismos mais limitados so debilitados pela extenso dos mercados cons-
titui um desafio e uma luta que muitas vezes enfrenta resistncias.
este, obviamente, o caso de qualquer projecto relativo a um regime eu-
ropeu de relaes laborais.
TrabaIbo: a mcrcadoria fictcia"
Ser o mercado de trabalho como qualquer outro mercado? Se o ,
qual a mercadoria que transaccionada em troca de um salrio ou
ordenado? H muito que tanto economistas como advogados se tm
debatido com estas questes. O contrato de trabalho necessariamente
aberto. Se comprarmos um quilo de batatas, estas passam a ser fisica-
mente nossas, enquanto o vendedor se separa delas para sempre. Mas o
empregador no compra um empregado: isto que distingue o trabalho
assalariado da escravatura. Um contrato de trabalho tambm no espe-
cifica normalmente a quantidade de trabalho a realizar: o fluxo de tare-
fas de qualquer funo mais ou menos imprevisvel.
Por esta razo, como Marx insistiu, o trabalho propriamente dito
no uma mercadoria: o que o/a trabalhador/a vende a sua capacida-
de de trabalhar, ou seja, a sua fora de trabalho. Mas isto tambm
impreciso: nenhum contrato pode definir a quantidade de energia que
ser despendida, o cuidado ou a capacidade de iniciativa que sero de-
monstrados.
As necessidades dos empregadores raramente se podem prever ao
pormenor e, portanto, estes tm vantagens em manter uma margem de
manobra (geralmente ampla); por outro lado, as descries pormenori-
zadas do trabalho no so econmicas (Marsden, 1999: 15). Assim, na
maioria dos casos, os trabalhadores comprometem-se, de acordo com o
contrato de trabalho, a estar fisicamente presentes nas instalaes do em-
pregador durante um perodo de tempo que pode ou no ser especificado
com preciso, bem como a aceder s exigncias razoveis da gesto de
acordo com critrios igualmente razoveis de diligncia e eficincia.
18 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
O que a lei considera razovel (ou mais frequentemente no
razovel) tem sido em certa medida indicado pelos tribunais (eviden-
temente de formas diferentes nas vrias instncias jurdicas nacionais).
Contudo, a autoridade juridicamente instituda do empregador tem em
si prpria um efeito limitado em termos prticos, pois poucas organiza-
es empregadoras podem funcionar sem o empenhamento activo e a
boa vontade da fora de trabalho. Portanto, na realidade, o contedo do
contrato de trabalho tende a ser determinado por critrios costumeiros
relativos jornada justa e pelo equilbrio da relao de dependncia
mtua entre empregador e empregado (ela prpria afectada pelas for-
as variveis da oferta e da procura no mercado de trabalho externo,
bem como pelas presses dos mercados de produtos). Em condies
normais, a pormenorizao do que realizado em troca de um salrio
ou ordenado est continuamente sujeita a uma negociao geralmente
tcita.
A negociao contnua omnipresente ainda por outra razo: uma
vez que o empregado, ao contrrio do dono de batatas, no pode alienar
permanentemente a sua mercadoria, qualquer contrato de trabalho ,
em princpio, passvel de ser rescindido. Mesmo um contrato perma-
nente est sujeito a um perodo de aviso de resciso por parte do em-
pregado e geralmente tambm do empregador. Commons coloca a ques-
to de forma absolutamente clara: o contrato de trabalho no um
contrato, mas uma renovao contnua e implcita de contratos a cada
hora e minuto (...). Assim, o trabalhador encontra-se continuamente no
mercado de trabalho mesmo quando est a trabalhar no seu empre-
go, est simultaneamente a produzir e a negociar, sendo os dois insepa-
rveis (1924: 285). Tomando o ponto de vista do empregador, Mitchell
refere-se a uma estratgia de renovao contingente que subjaz re-
lao empregador-empregado [como] uma forma arquetpica de troca
contestada (1998: 25-6). evidente que, na maioria dos empregos, a
opo por omisso manter a relao existente; a renovao implcita
raramente se torna objecto de deciso consciente. No entanto, esta di-
menso temporal um outro factor subjacente condio peculiar do
mercado de trabalho. de facto paradoxal que quanto mais a lgica do
mercado se infiltra na relao de emprego quanto mais cada uma das
partes d prioridade a um clculo de custos e benefcios a curto prazo, e
portanto empenha tanta energia na produo como na negociao
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 19
tanto menos esta relao se ajusta ideia convencional das transaces
de mercadorias como trocas precisas, havendo igualmente menos pro-
babilidades de que contribua para a eficincia produtiva.
H ainda uma outra peculiaridade da relao de emprego que me-
rece particular ateno. O contrato de trabalho diz respeito ao trabalha-
dor como indivduo, mas normalmente a realizao do trabalho, e por-
tanto a relao de emprego em termos mais latos, envolve a fora de
trabalho como uma colectividade o que Marx designou por trabalha-
dor colectivo. H, portanto, uma disjuno entre a base formal da obri-
gao do empregado e a realidade das relaes produtivas no trabalho
(Erbs-Seguin, 1999: 217; Friot, 1999: 207). (Esta disjuno evidentemen-
te uma das razes dos efeitos frequentemente contraprodutivos das ten-
tativas de aplicar remuneraes por desempenho a nvel individual.)
Por todas estas razes, o trabalho uma mercadoria fictcia
(Polanyi, 1957). Contudo, num outro sentido, a relao de emprego tam-
bm revela um problema mais geral que subjaz s concepes pura-
mente econmicas das relaes de mercado. Segundo as conhecidas
palavras de Durkheim, nem tudo num contrato contratual: um con-
trato no se basta a si prprio; ele s possvel devido a uma regula-
mentao do contrato que tem uma origem social (1933: 211-215). To-
dos os sistemas de mercado esto necessariamente imbricados numa
estrutura de relaes sociais: o mercado annimo dos modelos
neoclssicos praticamente no existe na vida econmica e (...) qualquer
tipo de transaco permeada por (...) ligaes sociais (Granovetter,
1985: 495).
Em termos empricos, e provavelmente tambm lgicos, imposs-
vel existir um mercado totalmente livre. Os mercados surgiram histo-
ricamente apenas como acessrios da vida econmica. Em termos ge-
rais, o sistema econmico estava absorvido no sistema social. Nas pri-
meiras sociedades capitalistas, a produo e a distribuio eram firme-
mente reguladas por regras tradicionais e por controles estatutrios es-
pecficos: com efeito, a regulao e os mercados desenvolveram-se par
a par (Polanyi, 1957: 68). A forma que esta simbiose tomou, contudo,
variou de acordo com os contextos nacionais e, em consequncia, o capi-
talismo actual apresenta diferentes configuraes nacionais com varia-
es considerveis no que diz respeito ao enraizamento institucional
dos mercados (Crouch e Streeck, 1997).
20 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Em parte como consequncia disto, o prprio conceito de mercado
difcil de captar: tem assumido tantos significados que o xito de
qualquer referncia que se lhe faa poder ser atribudo a definies
muito vagas e parcialmente contraditrias, que inevitavelmente variam
de acordo com a cultura e a lngua (Boyer, 1996: 96). Na sua anlise
clssica da evoluo histrica do capitalismo, Polanyi faz uma tripla dis-
tino: em praticamente todas as sociedades complexas, os mercados
a compra e venda (ou troca) de produtos, baseadas em determinadas
noes padronizadas de valor tm desempenhado algum tipo de papel
na vida econmica. Ele define a economia de mercado, contudo, como algo
muito mais especfico: um sistema econmico controlado, regulado e
dirigido apenas pelos mercados (1957: 68). Dentro de uma sociedade de
mercado, tal sistema econmico retira legitimao ideolgica do predo-
mnio dos valores que exaltam a liberdade individual de estabelecer con-
tratos e a busca individual do mximo proveito econmico dentro de
mercados competitivos. Nas famosas palavras de Marx, num tal meio
ambiente o fetichismo das mercadorias domina as relaes sociais.
Para Polanyi, a criao de uma sociedade de mercado totalmen-
te no natural, no sentido estritamente emprico de excepcional (1957:
249). O caso paradigmtico o da Gr-Bretanha do final do sculo XVIII
e princpio do XIX, onde o estabelecimento de um regime de liberalismo
econmico reflectiu um esforo imenso por parte dos seus protagonistas.
No houve nada de natural no laissez-faire; nunca poderiam ter surgido
mercados livres se se tivesse deixado as coisas seguirem o seu curso. (...)
O prprio laissez-faire foi imposto pelo Estado (1957: 139). Ou, de acor-
do com a recente formulao de Gray, o laissez-faire constituiu um
artefacto do poder e da estadstica. (...) Os mercados livres so criaturas
do poder do Estado e s subsistem enquanto o Estado tiver a capacida-
de de evitar que as necessidades humanas de segurana e o controle do
risco econmico encontrem expresso poltica (1998: 7, 17).
Poder notar-se que, durante as dcadas de 80 e 90, as iniciativas
bastante comuns de restabelecer tais princpios com base em ideologias
neoliberais envolveram esforos de alguma forma semelhantes e, por-
tanto, completamente errado design-los por desregulao (Standing,
1997). Tomando outra vez o exemplo britnico, a retirada do Estado
da regulao econmica envolveu na realidade a interveno sistemti-
ca do governo nos assuntos econmicos e exigiu um aumento sem pre-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 21
cedentes da infiltrao do poder estatal na sociedade. Como o caso do
Chile de Pinochet evidencia de forma ainda mais dramtica, o liberalis-
mo de mercado da escola de Chicago s podia ser imposto por uma
macia e brutal exploso do poder coercivo do Estado. Para alm disto,
as presses intensificadas do mercado no tm conduzido ao estabeleci-
mento de um regime econmico impessoal, mas antes reconfigurao
do equilbrio das foras sociais (e de classe). A desregulao consagra
efectivamente novas regras que intensificam a lei do valor, com efeitos
que conferem poder a alguns actores econmicos, ao mesmo tempo que
o retiram a outros (a maioria).
Assim, apesar da ideologia neoliberal, o Estado inevitavelmente
um actor nas economias de mercado. Longe de constituir uma interfe-
rncia desnecessria, o Estado um elemento normal dos mercados reais,
uma pr-condio da sua existncia. Os mercados dependem do Estado
em termos de regulao, proteco dos direitos de propriedade e moe-
da (Sayer, 1995: 87). Num plano diferente, como Polanyi expe com
pormenor, a regulao estatal particularmente das relaes de em-
prego tem sido desenvolvida na maioria das economias de mercado
como um meio de restringir o mbito do livre mercado de mo-de-obra.
Permitiu-se que o mercado de trabalho retivesse a sua principal funo
apenas na condio de que os salrios e as condies de trabalho, os
critrios e os regulamentaes fossem de molde a salvaguardar o carcter
humano da suposta mercadoria que o trabalho (1957: 177). A irrestrita
liberdade de contrato entre empregadores e trabalhadores era geralmente
considerada inaceitvel, quer por razes humanitrias, quer por anseios
relativos potencial perturbao e desordem social que poderiam advir
se a concorrncia viesse a empurrar os padres abaixo de um certo pata-
mar. Na maioria dos sistemas capitalistas existentes, o Estado tem de-
sempenhado um papel activo, tanto no que se refere aos estmulos ao
funcionamento do mercado, como aos limites impostos sua capacidade
de moldar as condies de emprego.
Portanto, nas sociedades de mercado, a relao salrio-trabalho
produto tanto de foras polticas e sociais, como de foras puramente
econmicas; ou melhor, o prprio contexto econmico do emprego
social e politicamente estruturado. Como Thompson afirmou na sua
anlise do protesto social nos primrdios do capitalismo britnico, a eco-
nomia poltica tem que ser conciliada com uma economia moral ba-
22 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
seada na poderosa fora das normas e obrigaes sociais (1971: 79).
Mais recentemente, de forma a contrabalanar as desigualdades de ren-
dimento e poder produzidas pelo mercado, os objectivos de equidade e
redistribuio social tm estado no centro do contrato social que, de al-
gum modo, tem caracterizado a maior parte dos pases europeus desde
a Segunda Guerra Mundial (Regini, 2000: 12). Assim, os mercados es-
to sujeitos a pelo menos trs tipos de determinantes potencialmente
conflituais: as foras da oferta e da procura, consideradas convencional-
mente pelos economistas como as nicas com significado; as polticas
de interveno dos governos, minimamente essenciais para garantir o
funcionamento rotineiro das relaes de mercado; e as normas sociais
que influenciam os actores do mercado, muitas vezes de formas que no
podem ser compreendidas em termos do simples interesse material in-
dividual.
O dcscnvoIvimcnto dos sistcmas dc rcIacs Iaborais: a
dcsmcrcadorizao institucionaI"
S poderemos compreender devidamente o papel das instituies
de relaes laborais se tomarmos em conta a natureza do trabalho como
mercadoria fictcia. As relaes laborais podem ser definidas como a
regulao do trabalho e do emprego, desde que se entenda a regulao
(controle atravs de regras, segundo o dicionrio), no seu sentido mais
lato, como abrangendo uma teia complexa de processos sociais e um
terreno de resistncia e luta real ou potencial.
Convm analisar as relaes laborais de acordo com trs conjuntos
de distines, processos sociais e estruturas de relaes que podem ser
complementares, mas que so muitas vezes contraditrias.
Em primeiro lugar, as relaes laborais envolvem vrias formas de
regulao social que refractam e metamorfoseiam as dinmicas pura-
mente econmicas da relao de emprego. Existe em todos os regimes
nacionais algum tipo de interaco (embora raramente um equilbrio)
entre a regulao social e a regulao econmica. Como j defendi,
os mercados de trabalho no constituem mercados no sentido usual
do termo, uma vez que o trabalho uma mercadoria diferente de todas
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 23
as outras e os prprios mercados normais so artefactos sociais e me-
canismos de poder social. No possvel conceber um sistema produti-
vo que se baseie apenas numa lgica monetria como o demonstram
claramente os esforos de inventar uma economia de mercado pura
na Europa de Leste. Todavia, o grau em que as foras da oferta e da
procura influenciam as relaes de emprego varia substancialmente de
acordo com o tempo e o espao. Em termos histricos, o esforo de cons-
truir sistemas nacionais de relaes laborais certamente na Europa
ocidental envolveu por via de regra o fortalecimento da regulao
social, sujeitando as foras do mercado a regras determinadas colectiva-
mente.
Em segundo lugar, as relaes laborais implicam uma interaco
entre regulao substantiva e processual. Os sistemas nacionais podem
funcionar fundamentalmente atravs da especificao de, pelo menos,
critrios bsicos relativos relao de emprego (salrios mnimos, hor-
rio laboral mximo, entre outros) ou atravs da identificao de actores
e definio de processos de interaco para a construo de regras subs-
tantivas. O primeiro modo de funcionamento pode resultar em regula-
o relativamente padronizada e abrangente; o segundo pode produzir
resultados relativamente diferenciados e desiguais. O sistema britnico
tem sido tradicionalmente marcado pela prioridade da regulao pro-
cessual relativamente substantiva (Flanders, 1970), enquanto na maior
parte dos outros pases europeus o equilbrio tradicional tem sido bas-
tante diferente.
Em terceiro lugar, podemos distinguir trs modos diferentes de re-
gulao social. Um deles baseia-se na legislao e noutros tipos de inter-
veno estatal, outro em acordos (ou contratos) estabelecidos atravs de
negociao colectiva. O contraste entre regulao estatutria e volunt-
ria bem conhecido, embora seja de alguma forma enganador. A ne-
gociao colectiva livre baseia-se por via de regra em definies
estatutrias de representatividade, de direitos de organizao e aco
colectivas e (onde tal existe) no estatuto contratual dos acordos. Por ou-
tro lado, a regulao jurdica tem geralmente pouco efeito prtico, a no
ser que esteja relativamente interiorizada pelos actores das relaes la-
borais; num certo sentido, a sua aplicao sempre negociada. Uma
terceira fonte, mais difusa, de regulao social menos frequentemente
discutida: as normas, crenas e valores prevalecentes na Sociedade civil
24 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
o que Regini (1995: 5) chama regulao comunitria. Um exemplo
seria a aceitao tradicional por uma proporo substancial de empre-
gadores alemes da obrigao (no imposta por lei ou acordo colectivo)
de admitirem novos aprendizes de forma a sustentar a reserva de com-
petncias da mo-de-obra e oferecer oportunidades de emprego de alta
qualidade a jovens que concluem os estudos. Deve salientar-se que este
complexo de normas, crenas e valores no constitui necessariamente
uma ideologia consensual, como no modelo dunlopiano (1958) de um
sistema de relaes laborais, sendo antes usualmente um terreno de luta
ideolgica. O resultado desta luta normativa pode contribuir para mol-
dar tanto a lei como a negociao colectiva.
Por consequncia, um sistema de relaes laborais um campo de
tenso entre, por um lado, as presses exercidas pelo mercado no senti-
do da mercadorizao da fora de trabalho, e, por outro, as normas so-
ciais e institucionais que asseguram a sua (relativa) desmercadoriza-
o um termo que tomo emprestado de Esping-Andersen (1990).
uma arena em que se desenrola a disputa entre a persecuo de uma
sociedade de mercado e a defesa de princpios de economia moral.
A difcil conciliao destes diferentes princpios tem assumido caracte-
rsticas nacionais distintas (e frequentemente idiossincrticas), mas tam-
bm um certo nmero de traos comuns na maior parte da Europa oci-
dental como resultado de compromissos de classe estabelecidos h meio
sculo. Como Streeck apontou, a tais compromissos esteve subjacente
uma evoluo da relao de emprego que envolveu vrias formas de
uma constelao de contrato e status (1987: 291). Os direitos e a segu-
rana dos empregados assentavam predominantemente em bases no-
contratuais (e frequentemente prescritas por lei); os direitos dos empre-
gadores baseavam-se no poder (social e normativamente circunscrito)
considerado inerente ao contrato de trabalho. Uma caracterstica parale-
la que o conjunto das regras implcitas ou explcitas, escritas ou no,
que funcionam como contrato de trabalho em qualquer momento para
qualquer empregado especfico, podem ser determinadas por muitas
instncias diferentes (Brown e Rea, 1995: 366).
O ajustamento destas estruturas com bases diferenciadas de direi-
tos e obrigaes de empregadores e empregados institucionalizou-se,
nas vrias economias europeias, de formas que se podem considerar
como uma reconciliao da justia social e da eficincia econmica. Ga-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 2S
rantir o status e a segurana do empregado encorajava muitas vezes o
desenvolvimento da confiana na relao de emprego e permitia orien-
taes cooperativas dentro do processo produtivo. As perspectivas a
longo prazo incorporadas no predomnio do status relativamente ao
contrato como de modo mais geral na actividade econmica (por exem-
plo, nas relaes entre as grandes empresas e os seus fornecedores de
componentes ou bancos) contrastavam com o notrio curto prazo
anglo-americano. Os constrangimentos impostos opo por vantagens
econmicas transitrias (quer fossem derivados de prescrio legal ou
normas de conduta mais difusas) podem ser vistos como inflexibilida-
des flexveis (Dore, 1986), que forneciam um quadro estvel para
efectuar mudanas consensuais nas reas da tecnologia, mtodos de
produo e organizao do trabalho.
Encontram-se aqui elementos centrais do que tem sido frequente-
mente identificado como capitalismo renano ou o modelo social eu-
ropeu (que, segundo alguns, abrange Tquio-sobre-o-Reno): a
proteco legal explcita tanto do status como do contrato; o reconheci-
mento de um leque mais alargado de interesses, e no apenas os dos
accionistas, com legitimidade para influenciar as decises das empre-
sas; e, em parte como corolrio, a aceitao (tambm frequentemente
consagrada na lei) de que tais interesses s podem ser alinhados com
base na representao colectiva organizada (Albert, 1993; Hutton, 1995).
Na Gr-Bretanha, o pano de fundo era consideravelmente diferente em
muitos aspectos, dada a tradio de voluntarismo que limitou severa-
mente a definio estatutria explcita dos direitos dos trabalhadores.
No entanto, onde havia uma slida organizao colectiva e uma nego-
ciao colectiva robusta, os direitos de status que vigoravam de jure na
maior parte da Europa ocidental foram alcanados de facto neste pas,
razo pela qual a maioria dos sindicatos se sentia satisfeita com o siste-
ma existente.
Havia evidentemente dois principais pontos fracos inerentes a este
caminho para a proteco dos trabalhadores relativamente disciplina
do mercado. Primeiro, como os Webb insistiram h mais de um sculo, a
regulao do mercado atravs do poder de compensao estava condi-
cionada pelos (des)equilbrios flutuantes da oferta e da procura de v-
rios tipos de capacidade produtiva (e tambm, obviamente, pelo grau
em que o meio social e poltico era favorvel mobilizao colectiva).
26 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Durante muitas dcadas, as circunstncias levaram os sindicalistas bri-
tnicos a acreditar complacentemente que, relativamente a estes dois
aspectos, estavam em boa situao para jogar no mercado. Segundo,
quanto mais a lgica do mercado predomina nas relaes laborais (e o
laissez-faire colectivo pode ser considerado como uma variante desta
lgica e no como uma alternativa), tanto mais provvel que os resul-
tados em termos de status e recompensas sejam moldados por desigual-
dades perante o mercado. Aqueles que j se encontram em desvanta-
gem (devido ao seu sexo ou etnia, por exemplo) sero provavelmente
mais afectados no seu acesso a organizaes colectivas e quase com
certeza em termos das suas relaes com empregadores. Direitos
colectivos mais institucionalizados e formalizados permitem contra-
balanar as desigualdades sociais externas ao mercado embora isto
no acontea automaticamente, podendo efectivamente levar ao refor-
o de tais desigualdades.
Novos rcgimcs dc produo: do status ao contrato:
A existncia de sistemas institucionalizados de relaes laborais
constitui tanto um indicador como um garante das restries s dinmi-
cas puras do mercado no que respeita relao de emprego. Nunca foi
correcta a ideia de que a emergncia da industrializao capitalista e a
consolidao do trabalho assalariado como forma esmagadoramente pre-
dominante de trabalho produtivo envolveram uma transio simples
do status para o contrato. De acordo com Streeck, existiam contratos na
poca pr-capitalista, enquanto o status subsiste com vigor ainda, e
especialmente, na sociedade moderna (1992a: 43).
Contudo, ser que a internacionalizao econmica est a levar a
cabo o que pocas anteriores de desenvolvimento capitalista no conse-
guiram alcanar, isto , a transio para uma sociedade de mercado e,
dentro dela, a inveno genuna de um mercado de trabalho? comum
defender-se que a arquitectura do status e contrato estabelecida nos v-
rios acordos nacionais no perodo do ps-guerra era adequada a um
regime fordista de tecnologias e mercados de produtos estveis e pre-
visveis, mas que restringia uma maior flexibilidade e adaptabilidade
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 27
exigida por um modelo de produo mais dinmico e um ambiente con-
correncial mais instvel. Para Streeck (1987: 292-5), este ltimo modelo
envolvia presses orientadas para dois tipos opostos de redefinio da
relao de emprego: ou o reforo do status atravs da incorporao dos
empregados na comunidade da empresa, como membros cujo status
implicava tanto direitos como responsabilidades; ou a reafirmao do
contrato atravs da eroso dos direitos de status, baseando, por outro
lado, a autoridade empresarial no poder nu e cru de contratar e despe-
dir. Os empregadores, acrescenta Streeck, poderiam aplicar tratamentos
diferenciados aos segmentos nucleares e perifricos da sua mo-de-obra.
Muitas das experincias dos doze anos subsequentes parecem con-
firmar em parte esta anlise, embora a corrijam em aspectos importan-
tes. At h pouco tempo, era plausvel analisar os regimes nacionais de
produo em termos de concorrncia nos custos ou na qualidade. Quanto
maior fosse a prioridade dada aos custos competitivos, mais os merca-
dos de trabalho se assemelhavam a mercados. Os empregadores usa-
vam principalmente mo-de-obra pouco qualificada, facilmente
substituvel e sujeita s disciplinas de trabalho tayloristas, respondendo
s flutuaes dos mercados de produtos com polticas de contratao e
despedimento. Por contraste, a concorrncia na rea da qualidade im-
plicava uma integrao mais pr-activa do design do produto, da co-
mercializao e das polticas de pessoal, com disponibilidade para in-
vestir tanto na capacidade de produo como nas qualificaes dos em-
pregados, bem como uma viso da relao de emprego como um com-
promisso recproco de longo prazo. bvio que esta dicotomia
esteretipada sempre foi uma simplificao redutora: cada um dos mo-
delos de concorrncia possua contradies internas e os regimes nacio-
nais apresentavam graus variveis de diferenciao interna. Todavia,
esta apresentao de vias alternativas para o xito capitalista no era
completamente implausvel.
Mas uma das consequncias da intensificao da concorrncia nos
mercados de produtos que as empresas bem sucedidas tm de ser
competitivas tanto a nvel de custos como de qualidade. A previso de
Streeck respeitante crescente polarizao da gesto pelo contrato e pelo
status parece ser contrariada em aspectos importantes pelas reaces
dos principais empregadores europeus s pocas de crise. O novo regi-
me de gesto do trabalho procura combinar o tradicional empenho no
28 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
xito empresarial dos empregados baseados no status com uma pers-
pectiva mais dura baseada no contrato, considerando os trabalhadores
como recursos descartveis. A ambivalncia deste modelo est patente
no moderno conceito de gesto de recursos humanos, que reconhece
que os empregados so seres humanos ao mesmo tempo que os
desumaniza ao defini-los como recursos. Como muitos autores tm su-
blinhado, a gesto de recursos humanos tem um lado duro e outro sua-
ve. Este ltimo concentra-se no desenvolvimento e progresso na car-
reira dos empregados, bem como no reconhecimento de que estes tm
interesses investidos na comunidade da empresa; o primeiro, por outro
lado, concentra-se na subordinao da gesto do trabalho estratgia
global da empresa e na reduo contnua do nmero de cabeas como
ndice de eficincia administrativa. Podem notar-se contradies seme-
lhantes nas dinmicas da organizao das empresas em termos mais
gerais. Por um lado, existe uma retrica vigorosa respeitante respon-
sabilidade social como o ncleo da identidade empresarial; por outro,
h uma nfase crescente na organizao magra, que exporta os riscos
atravs da subcontratao de um conjunto de actividades anteriormen-
te realizadas a nvel interno. Uma consequncia importante que mui-
tas relaes de emprego directas se tornaram indirectas, mediadas por
subcontratadores cujo estatuto tambm de dependncia vulnervel,
ou transformaram-se em contratos de servios individuais sem esta-
tuto formal de emprego.
Isto significa que as foras do mercado esto cada vez mais a infiltrar-
se na relao de emprego, mesmo nas situaes em que as defesas do
status eram tradicionalmente dominantes. Os termos do qui pro quo
que originalmente sustentava o estatuto do salrio-emprego isto , a
subordinao em troca de segurana desintegraram-se (Supiot, 1999:
336). A internacionalizao do prprio capital um dos principais im-
pulsionadores deste processo. As concepes anglo-americanas do va-
lor accionista infectam cada vez mais a filosofia empresarial em pases
onde o modelo social europeu parecia anteriormente bem implantado.
A direco central das empresas transnacionais submete as operaes
locais a apertadas restries oramentais e estabelece nveis de boas
prticas nas relaes de emprego de formas que reforam a tendncia
para um novo contratualismo. O capitalismo renano est numa situa-
o cada vez mais precria. Da que se possam ver os novos regimes
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 29
produtivos e concorrenciais como um estmulo transformao do mer-
cado laboral de fico em realidade.
A intcgrao curopcia: um projccto dc construo dc mcrcado c
um dcsafio aos sistcmas nacionais dc rcIacs Iaborais
A integrao europeia pode ser vista como uma reaco a tais ten-
dncias e simultaneamente como um meio de as reforar. O que agora
a Unio Europeia estabeleceu-se fundamentalmente como um mercado
comum a partir do Tratado de Roma. A sua lgica central era agregar as
fragmentadas economias europeias num nico bloco que pudesse
efectivamente contrapor-se ao desafio americano. Trs dcadas depois,
o esforo de completar este exerccio atravs do Acto nico Europeu
reflectiu uma nova dinmica orientada para a internacionalizao
econmica, processo a que uns chamam globalizao e outros regio-
nalizao ou triadizao (constituindo a UE, a Amrica do Norte e a
sia-Pacfico os trs principais plos do comrcio transnacional).
Os traos principais da globalizao so bem conhecidos. Um
deles a intensificao da concorrncia entre pases, medida que no-
vos elementos invadem os mercados de produtos anteriormente domi-
nados por um reduzido nmero de economias europeias ou norte-ame-
ricanas. Um segundo a internacionalizao das cadeias produtivas
dentro das empresas transnacionais (ETNs) que esto desligadas dos
quadros regulatrios dos sistemas nacionais de relaes laborais. A mo
visvel das ETNs interage com a mo invisvel cada vez mais coerciva
do capital financeiro. As ltimas trs dcadas testemunharam uma trans-
formao radical: a liberalizao e desregulao do capital internacional
e dos mercados monetrios; a acelerao das transaces (ao ponto de
serem praticamente instantneas), como resultado de desenvolvimen-
tos nas tecnologias de informao e telecomunicaes; e a derrocada do
sistema de estabilizao monetria internacional do ps-guerra domi-
nado pelos Estados Unidos. O resultado um quadro altamente voltil
de fluxos de capital. As flutuaes imprevisveis (especulativas) do va-
lor nominal das aces das empresas ou das moedas nacionais tradu-
zem-se numa instabilidade fracturante na economia fsica.
30 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
O objectivo da UE, como projecto de construo de um mercado,
era o de constituir um espao suficientemente amplo que possibilitasse
que as economias de escala continuassem a ser viveis para as empresas
europeias nos mercados mundiais. Contudo, um dos corolrios era o
fim de muitos dos campees nacionais que tinham constitudo uma
base estvel para as relaes laborais na maior parte da Europa ociden-
tal, uma vez que um dos objectivos do projecto do Mercado nico era a
acelerao do investimento estrangeiro directo entre os pases da UE e
um rpido processo de consolidao de empresas atravs de fuses,
aquisies e empreendimentos conjuntos.
Em dcadas anteriores, o problema das multinacionais para os
sindicatos europeus era relativamente estreito e especfico: como conter
as ETNs estrangeiras (principalmente americanas) dentro das estrutu-
ras reguladoras dos sistemas europeus de relaes laborais. Na dcada
de 1990, o problema tornou-se mais amplo e mais grave: a internaciona-
lizao de segmentos significativos do capital nacional e o abandono
potencial por parte de empresas chave do seu papel tradicional dentro
dos sistemas nacionais de parceria social. Talvez o caso mais dramti-
co seja o da Sucia, onde os principais empregadores se integraram
na UE muito antes da entrada formal do pas na unio e demoliram o
clssico modelo sueco centralizado de relaes laborais de forma a
poderem mais facilmente seguir polticas de emprego mais especficas
para cada empresa e mais internacionalizadas. Na maioria dos outros
pases europeus evidenciam-se presses anlogas.
A importncia crescente da euro-empresa (Marginson e Sisson,
1994) ameaa formas estabelecidas de padronizao nacional entre em-
presas, cujo principal instrumento tem sido o acordo colectivo sectorial.
Da advm o receio do dumping social, isto , que muitas empresas
desloquem a produo dos pases com salrios altos e critrios laborais
rigorosos para aqueles em que os custos e as regulamentaes laborais
so mais baixos. Quer o dumping social seja ou no uma realidade
grave, h certamente evidncias de que muitas ETNs usam a ameaa da
relocalizao como factor disciplinador nas negociaes colectivas. Um
desafio diferente deriva do facto de que, ao mesmo tempo que as ETNs
tipicamente atribuem uma significativa autonomia operacional s uni-
dades locais, elas estabelecem normalmente um regime interno compe-
titivo, procurando difundir sistemas de boas prticas em todas as suas
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 31
filiais (Ferner, 1998). Isto tem reforado a viragem para formas mais fle-
xveis de organizao do trabalho, horrio laboral, distribuio de tare-
fas e sistema remuneratrio, todos eles elementos centrais nas regras
padronizadas, definidas pela lei nacional e pela negociao colectiva,
reforando a mudana do status para o contrato.
Quanto nova fora coerciva dos mercados globais de capitais, foi
em parte como resposta sua volatilidade que a UE adoptou o projecto
da Unio Econmica Monetria. A soluo hobbesiana para a nova anar-
quia da finana internacional era nomear um soberano: o Banco Central
Europeu (em grande medida uma cpia maior do Bundesbank), com
poderes disciplinares reforados pelos critrios de convergncia de
Maastricht. Isto exige um alinhamento coercivo dos regimes fiscais e
monetrios, encarnando princpios que so extremamente deflacionrios
nas suas implicaes. Para cumprir os requisitos da unio monetria, os
governos em toda a Europa tm sido incitados a impor novos freios ao
emprego pblico e restries ao salrio social. A consequncia tem
sido uma presso crescente sobre os princpios da parceria social que
caracterizam a maior parte dos sistemas europeus de relaes laborais.
Um modo de conceptualizar os desenvolvimentos dos ltimos anos
v-los como uma forma de desnacionalizao das relaes laborais.
Na maioria dos pases, estas surgiram inicialmente a partir de uma base
local ou sectorial (reflectindo os contornos dos mercados de trabalho),
mas no sculo XX consolidaram-se numa estrutura institucional nacio-
nal. A insero nacional dos sistemas de relaes laborais constituiu por
longo tempo pelo menos em muitos casos uma fonte de resistncia
e fora, mas pode cada vez mais ser encarada como uma fragilidade. Tal
como entendemos o termo hoje em dia, as relaes laborais foram uma
inveno da era do preeminente Estado-nao. Na maior parte dos pa-
ses da Europa Ocidental, os sistemas modernos de relaes laborais
consolidaram-se num contexto de relativa segurana de emprego (pelo
menos para um ncleo substancial de trabalhadores fabris, principal-
mente homens, em grandes empresas) sob condies econmicas de
pleno emprego, frequentemente apoiadas em suportes jurdicos. Por
sua vez, isto era viabilizado por uma procura estvel e crescente nos
principais mercados de produtos e por restries institucionais e de ou-
tra ordem sobre a concorrncia destrutiva do mercado. O capitalismo
organizado que alcanou o seu cume nos anos 50 e 60 do sculo XX
32 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
ajudou a instituir os sindicatos como actores centrais numa variedade
de sistemas nacionais de regulao do emprego. A relativa autonomia
da organizao poltica e da economia de cada pas constitua o contexto
dos diferentes sistemas nacionais de regulao do emprego.
As instituies fundadas no perodo de formao da industrializa-
o europeia, bem como os vrios sistemas de gesto macroeconmica
de influncia keynesiana no perodo do ps-guerra, dependiam da ca-
pacidade regulatria do Estado-nao. realmente um facto que na maior
parte das economias europeias a importncia fundamental do sector da
exportao assegurava a compatibilidade das polticas de relaes labo-
rais com a competitividade internacional. Todavia, os Estados nacionais
e os parceiros da negociao colectiva podiam tratar o mercado de tra-
balho como um sistema mais ou menos fechado. Existia diversidade de
sistemas de relaes laborais precisamente porque tais sistemas envol-
viam relaes nacionais entre actores nacionais.
A consequncia da integrao econmica transnacional que as
dinmicas dos mercados esto cada vez mais sujeitas a determinao
externa. A intensificao da competitividade internacional nos merca-
dos de produtos, a imposio externa de constrangimentos s polticas
dos governos, assim como as decises de localizao das ETNs, impem
novos, onerosos e frequentemente imprevisveis constrangimentos
agenda das relaes laborais nacionais.
evidente que os trs elementos de regulao social anteriormente
identificados como a base dos sistemas de relaes laborais so todos
afectados por estas tendncias. A regulao atravs da negociao
colectiva perde eficcia mesmo nos casos em que continua formal-
mente em vigor para a maioria dos empregados, como acontece na maior
parte da Europa Ocidental, embora j no na Gr-Bretanha perante
as comparaes coercivas inerentes internacionalizao econmica.
Uma das caractersticas tem sido a presso relativa adopo de nor-
mas colectivas cada vez mais flexveis, permitindo uma maior liberdade
de aco a nvel empresarial. Outra caracterstica que, quer a negocia-
o ocorra primordialmente a nvel de empresa, quer a nvel sectorial ou
macroeconmico, parece cada vez mais patentear aspectos de negocia-
o de concesses.
A vontade ou capacidade dos governos nacionais de impor uma
regulamentao do emprego tambm se encontra debilitada. O entu-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 33
siasmo poltico manifestado na maior parte dos pases europeus e
tambm a nvel da UE pela flexibilidade e desregulao como a
melhor receita para a competitividade reforou e ajudou a legitimar o
avano do contrato e a eroso do status no emprego. Os governos brit-
nicos foram evidentemente os que comandaram esta ofensiva, e as elei-
es de 1997 apenas trouxeram mudanas limitadas neste aspecto: ao
apresentar o programa trabalhista respeitante legislao das relaes
laborais, Blair declarou orgulhosamente (para alguns afrontosamente)
que, mesmo depois das mudanas que propomos, a Gr-Bretanha ter
o mercado de trabalho menos regulado de todas as principais econo-
mias do mundo (1998: 3). Contudo, a doena britnica parece ser con-
tagiosa e o processo tem aumentado a capacidade das ETNs de estabele-
cer regimes especficos por empresa, diminuindo e potencialmente debi-
litando a capacidade reguladora dos sistemas nacionais de relaes labo-
rais. A desregulao tambm consolidou o domnio dos bancos centrais
e de outras instituies financeiras, impondo disciplinas que so inerente-
mente antagnicas aos princpios da proteco e parceria social que
subjazem maior parte dos sistemas europeus de relaes laborais.
Por sua vez, estes desenvolvimentos erodem a fora das normas e
valores mais intangveis que tm sustentado o modelo social europeu e
constitudo as bases do status do empregado. Os produtos de milhares
de fbricas de mestres em administrao de empresas (MBA), que cada
vez mais conduzem as decises das empresas e colonizam os corredores
do poder poltico, no perdem tempo com tais sentimentalismos. De
facto, uma das consequncias, talvez intencional, da circulao transna-
cional de gestores de topo das ETNs o seu isolamento relativamente
aos cdigos de conduta especficos de cada pas, que anteriormente es-
tavam na base dos diferentes sistemas empresariais. Estes decisores en-
contram-se, assim, desligados das redes nacionais de solidariedade
colectiva dos empregadores e das normas da economia moral que tm,
em geral, sustentado a eficcia reguladora dos sistemas nacionais de
relaes laborais; as suas decises, regidas pelo mercado, encontram-se
cada vez mais desenraizadas.
Seria perigoso e errado adoptar uma interpretao demasiadamen-
te econmico-determinista das tendncias actuais, as quais contm
ambiguidades e contradies. A intensificao transnacional das foras
do mercado tem implicaes reais e importantes que constituem um
34 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
desafio capacidade reguladora dos regimes de relaes laborais a nvel
nacional, mas a utilizao ideolgica das ideias da desregulao (assim
como, em termos mais gerais, da globalizao) ajuda a criar uma pre-
suno fatalista de que no h alternativas. Descobrir alternativas ,
pelo contrrio, a tarefa que compete anlise das relaes laborais.
O dcsafio para o trabaIbo: a rcinvcno transnacionaI das rcIacs
Iaborais
Poder reconstituir-se uma efectiva regulao social do emprego,
sob ameaa a nvel nacional, no plano supranacional? Ser ao nvel eu-
ropeu que o trabalho, atravs da sua rede espessa de actividades sindi-
cais transnacionais (Martin e Ross, 1999: 313), pode responder com xi-
to ao desafio colocado pelo facto de o reforo do status uniforme de
emprego ser exigido precisamente pela diferenciao dos contratos de
trabalho (Grahl e Teague, 1994: 387)? Ser que as relaes laborais
europeias esto j realmente a tomar forma?
O debate sobre a possibilidade de um regime efectivo de relaes
laborais a nvel da UE (a Europa social) dura h uma dcada ou mais
e tem gerado uma polarizao de pontos de vista. Uma das abordagens,
muitas vezes explicitamente ligada a teorias de alastramento da con-
solidao da organizao poltica europeia, faz uma avaliao optimista
da UE como veculo de regulao social do mercado de trabalho em
curso de internacionalizao (Falkner, 1998). Em termos dunlopianos, a
existncia de actores a nvel europeu cujas interaces resultam na
produo de regras (o acordo dos parceiros sociais de 1991, as directivas
sobre o emprego adoptadas ao abrigo dos procedimentos de Maastricht
para a legislao negociada ou a criao de Conselhos de Empresa
Europeus como novas instituies supranacionais com potencial regu-
latrio) fornece provas do nascimento de um sistema europeu de rela-
es laborais (Jensen et al., 1999; Lecher e Rb, 1999). A subsidiaridade
pode ter obstrudo o processo de uma regulao abrangente sobre o
emprego, mas tambm estimulou o desenvolvimento de uma dimenso
regional forte dentro da UE, criando novo espao para a interveno do
movimento operrio. Para alm disto, os vrios programas abrangidos
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 3S
pelos fundos estruturais da UE tm um importante papel redistributi-
vo, contrariando em certa medida a lgica puramente mercantil da inte-
grao. Mais recentemente, a persecuo de uma estratgia de emprego
resultou em decises que podem ser descartadas como meramente sim-
blicas, mas tambm aplaudidas como os alicerces de um novo regime
europeu contra-deflacionrio; ao mesmo tempo, a introduo da moeda
nica criou novas presses para a coordenao transnacional das nego-
ciaes colectivas (Goetschy, 1994, 1999; Jacobi, 1996; Marginson e Sisson,
1998). Uma outra avaliao alternativa bem mais pessimista: a UE sur-
giu a partir de um processo de integrao negativa com o objectivo
prioritrio de facilitar as relaes de mercado a nvel pan-europeu, sen-
do que um regime econmico liberal oferece o terreno em que o capital
transnacional pode dividir e reinar. O investimento canalizado para os
regimes nacionais de mercado de trabalho que oferecem as melhores
perspectivas para a acumulao, encorajando a debilitao competitiva
da negociao colectiva e dos Estados-Providncia a nvel nacional. Uma
estrutura efectiva de regulao do emprego a nvel da UE poderia limi-
tar tais presses, mas parece haver poucas probabilidades de se efectivar
precisamente porque alguns governos nacionais vem vantagens na
concorrncia entre regimes. H, portanto, uma coligao poderosa, em-
bora geralmente tcita, entre alguns (muitos?) governos nacionais e agen-
tes-chave do capital. Os prprios trabalhadores europeus esto dividi-
dos, e mesmo que estivessem unidos seriam a parte mais fraca, lutando
contra a tendncia instalada do liberalismo de mercado que sustenta a
integrao europeia. A Europa social uma questo de forma e no
de substncia (Streeck, 1992b, 1994, 1995, 1997, 1998; Streeck e Schmitter,
1991; Visser, 1998).
H ainda outros que procuram uma terceira via, propondo uma
perspectiva euro-realista que reconhece a modstia das conquistas res-
peitantes regulao social europeia sem, no entanto, as menosprezar
(Buda, 1998; Ross, 1994). H espao para mais avanos, em parte por-
que as provas da tese do dumping social no so convincentes; os
custos laborais no parecem ser o principal determinante das decises
das ETNs relativamente localizao das suas operaes. Se a concor-
rncia entre regimes continuar a ter limites, pode haver espao para sus-
tentar estruturas reguladoras a nvel nacional e ao mesmo tempo cons-
truir uma arquitectura de regulao transnacional.
36 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
No pretendo recapitular aqui estas controvrsias em pormenor,
pois isto exigiria muito mais espao do que aquele de que disponho e,
de qualquer das formas, o meu foco outro. Uma parte da dificuldade
reside nas contradies da formao institucional que a UE: um siste-
ma de governao singular e singularmente complexo (Streeck e
Schmitter, 1991: 151). composto por um Parlamento que no uma
legislatura, uma Comisso que empresrio de polticas (Majone, 1998:
24) e portador intermitente de um projecto federalista cujo objectivo
viabilizar um sistema europeu de relaes laborais relevante, bem como
por um Conselho que, em circunstncias normais, se empenha firme-
mente na tarefa de refrear tais ambies. O resultado uma charada
regulatria (Rhodes, 1995) dentro de um conjunto de processos que
pairam indecisos entre a poltica e a diplomacia, entre estados e merca-
dos e entre governos e governao (Laffan, 1998: 236). Poder haver
espao para um reforo cumulativo e iterativo da extenso e profundi-
dade da dimenso social ou no.
Coloca-se, contudo, anlise das relaes laborais uma importante
questo que raramente enfrentada de modo explcito: podemos enca-
rar a regulao supranacional como uma cpia ampliada das relaes
laborais nacionais? isto que parece estar subentendido se aplicarmos
simplesmente o modelo de Dunlop ao palco europeu e tambm talvez
esteja implcito em muitos casos em que se usa a noo de governao
de mltiplos nveis (Eberwein et al., 2000: 203; Falkner, 1998) como me-
canismo analtico. Mas como que esses nveis se comunicam entre si?
As instituies de relaes laborais emergentes a nvel europeu no
esto prestes a transformar-se numa rplica de um sistema nacional de
relaes laborais a uma escala maior (Streeck, 1998: 435). H poucas
perspectivas de que se criem cpias directas a nvel transnacional da
negociao colectiva e do jogo poltico do plano nacional, uma vez
que como tem sido repetidamente defendido a UE no em aspec-
tos fundamentais um Estado supranacional e os parceiros sociais eu-
ropeus no so sindicatos ou organizaes de empregadores nacionais
com autoridade a nvel superior.
O risco reside no investimento de demasiada energia e recursos na
busca de uma forma elaborada de substncia mnima. este o caso do
complexo ritual do dilogo social, um processo moroso que tem pou-
cas semelhanas com a verdadeira negociao colectiva. Da mesma for-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 37
ma, os esforos para estabelecer regulamentao atravs de directivas
da UE (ou conseguir acordos bipartidos sombra da lei) tm alcana-
do resultados que mesmo os entusiastas admitem ser relativamente li-
mitados em termos do seu impacto na maioria dos pases da UE (o Rei-
no Unido talvez a excepo permanente), embora haja esperana de
que possam constituir as bases de futuros avanos.
Uma considerao fundamental que a integrao europeia requer
uma nova inveno estratgica. Segundo Piven e Cloward (2000: 414), a
internacionalizao econmica debilita muitos dos tradicionais pontos
fortes dos movimentos operrios, mas continuam a persistir (...) possi-
bilidades subjacentes de poder. No entanto, os sindicatos frequente-
mente manifestam inrcia organizativa e permanecem aprisionados por
orientaes estratgicas que anteriormente foram eficazes, mas que per-
deram fora perante os novos desafios. Assim, os potenciais recursos de
poder dos movimentos operrios a oportunidade de se concentrarem
nos pontos fracos do capital transnacional no se reflectem no seu
repertrio de estratgias efectivas.
Um desses pontos fracos ideolgico. Apesar do grau em que os
mercados livres se tornaram parte da normalidade poltica das duas
ltimas dcadas, o impacto destrutivo do liberalismo econmico nas vi-
das das pessoas vulgares muitas vezes amargamente ressentido. No
poderiam os sindicatos europeus mobilizar esse descontentamento? Esta
questo estabelece a ponte com a anterior discusso sobre a economia
moral. Uma falha que subjaz procura de uma regulamentao a nvel
europeu, quer atravs de mecanismos supranacionais equivalentes da
negociao colectiva, quer atravs de aco legislativa, que tais proces-
sos, bem como os instrumentos da derivados, no tm o apoio das pers-
pectivas partilhadas e dos compromissos normativos mais difusos que
lhes conferem em grande medida efectividade a nvel nacional. A busca
de um sistema europeu de relaes laborais tem sido principalmente
um projecto de elite, conduzido por burocratas. Se no responder aos
anseios e aspiraes populares, todo o elaborado repertrio de comuni-
cados, opinies conjuntas, projectos e revises de projectos de directivas,
bem como tudo o resto que vem da Comisso, mais no do que um
entretenimento sem relevncia para o mundo real do trabalho e do em-
prego. O que falta uma economia moral a nvel europeu para alm
do tradicional empenhamento abstracto numa economia de mercado
38 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
social por parte dos social-democratas e dos democratas cristos, um
empenhamento que sempre foi ambguo e que foi sendo progressiva-
mente minado pelas presses mercantilizantes do final do sculo XX.
O objectivo de uma regulao europeia efectiva a reconstruo
do estatuto do empregado a nvel supranacional continuar a ser uma
quimera a no ser que se consiga mobilizar o apoio popular. No entanto,
tem que se contar com a existncia de uma opinio pblica dominan-
te na maioria dos pases europeus que manifesta desconfiana, se no
mesmo um absoluto antagonismo, relativamente ideia da integrao
europeia. A hostilidade difundida entre os cidados relativamente ao
processo de unificao reforada pelo discurso da maioria dos dirigen-
tes polticos, que apresentam a Unio Europeia como a adaptao ne-
cessria globalizao, com o corolrio do ajustamento econmico, da
flexibilidade dos mercados de trabalho e encolhimento do Estado Provi-
dncia (Castells, 1998: 326). Mais vezes do que seria desejvel, os re-
presentantes dos trabalhadores europeus tm abraado de forma dema-
siado acrtica o processo de unificao como uma mercantilizao, ali-
mentando inconscientemente o desencanto relativamente ao seu pr-
prio estatuto de representantes.
Isto poderia ser revertido se fosse possvel formular e difundir cri-
trios claros de economia moral que encontrassem eco em todos os pa-
ses e lnguas, inspirando entusiasmo em vez de alienao. Como se po-
der construir uma economia moral europeia significativa? As ideias, os
ideais e as identidades emergem geralmente atravs da contestao e
luta; s vezes representam uma conciliao de interesses conflituais, mas
tambm constituem frequentemente pontos de referncia a partir dos
quais as maiorias oprimidas podem desafiar as minorias imperiosas.
So tanto o produto como a base da sociedade civil, que eu entendo
como uma esfera de relaes sociais distinta quer do poder do Estado,
quer do domnio do mercado. No plano nacional, os sindicatos de mui-
tos pases devem desde h muito a sua influncia em grande medida ao
seu estatuto de actores fundamentais na sociedade civil; mais recente-
mente, reconheceram que s podem suster ou reconsquistar um papel
significativo atravs do estabelecimento de laos efectivos com outros
elementos da sociedade civil. Por contraste, a debilidade de uma socie-
dade civil europeia constitui um dos maiores obstculos criao de um
verdadeiro sistema europeu de relaes laborais.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 39
Conceptualmente, j existe uma sociedade civil europeia. A Comis-
so Europeia declarou desejar promover um dilogo civil a nvel eu-
ropeu e d apoio material a uma grande variedade de organizaes no-
governamentais que podem funcionar como interlocutores (assim como
subsidia a representao de empregados dentro das rotinas de dilogo
social h mais tempo estabelecidas). Mas isto s fachada. As organiza-
es autorizadas por instncias superiores no podem por via disso ser
realisticamente vistas como representantes da vontade popular. Se no
houver uma conscincia difundida da cidadania europeia ftuo falar
de uma sociedade civil europeia.
Contudo, no esto totalmente ausentes indcios reais da existn-
cia de uma sociedade civil europeia. Um exemplo bvio a luta pelos
direitos das mulheres, que, a partir dos anos sessenta, gerou um clima
de opinio que constituiu a base das decises inovadoras do Tribunal
Europeu e das polticas intervencionistas da Comisso no campo da igual-
dade de oportunidades. Um outro exemplo foi a ira causada pelo encer-
ramento da fbrica de Vilvoorde pela Renault, que reforou as reivindi-
caes de polticas europeias de emprego efectivas e criou um potencial
para o fortalecimento da directiva dos Conselhos de Empresa Europeus.
Em certa medida, a ameaa da BMW de encerrar a produo nas fbri-
cas britnicas da Rover provocou reaces semelhantes. Na altura em
que escrevo este artigo, a resistncia deciso da GM de fechar a fbrica
da Vauxhall em Luton provocando uma greve simblica de 40 000
trabalhadores em toda a Europa reflecte uma afirmao semelhante
dos direitos morais e de status dos trabalhadores perante o estreito con-
tratualismo do capital multinacional.
A consolidao da sociedade civil europeia emergente deve ser con-
siderada como uma importante tarefa para os sindicatos e outros
apoiantes de uma efectiva regulao social do emprego. Um dos proble-
mas que o prprio conceito de sociedade civil tem sido apropriado e
desvalorizado pelos defensores de uma terceira via profundamente
ambgua, muitas vezes para humanizar as polticas neoliberais. Como
Beck afirmou, seria mais apropriado usarmos o conceito de uma socie-
dade de cidados que lutam a favor dos direitos das pessoas (uma tra-
duo aproximada de zivilcouragierte Gesellschaft) (2000: 11). Ou, nas pa-
lavras de Standing, necessria uma rede de associaes de cidados
para dar voz a todos os que enfrentam a insegurana (1999: 387).
40 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Para os sindicatos virem a reafirmar a sua relevncia como repre-
sentantes do mundo do trabalho e como actores a nvel europeu, tem de
haver uma mudana radical na importncia atribuda ao prprio traba-
lho. Ao mesmo tempo que se envolvem no processo de integrao
europeia, tm de se tornar muito mais categricos e vigorosos na sua
oposio ao avano desumanizante das foras de mercado. Por contras-
te com o dilogo social tal como actualmente entendido, necessrio
que haja um dilogo social interno para acordar em perspectivas comuns
para o trabalho escala europeia, para construir alianas com as ONGs
apropriadas e para criar recursos e mesmo armas para fazer com que as
suas opinies sejam efectivamente ouvidas. As expresses mais dram-
ticas da economia moral nos ltimos anos como em Seattle, Nice ou
Davos tm sido essencialmente negativas e opositivas. Em ltima
anlise, a rejeio das prioridades determinadas pelo mercado s pode
ter xito se se voltar para o futuro em vez de para o passado e se for
enquadrada por uma agenda positiva de direitos humanos. Com tais
fundamentos, poder tornar-se possvel talhar processos de regulao
comunitria a nvel supranacional, bem como estimular a presso das
bases, a qual pode reforar a busca de outros modos de regulao
europeia. Ser uma luta difcil, cujo objectivo deve ser o de construir
uma nova forma de insero dos processos do mercado a nvel europeu
e, portanto, uma nova defesa do status dos empregados particular-
mente dos que se encontram em posies mais vulnerveis dentro do
mercado de trabalho real que est a surgir. Os acadmicos que parti-
lham estas preocupaes tm o dever de ajudar nesta luta, que deveria
estar no centro de um conflito de perspectivas sobre o significado e o
futuro da Europa.
At agora, os estudiosos limitaram-se a interpretar o mundo das
relaes laborais de diferentes maneiras, mas a questo reinvent-lo.
Traduo de Teresa Tavares
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 41
Rcfcrncias bibIiogrficas
ALLk1, M. (1993), Ca|ta||sn aga|ost Ca|ta||sn. London. Whurr.
LCK, U. (2000), Mohr Zlvllcourago bltto, ||e \e|t (25 Malo), 11.
LAlk, 1. (1998), loroword, |a| |ea| at \o|. London. HMSC, Cm 3968, 3-4.
CLk, k. (1996), Stato and Markot. A Now Lngagomont or tho 1wonty-llrst
Contury:, |o k. oyor, D. Dracho (orgs.), States ^ga|ost \a|ets. !|e ||n|ts
o| G|ooa||zat|oo. London. koutlodgo, 84-114.
kCWN, W., koa, D. (1995), 1ho Changlng Naturo o tho Lmploymont Contract,
Scott|s| louoa| o| |o||t|ca| |cooonj, 42(3), 363-377.
UDA, D. (1998), Cn Courso or Luropoan Labour kolatlons:, |o W. Lochor, H.-
W. llatzor (orgs.), |uoeao Lo|oo |uoeao |oJust|a| ke|at|oos. London.
koutlodgo, 21-44.
CAS1LLLS, M. (1998), |oJ o| \|||eoo|un. Cxord. lackwoll.
CCMMCNS, }. k. (1909/1968), Amorlcan Shoomakors, 1848-1895, Quate|j
louoa| o| |cooon|cs, 24, roodltado om k. L. kowan, H. k. Northrup (orgs.),
keaJ|ogs |o |aoo |cooon|cs aoJ |aoo ke|at|oos. Homowood. lrwln, 60-76.
______. (1924), |ega| |ouoJat|oos o| Ca|ta||sn. Now ork. Macmlllan.
CkCUCH, C., Stroock, W. (orgs.) (1997), |o||t|ca| |cooonj o| \oJeo Ca|ta||sn.
London. Sago.
DCkL, k. (1986), ||e\|o|e k|g|J|t|es. London. Athlono.
DUkKHLlM, L. (1933), !|e ||.|s|oo o| |aoo |o Soc|etj. Now ork. Macmlllan.
LLkWLlN, W., 1HCLLN, }., SCHUS1Lk, }. (2000), ||e |uoa|s|euog Je
^oe|tsoez|e|uogeo a|s o||t|sc|-soz|a|e |oze|. Munlch. Hampp.
LkLS-SLCUlN, S. (1999), Lo contrat du travall. Uno rolatlon hybrldo, |o S.
Lrbos-Soguln (org.), |e cootat. Lsages et aous Juoe oot|oo. larls. Dosclo
do rouwor, 217-231.
LSllNC-ANDLkSLN, C. (1990), !|e !|ee \o|Js o| \e||ae Ca|ta||sn. Cambrldgo.
lollty.
lALKNLk, C. (1998), |L Soc|a| |o||cj |o t|e 1990s. !ouaJs a Cooat|st |o||cj
Connuo|tj. London. koutlodgo.
lLkNLk, A. (1998), Multlnatlonals, kolocatlon and Lmploymont ln Luropo, |o }.
Cual (org.), loo Ceat|oo. !|e ko|e o| |aoou \a|et |ost|tut|oos. Choltonham.
Ldward Llgar, 165-196.
lLANDLkS, A. (1970), \aoageneot aoJ Lo|oos. London. labor.
42 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
lklC1, . (1999), Los on|oux actuols duno dlnltlon contractuollo do lomplol,
|o S. Lrbos-Soguln (org.), |e cootat. Lsages et aous Juoe oot|oo. larls. Dosclo
do rouwor, 195-215.
CCL1SCH, }. (1994), A lurthor Commont on Wolgang Stroocks Luropoan
Soclal lollcy ator Maastrlcht, |cooon|c aoJ |oJust|a| |enocacj, 15,
477-485.
______. (1999), 1ho Luropoan Lmploymont Stratogy. Conosls and Dovolopmont,
|uoeao louoa| o| |oJust|a| ke|at|oos, 5(2), 117-137.
CkAHL, }., 1oaguo, l. (1994), Lconomlc Cltlzonshlp ln tho Now Luropo, |o||t|ca|
Quate|j, 65(4), 379-396.
CkANCVL11Lk, M. (1985), Lconomlc Actlon and Soclal Structuro. 1ho lroblom
o Lmboddodnoss, ^ne|cao louoa| o| Soc|o|ogj, 91, 481-510.
CkA, }. (1998), |a|se |auo. !|e |e|us|oos o| G|ooa| Ca|ta||sn. London. Cranta.
HU11CN, W. (1995), !|e State \ee |o. London. Capo.
}ACCl, C. (1996), Luropoan Monotary Unlon. A Quantum Loap, !aos|e, 2(2),
233-244.
}LNSLN, C. S., Madson, }. S., Duo, }. (1999), lhasos and Dynamlcs ln tho
Dovolopmont o LU lndustrlal kolatlons, |oJust|a| ke|at|oos louoa|, 30(2),
118-134.
LAllAN, . (1998), 1ho Luropoan Unlon. A Dlstlnctlvo Modol o lntornatlonallza-
tlon, louoa| o| |uoeao |uo||c |o||cj, 5(2), 235-253.
LLCHLk, W., kub, S. (1999), 1ho Constltutlon o Luropoan Works Counclls,
|uoeao louoa| |oJust|a| ke|at|oos, 5(1), 7-25.
MA}CNL, C. (1998), Undorstandlng kogulatory Crowth ln tho Luropoan
Communlty, |o D. Hlno, H. Kasslm (orgs.), |ejooJ t|e \a|et. !|e |L aoJ
Nat|ooa| Soc|a| |o||cj. London. koutlodgo, 14-35.
MAkClNSCN, l., SlSSCN, K. (1994), 1ho Structuro o 1ransnatlonal Capltal ln
Luropo, |o k. Hyman, A. lornor (orgs.), Neu |oot|es |o |uoeao |oJust|a|
ke|at|oos. Cxord. lackwoll, 15-51.
______. (1998), Luropoan Colloctlvo argalnlng. A Vlrtual lrospoct:, louoa| o|
Connoo \a|et StuJ|es, 36(4), 505-528.
MAkSDLN, D. (1999), ^ !|eoj o| |n|ojneot Sjstens. Cxord. Cxord Ul.
MAk1lN, A., kCSS, C. (1999), ln tho Llno o llro. 1ho Luropoanlzatlon o Labor
koprosontatlon, |o A. Martln, C. koss (orgs.), !|e |a.e Neu \o|J o|
|uoeao |aoo. Now ork. orghahn, 312-367.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 43
Ml1CHLLL, A. (1998), lndustrlal Domocracy. koconclllng 1hoorlos o tho llrm
and Stato, |oteoat|ooa| louoa| o| Conaat|.e |aoou |au aoJ |oJust|a|
ke|at|oos, 14(1), 3-40.
llVLN, l. l., CLCWAkD, k. A. (2000), lowor koportolros and Cloballzatlon,
|o||t|cs 8 Soc|etj, 28(3), 413-430.
lCLANl, K. (1957), !|e Geat !aos|onat|oo. oston. oacon.
kLClNl, M. (1995), Loceta|o |ouoJa|es. Cambrldgo. Cambrldgo Ul.
______. (2000), 1ho Dllommas o Labour Markot kogulatlon, |o C. Lsplng-Andorson,
M. koglnl (orgs.), \|j |eegu|ate |aoou \a|ets: Cxord. Cxord Ul, 11-29.
kHCDLS, M. (1995), A kogulatory Conundrum. lndustrlal kolatlons and tho So-
clal Dlmonslon, |o S. Lolbrlod, l. llorson (orgs.), |uoeao Soc|a| |o||cj.
|etueeo |agneotat|oo aoJ |otegat|oo. Washlngton. rooklngs, 78-122.
kCSS, C. (1994), Cn Hal-lull Classos, Luropo and tho Lot, |cooon|c aoJ |o-
Just|a| |enocacj, 15, 486-496.
SALk, A. (1995), kaJ|ca| |o||t|ca| |cooonj. ^ C|t|que. Cxord. lackwoll.
S1ANDlNC, C. (1997), Cloballzatlon, Labour lloxlblllty and lnsocurlty. 1ho Lra
o Markot kogulatlon, |uoeao louoa| o| |oJust|a| ke|at|oos, 3(1), 7-37.
______. (1999), G|ooa| |aoou ||e\|o|||tj. See||og ||st|out|.e lust|ce. London.
Macmlllan.
S1kLLCK, W. (1987), 1ho Uncortalntlos o Managomont ln tho Managomont o
Uncortalnty, \o|, |n|ojneot aoJ Soc|etj, 1(3), 281-308.
______. (1992a), Soc|a| |ost|tut|oos aoJ |cooon|c |e|onaoce. London. Sago.
______. (1992b), Natlonal Dlvorslty, koglmo Compotltlon and lnstltutlonal Doadlock,
louoa| o| |uo||c |o||cj, 12(4), 301-330.
______. (1994), Luropoan Soclal lollcy ator Maastrlcht, |cooon|c aoJ |oJust|a|
|enocacj, 15, 151-77.
______. (1995), lrom Markot Maklng to Stato ulldlng:, |o S. Lolbrlod, l. llorson
(orgs.), |uoeao Soc|a| |o||cj. |etueeo |agneotat|oo aoJ |otegat|oo. Wash-
lngton. rooklngs, 389-431.
______. (1997), Nolthor Luropoan nor Works Counclls, |cooon|c aoJ |oJust|a|
|enocacj, 18(2), 325-337.
______. (1998), 1ho lntornatlonallzatlon o lndustrlal kolatlons ln Luropo, |o||t|cs
8 Soc|etj, 26(4), 429-459.
S1kLLCK, W., SCHMl11Lk, l. C. (1991), lrom Natlonal Corporatlsm to
1ransnatlonal llurallsm, |o||t|cs 8 Soc|etj, 19(2), 133-164.
44 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
SUllC1, A. (1999), 1ho 1ransormatlon o Work and tho luturo o Labour Law ln
Luropo, |oteoat|ooa| |aoou ke.|eu, 138(1), 31-46.
1HCMlSCN, L. l. (1971), 1ho Moral Lconomy o tho Lngllsh Crowd ln tho
Llghtoonth Contury, |ast aoJ |eseot, 50, 76-136.
VlSSLk, }. (1998), Loarnlng to llay. 1ho Luropoanlsatlon o 1rado Unlons, |o l.
lasturo, }. Vorborckmoos (orgs.), \o||og-C|ass |oteoat|ooa||sn aoJ t|e ^ea|
o| Nat|ooa| |Jeot|tj. Cxord. org, 231-257.
4S
2
C dllogo soclal o a roorma trabalhlsta
o slndlcal no rasll. dobato atual'
kooeto veas Je O||.e|a
A eleio de Lula, por sua condio de autntica liderana popular
e pela condio do PT como um partido de tradio socialista, no pode-
ria deixar de significar um marco na histria do pas.
No entanto, a alargada e heterognea composio de foras que o
levou vitria e vem concedendo sua base social e poltica de sustenta-
o configurou um quadro de expectativas diversas e, muitas vezes, con-
traditrias.
Acrescente-se a isso o gigantesco desafio posto por um contexto
mundial, que desde o incio da dcada de 1990 vem causando forte im-
pacto sobre o Brasil, cuja caracterstica principal tem sido a restrio (de-
sarticulao) crescente das polticas sociais e dos mecanismos institucio-
nais de dilogo social.
' Comunlcaao aprosontada no Vlll Congrosso Luso-Aro-rasllolro do Soclologla, Colmbra,
15 a 16 do sotombro do 2004. Compo a posqulsa colotlva Cldadanla o Domocracla. o ponsa-
monto nas rupturas da politlca, conduzlda polo CLNLDl/USl, sob a coordonaao do Marla
Clla laoll.
46 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Sob tais elementos, nos propomos a uma reflexo sobre as possibi-
lidades dos espaos de concertao social constitudos com o Governo
Lula. Consideramos, particularmente, as experincias do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Econmico e Social CDES, da Mesa Na-
cional de Negociao Permanente MNNP e do Frum Nacional do
Trabalho FNT.
O trabaIbo sob novos paradigmas
As ltimas dcadas tm como pano de fundo mundial o fenmeno
da globalizao, no sentido atribudo por Bourdieu, que evidencia o ca-
rter de mito justificador que o cerca, atravs da ratificao e glorifica-
o do reino do mercado financeiro, a arma principal das lutas contra as
conquistas do Welfare State (1998: 48).
Assenta-se, entre outros fatores, no esgotamento do fordismo e no
surgimento de um novo paradigma produtivo, denominado produo
flexvel (Harvey, 1992). A flexibilizao envolve a produo, os padres
de consumo e as relaes de trabalho. Quanto ao trabalho, Toledo (1997)
se refere, como tendncia geral, flexibilizao do emprego, do uso do
trabalho e da remunerao, ajustando-os continuamente s mudanas
permanentes na produo.
Para Castel (1998), o contrato de trabalho estvel estaria tendendo
a perder sua preponderncia, sendo substitudo por formas particulares
de emprego, envolvendo uma infinidade de situaes heterogneas, tais
como: contratos de trabalho por tempo determinado, interinidade, tra-
balho de tempo parcial e diferentes formas de emprego ajudado (resul-
tante de polticas pblicas de combate ao desemprego). Seria a reedio
da vulnerabilidade de massa, mesmo onde havia sido aparentemente
superada.
O prprio estatuto do trabalho enquanto paradigma de sociabili-
dade vem sendo posto em questo
1
. Tais transformaes no poderiam
deixar de repercutir tambm no caso do Brasil.
1. Vor, por oxomplo, Co (1989), Habormas (1992), Corz (1998).
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 47
Mudanas rcccntcs no padro dc rcIacs dc trabaIbo no rasiI
O pas foi introduzido no paradigma da globalizao a partir do
governo Collor, atravs de intensas polticas de liberalizao e privati-
zao da economia. A presso no sentido de uma flexibilizao da legis-
lao trabalhista logo se fez sentir.
O governo Itamar, sob o ambiente poltico ps-impeachment, lanou
um debate nacional sobre o futuro das relaes de trabalho e a possibili-
dade de um contrato coletivo nacional
2
. Em 1993, no Frum Nacional
composto por representantes de trabalhadores, de empregadores, do
Estado e da sociedade civil, delinearam-se trs posies principais.
Colocaram-se a favor da reforma global, inicialmente, a CUT, a
Fora Sindical e o Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Tinham
como referncia comum, nos termos das convenes da OIT, a demo-
cratizao das relaes de trabalho. Entretanto, na seqncia, apenas a
CUT manteve-se nessa posio.
A favor da desregulamentao reuniram-se basicamente as enti-
dades empresariais. Referenciando-se nos imperativos de produtivida-
de e competitividade, advogavam, sobretudo, a reduo dos custos do
trabalho, particularmente atravs da prevalncia do negociado sobre o
legislado.
Pela reforma parcial reuniram-se as entidades empresariais e de
trabalhadores identificadas com o sistema confederativo. Colocaram-se
em defesa da manuteno da Unicidade Sindical, das contribuies com-
pulsrias, do Poder Normativo da Justia do Trabalho e da CLT.
Com o governo Fernando Henrique, o debate pblico foi suspen-
so, prevalecendo medidas unilaterais em favor da desregulamentao.
Considere-se que no s se constituiu, na era Vargas, um, mesmo que
precrio, estado social (Oliveira, 1998), como o Brasil havia chegado
dcada de 1990 com uma trajetria de significativas conquistas sociais e
polticas, expressas na Constituio de 1988.
As medidas governamentais adotadas a partir de 1994 foram alte-
rando pontualmente a normatizao das relaes de trabalho no Brasil.
2. Vor Antnlo do Cllvolra (2002).
48 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Destacaram-se: a nova lei de cooperativas, desresponsabilizando-as do
cumprimento dos direitos trabalhistas; a denncia da Conveno 158 da
OIT, facilitando a demisso imotivada; a possibilidade da suspenso tem-
porria do contrato de trabalho; a eliminao da poltica de reajuste sa-
larial atravs do Estado; a instituio do trabalho temporrio, do traba-
lho por tempo determinado, do trabalho parcial, da Participao nos
Lucros e Resultados (estimulando a remunerao varivel e a negocia-
o por empresa), o Banco de Horas (possibilitando ao empregador ajus-
tar a jornada de trabalho s flutuaes da produo); a criao das Co-
misses de Conciliao Prvia, que tem dificultado o acesso dos traba-
lhadores Justia do Trabalho (Krein, 2001).
A combinao entre as mudanas que foram sendo operadas no
cho de fbrica com aquelas acionadas pelo governo levaram a um
quadro crescentemente desfavorvel aos trabalhadores. Como ilustra-
o, segundo dados do SEADE/DIEESE
3
, na regio metropolitana de
So Paulo, a proporo de empregados formais caiu de 57,3% da PEA,
em 1989, para 40,2%, em 2001.
Ao lado disso, a defesa dos direitos sociais passou a ser sistemati-
camente desqualificada como corporativismo. Sob tais referncias, a
experincia das Cmaras Setoriais foi deliberadamente abortadas
4
, o
Frum Nacional sobre Contrato Coletivo e Relaes de Trabalho no
teve continuidade, a Reforma Trabalhista foi sendo implantada atravs
de Medidas Provisrias, o sindicalismo converteu-se em alvo de ata-
ques do Governo Federal e da Justia do Trabalho
5
.
No seu segundo mandato, o governo anunciou sua inteno em
alterar o artigo 7 da Constituio Federal, com vistas a flexibilizar os
direitos sociais ali previstos, atravs da adoo da prevalncia do nego-
ciado sobre o legislado. Diante da dificuldade de aprovao no Con-
gresso Nacional, voltou-se para a alterao do artigo 618 da CLT. O man-
3. |stuJos ^.aoaJos, n- 47, p. 21-42, |an.-abr. 2003.
4. Constltuidas como ospaos do nogoclaao trlpartlto, om vrlos sotoros da oconomla (mota-
lurglco, quimlco, do mqulnas agricolas, da construao clvll), ontro 1992 o 1993. C caso do sotor
automotlvo, para Cllvolra et a|. (1993), lnaugurou uma nova contratualldado no mblto das
rolaos do trabalho no pais.
5. A poslao lntranslgonto com quo o govorno lHC, om 1995, tratou a grovo dos potrololros,
dlrlglda pola CU1, tornou-so um caso paradlgmtlco (klzok, 1998).
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 49
dato foi encerrado e o Projeto de Lei n 5.483, j aprovado na Cmara,
passou a tramitar no Senado.
Govcrno tuIa: a promcssa
A retomada das lutas populares, entre as dcadas de 1970 e 1980,
inaugurou um novo momento poltico no pas. Da surgiram o PT, em
1980, e a CUT, em 1983, que envolveram e foram agregando, sob diver-
sas formas, outros movimentos sociais, organizaes populares, pasto-
rais, ONGs e organizaes partidrias.
No correr dos anos 80, o PT, na condio de partido de massas e
de orientao socialista, se afirmou como a principal expresso parti-
dria de um campo de foras sociais e polticas, que foi se construindo
como um projeto alternativo ao processo de transio conservadora
(ODonnell, 1988), conduzido pela Aliana Democrtica, demarcando
posies em situaes decisivas, tais como: na Campanha das Diretas e
na sucesso presidencial via Colgio Eleitoral, em 1984; na edio do
Plano Cruzado, em 1986; no processo Constituinte, entre 1987 e 1988;
nas eleies presidenciais de 1989, com a candidatura de Lula.
Entretanto, a crescente institucionalizao do processo poltico do
pas e dos prprios movimentos sociais tem repercutido de maneira de-
cisiva sobre o campo democrtico e popular, valorizando no seu interior
cada vez mais o plo partidrio e, neste, os momentos eleitorais.
De outra parte, a crise do socialismo real, eclodida no final do
decnio de 1980, tambm impactou diretamente sobre tais segmentos.
Ao mesmo tempo, estes deram reconhecidos passos, quanto mais con-
seguiram ampliar sua presena nas administraes municipais e esta-
duais, no desenvolvimento de experincias inovadoras no campo da
gesto pblica. O destaque, inclusive com repercusso internacional,
recaiu sobre as experincias de Oramento Participativo
6
.
Acompanhou esse percurso, sobretudo a partir do comeo da dca-
da de 1990, uma tendncia ampliao de sua poltica de alianas, asso-
6. Vor Santos (1998).
S0 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
ciada moderao do contedo programtico de seus projetos de go-
verno. Chegamos, ento, ao processo eleitoral de 2002.
A proposta, da candidatura Lula, de um governo de coalizo na-
cional consolida e ultrapassa tal tendncia. Isso, na medida em que, a
partir do marco decisivo da aliana com o PL e da indicao do empres-
rio Jos de Alencar como vice, busca uma composio eleitoral e de go-
verno que vai alm do ncleo do campo democrtico e popular, de uma
maneira que no havia feito antes, em uma evidente inflexo na sua
trajetria. O gradativo deslocamento da originria centralidade da idia
de ruptura consuma-se na sua substituio por uma referncia centrada
nas idias de pacto social e de transio. Isso, no sem gerar importan-
tes conflitos internos
7
.
Na histria recente do Brasil, a idia de pacto social j havia se colo-
cado, embora sob circunstncias diferentes. A proposta de transio
pactuada da Aliana Democrtica procurava, com isso, contrastar seu
mtodo a negociao frente quele dos governos autoritrios a
imposio pela fora. Mas seu carter conservador constituiu um fator
de limitao.
A idia ressurgiu nos governos Sarney e Collor, em situaes de agra-
vamento da crise social e poltica. Entretanto, da parte desses, jamais foi
alm de uma encenao poltica (Almeida, 1996). E, da parte do campo
democrtico e popular, a noo de pacto representava uma indesejada
atitude conciliatria frente ao capital e ao governo, tido como ilegtimo.
A experincia brasileira que mais avanou no exerccio de uma nova
contratualidade foi o das Cmaras Setoriais, as quais foram desativadas
quando FHC tornou-se Ministro da Fazenda e, depois, Presidente da
Repblica.
A eleio de Lula criou um novo campo de possibilidades quanto a
isso. As primeiras iniciativas do novo Governo nesse sentido
8
, de fato,
conseguiram envolver segmentos muito expressivos da sociedade civil
organizada.
7. C oplsodlo da oxpulsao dos radlcals do l1 ol, at o momonto, o quo mals ganhou
ovldncla.
8. Da parto do proprlo Covorno, oram sugorldas, como roornclas. o lacto do Moncloa,
roallzado om 1977 na Lspanha, o o Neu |ea|, lmplomontado nos Lstados Unldos, na dcada do
1930, ontro outros.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL S1
Para o governo, tal estratgia foi colocada como a nica maneira
vivel de enfrentar a enorme dvida social do pas
9
. Seria o recheio (base
social indispensvel) do projeto de um governo de coalizo nacional
10
.
Da parte dos empresrios, notam-se motivaes e expectativas di-
versas. H quem proponha uma nova atitude pblica dos empresrios
em favor da cidadania
11
. Para outros segmentos, o convite ao pacto
social, sob a liderana de um governo que se prope a priorizar a produ-
o, pode ter significado uma (mesmo que vaga) oportunidade de rea-
o s conseqncias malficas do modo como o pas estaria se inserin-
do na globalizao (um contraponto nacional-produtivista imposio
de uma dinmica financeiro-globalizante). Mas, para vrios deles, pode
ter significado, to-somente, uma oportunidade de influir o mais decisi-
vamente possvel nas reformas que o governo pautou.
Quanto aos trabalhadores, sob grandes expectativas diante do go-
verno Lula, a idia do pacto social constitui-se numa oportunidade his-
trica de influir sobre os rumos do pas, de modo a reverter os processos
histrico e recente, ambos, de excluso social.
Foi nesse ambiente que o novo Governo buscou envolver a socie-
dade, em particular seus segmentos mais organizados, na constituio
de espaos de concertao social, inditos no pas, do tipo: o Conselho
de Desenvolvimento Social e Econmico CDES; a Mesa Nacional de
Negociao Permanente MNNP; e o Frum Nacional do Trabalho
FNT. Sobre eles, nos deteremos a seguir.
9. Conormo }os Dlrcou, no sou dlscurso do posso. Lstamos propondo um pacto, mas
proclso quo so dolxo claro quo osso pacto tom duas dlroos. proclso doondor o lntorosso
naclonal, a produao, o dosonvolvlmonto do pais, mas a contrapartlda a dlstrlbulao do ronda,
a |ustla soclal, a ollmlnaao da pobroza o da mlsrla (Dlrcou, 2003).
10. Conormo o documonto lanado polo prosldonto ololto, Unlao polo rasll, o acto
soc|a| sor um lnstrumonto do colaboraao ontro o govorno odoral o dlorontos sogmontos so-
clals, catogorlas prolsslonals, lldoranas roprosontatlvas do omprosrlos o trabalhadoros, lntoloc-
tuals, porsonalldados, lldoranas popularos, rollglosos o autorldados om condlos do contrlbulr
para quo o pais salba molhor olaborar, dolnlr o construlr sou proprlo camlnho rumo ao dosonvol-
vlmonto oconmlco, soclal o sustontvol. (Sllva, 2002)
11. lara Cdod Cra|ow, uma lgura omblomtlca dossos sogmontos, a ldla do acto soc|a|
prossupo uma cultura politlca quo acrodlta na partlclpaao da soclodado o na nogoclaao como
ormas do lldar com os conlltos, construlr a paz soclal, consolldar a domocracla o produzlr molho-
ros rosultados a curto o longo prazos (|o||a Je S. |au|o, 1ondnclas o Dobatos. Sao laulo, 12
novombro do 2002, p. A3).
S2 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
A cxpcrincia do CDIS
O CDES foi criado no ato da posse do governo Lula, com a funo
de assessorar o Presidente da Repblica na formulao de polticas e diretrizes
especficas, voltadas a um novo Contrato Social
12
.
Foram nomeados, pelo Presidente da Repblica, 11 representantes
do governo federal e 82 membros da sociedade civil, com igual nmero
de suplentes. Gozando de imediato de imenso prestgio, o Governo con-
seguiu articular nomes dos mais expressivos dos segmentos empresa-
rial, sindical, intelectual, religioso.
Conforme seu Regimento Interno, as posies do Conselho sero
levadas ao Presidente da Repblica, classificadas como consensuais,
majoritrias ou minoritrias.
Entretanto, surgiram crticas. Ao questionamento sobre a origem
empresarial da maioria dos nomeados, o governo respondeu: temos uma
composio parelha, metade originria do setor produtivo e metade da sociedade
civil
13
. Sobre a suspeita de que o Conselho poderia subtrair poder do
Parlamento, o governo reafirmou a prerrogativa do Congresso em ter a
palavra final sobre as Reformas. Quanto ausncia, entre os nomea-
dos, de representantes do Norte, o governo respondeu ampliando o n-
mero de conselheiros para 90, incluindo 6 representantes da referida
Regio.
Desde sua instalao, o CDES discutiu e se posicionou sobre as
reformas Previdenciria, Tributria, Sindical e Trabalhista. Alm disso,
produziu, at o momento, seis Cartas de Concertao. Na primeira,
de fevereiro de 2003, foi feita a defesa de um novo contrato social
(Brasil, 2003a). A segunda, de abril, tratou do compromisso de todos
com a incluso social e o desenvolvimento sustentvel (Brasil, 2003b). A
terceira Carta, de julho, retomou a idia de projeto nacional e declarou
apoio poltica econmica do Governo e s reformas estruturais (Brasil,
2003c). A quarta, de setembro, reafirmou sua concordncia com a polti-
12. Na argumontaao do 1arso Conro. a tradlao politlca do pais a da conclllaao das
olltos o nao da concortaao soclal. Asslm, a concortaao soclal proposta polo Covorno Lula vlsa
a mudana do status quo, nao a sua prosorvaao (Conro, 2003).
13. 1arso Conro, |o||a Je S. |au|o, 6 ov. 2003, Cadorno rasll, p. A2.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL S3
ca econmica orientada para a estabilidade, mas ensaiou uma crtica
propondo uma transio para um novo eixo da poltica econmica, vol-
tado retomada do desenvolvimento e gerao de empregos (Brasil,
2003d: 3). A quinta Carta, de dezembro, voltou ao tema da incluso so-
cial e do dilogo social, ao mesmo tempo advertindo que as condies
polticas, tcnicas, culturais e econmicas so diferentes daquelas que,
nos Estados Unidos e na Europa, ensejaram o pacto social de base fordista.
A situao atual do pas requer um contrato em bases novas, conside-
rando a nossa insero num mundo globalizado, digital e integrado, no qual a
eficincia e a competitividade so cada vez mais importantes (Brasil, 2003e: 3).
Uma condio para isso seria a adaptao dos trabalhadores exigncia
do mundo contemporneo do trabalho varivel e multidisciplinar, com
os sindicatos voltando-se prioritariamente para uma ao junto aos
excludos (Brasil, 2003e: 5). A sexta e, at ento, ltima Carta, de maro
de 2004, defendeu a adoo no pas de uma poltica industrial, tecnol-
gica e de comrcio exterior, em consonncia com o Plano Plurianual
2004-2007, e a criao de uma Agncia Brasileira de Desenvolvimento
Industrial e de um Conselho de Poltica Industrial de carter tripartite
(Brasil, 2003f).
As possibilidades efetivas de o CDES favorecer uma nova contra-
tao social esto demarcadas por uma tenso de fundo, que talvez a
pudssemos expressar, nos termos de Habermas (1992), na forma de
uma complexa disputa entre a razo comunicativa, dialgica, ar-
gumentativa, de um lado, e a razo instrumental, impositiva, do
outro.
No campo da primeira, foi institudo o prprio Conselho e exerci-
tada a construo das Cartas de Concertao e dos documentos sobre as
reformas Previdenciria, Tributria e Trabalhista. A partir do campo da
segunda, do sistema para nos mantermos no referencial
habermasiano , vm impondo-se limites evidentes a tais propsitos.
Em alguma medida, os prprios CDES e Governo os admitem. Na pri-
meira Carta de Concertao, por exemplo, consta como condies do
sucesso da concertao em vistas do desenvolvimento a manuteno da
estabilidade e o controle rigoroso das contas pblicas.
Tal tenso pode ser entrevista na dubiedade de declaraes como a
que segue:
S4 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
C dllogo soclal vom sondo valorlzado o ostlmulado tambm por vrlos
organlsmos lntornaclonals, como a Cl1, Unctad, lnud, lD o lrd, sondo
consldorado om multos documontos olclals poa lmprosclndivol para ga-
rantlr a govornabllldado domocrtlca. lsso porquo soluos tocnlcamonto
corrotas, om politlcas publlcas, nao sao nocossarlamonto as molhoros, sorao
molhoros aquolas quo, som pordor a conslstncla tcnlca, tonham apolo da
soclodado
14
.
A questo , pois, se o Conselho tem como misso favorecer o dilo-
go social como base de constituio de um novo contrato social, ou, o
que teria um efeito inverso, propiciar legitimidade social razo tcnica.
As limitaes do papel do CDES tm ficado evidentes, em uma
palavra, na (rigidez) lgica que vem perpassando a poltica econmica
do Governo e as Reformas que vem conduzindo. Apesar de tudo, tem
subsistido, mas com um significado poltico muito aqum do que foi
anunciado.
A cxpcrincia da MNNP
Em fevereiro de 2003, o novo Governo patrocinou uma reunio com
representantes das entidades nacionais de servidores pblicos federais
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judicirio
15
. Na pauta, a necessida-
de de um canal de negociao. Na ocasio, o Ministro do Planejamen-
to enfatizou que aquela iniciativa demonstrava uma mudana da postu-
ra do governo federal com relao aos servidores
16
.
A iniciativa ocorre em contraste, de um lado, com a tradio autori-
tria da Administrao Pblica no pas e, de outro, com uma sistemtica
14. }acquos Wagnor, atual Socrotrlo Lxocutlvo do CDLS, |o||a Je S. |au|o, 25 |un. 2004,
1ondnclas/Dobatos, p. A3.
15. Sao oxomplos. as ontldados dos trabalhadoros da Sogurldado Soclal (CN1SS) o dos pro-
ossoros o unclonrlos das Unlvorsldados lubllcas (ANDLS o lASUkA, rospoctlvamonto), a Con-
odoraao Naclonal dos 1rabalhadoros no Sorvlo lubllco lodoral (CCNDSLl), a lodoraao Na-
clonal dos Slndlcatos do 1rabalhadoros om Lscolas 1cnlcas lodorals (SlNASLlL), o Slndlcato Na-
clonal dos Audltoros llscals da kocolta lodoral (UNAllSCC), quaso todos lllados a CU1.
16. Culdo Mantoga (http.//www.plano|amonto.gov.br/notlclas/contoudo/notlclas_2003/
rounlao_hlstorlca_unclonallsmo.htm).
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL SS
poltica de desqualificao (profissional e salarial) dos servidores pbli-
cos, iniciada com Collor e intensificada nos governos FHC, como parte
de sua Reforma do Estado
17
.
Em abril, foi constituda a Mesa Nacional de Negociao Perma-
nente, incluindo 6 Ministrios e com previso de at 18 entidades sindi-
cais. Em junho, as partes assinaram o Protocolo que a formalizou, sob
reconhecimento e respeito s conquistas sociais obtidas na luta pelos inte-
resses classistas. Foram tomadas como referncias comuns: a recupera-
o dos salrios; a adoo de uma poltica salarial permanente; a demo-
cratizao das relaes de trabalho; a valorizao dos servidores pbli-
cos; a qualificao dos servios pblicos; a liberdade sindical
18
. Foram
criadas 4 Comisses Temticas: de Poltica Salarial; de Direitos Sindicais
e Negociao Coletiva; de Reestruturao do Servio Pblico e Diretri-
zes Gerais de Planos de Carreira; e de Seguridade Social. Foram previs-
tas, ainda, Mesas Setoriais, a serem constitudas no mbito de cada Mi-
nistrio. Suas deliberaes so, regimentalmente, submetidas Mesa
Central.
Durante as discusses sobre a Reforma da Previdncia, no segun-
do semestre de 2003, a MNNP sofreu certo desgaste, tanto pela recusa
do governo em discutir tal tema nesse espao, como pelos prprios con-
flitos gerados com as opes adotadas no mbito da Reforma, que atin-
giu especialmente os servidores pblicos.
As negociaes s foram retomadas em janeiro de 2004. Os Servi-
dores definiram, como eixos de sua campanha salarial para 2004: a repo-
sio das perdas acumuladas a partir de 1995 (127%, conforme clculo
do Dieese); a transferncia da data-base de 1 de janeiro para 1 de maio;
a reduo da jornada de trabalho sem reduo do salrio.
O Governo, sob a presso da poltica de restrio oramentria, ofe-
receu reajustes salariais no patamar ou pouco acima da inflao do ano
passado, de 9,3%, com ndices variando conforme os nveis salariais.
17. Quo tovo como proposlto mudar o papol do Lstado, do pllar do dosonvolvlmonto lntor-
no para o do suporto da compotltlvldado lntornaclonal (lnclulndo a ostablllzaao oconmlca),
tondo como olxo a prlvatlzaao o como novo marco logal as agnclas do rogulaao (lalolros,
2003).
18. http.//www.plano|amonto.gov.br/arqulvos_down/srh/lrotocolo_ormal.pd.
S6 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Com isso, vrios segmentos deflagraram greves e outros indica-
ram paralisaes de 48 horas. Para os sindicalistas, a proposta do gover-
no teria sido decepcionante.
Mas, ainda em maio, foram assinados os primeiros acordos: com a
FASUBRA e o SINASEFE, envolvendo 145 mil servidores das universi-
dades e escolas tcnicas federais, e com a CONDSEF, envolvendo 393
mil servidores; em junho, com as entidades dos 261 mil servidores do
INSS (FENASPS, CNTSS e CONDSEF). Com os acordos, os servidores
ativos e aposentados tiveram no mnimo a reposio da inflao.
Mantega ressaltou o significado histrico de tais acordos. Para o
presidente da CUT, Luiz Marinho, com o processo de negociao no
servio pblico federal, comea a ocorrer a inverso da lgica do esvazia-
mento do Estado
19
.
No final de julho, no entanto, a FASUBRA, primeira entidade a
assinar o acordo, deflagrou greve pelo seu cumprimento. Segundo os
sindicalistas, no estaria havendo empenho do governo no encaminha-
mento do Projeto de Lei n 33 ao Congresso, que homologaria os acor-
dos. O processo est em curso.
Alguns problemas da experincia da MNNP podem ser observa-
dos: o carter estatutrio do regime de trabalho do servidor, de natureza
unilateral
20
; a poltica do Governo de restrio oramentria, que re-
percute diretamente sobre as perspectivas profissionais e salariais dos
servidores pblicos; a total ausncia de sinais no sentido de que ser
desencadeado um processo de reforma da Reforma do Estado, que colo-
que em novas bases o papel do Estado e o futuro dos servidores pbli-
cos. As possibilidades da MNNP, por outro lado, dependem dos desdo-
bramentos do Frum Nacional do Trabalho.
fNT: aprcscntao gcraI
O encaminhamento da Reforma Trabalhista e Sindical vem seguin-
do uma via especial. Primeiro, beneficiou-se das contribuies produzi-
19. http.//www.slndprov-al.org.br/oxlblr_notlcla.asp:Cod~776
20. Sob osso roglmo, a sltuaao do unclonrlo publlco nao contratual, mas ostatutrla, ou
so|a, logal. lsso slgnllca dlzor quo o lodor lubllco nao az contrato com os unclonrlos, nom com
olos a|usta condlos do sorvlo o romunoraao (Molrollos, 1997).
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL S7
das, ainda em 2003, pelo CDES
21
. Segundo, compreendeu uma rodada
preliminar de 27 Conferncias Estaduais, realizadas em agosto. Tercei-
ro, antes de chegar ao Congresso Nacional, as discusses passaro por
um espao especial, o Frum Nacional do Trabalho.
Como primeira sinalizao, o Governo solicitou ao Congresso o ar-
quivamento do Projeto de Lei n 5.483, patrocinado pelo governo FHC,
que se encontrava parado no Senado.
O FNT foi lanado em julho de 2003, com o fim de tornar-se a grande
mesa de concertao nacional entre trabalhadores, empresrios e gover-
no, para pela via da negociao e no da imposio, atualizar a legislao
sindical e trabalhista
22
. Foi institudo com uma composio tripartite e
paritria, reunindo representantes do Governo, dos trabalhadores e dos
empregadores
23
.
Seus objetivos principais: democratizar as relaes de trabalho por meio
da adoo de um modelo de organizao sindical baseado em liberdade e autono-
mia; atualizar a legislao do trabalho, tornando-a mais compatvel com
as novas exigncias do desenvolvimento nacional; estimular o dilogo e o
tripartismo e assegurar a justia social no mbito das leis trabalhistas, da solu-
o de conflitos e das garantias sindicais
24
.
21. Lntro as rocomondaos prlnclpals, ostao. adotar a llbordado o autonomla slndlcal, com
baso na Convonao 87 da Cl1, garantlr a roprosontaao dos trabalhadoros nos locals do trabalho,
oxtlngulr a contrlbulao slndlcal obrlgatorla, substltulndo-as pola taxa assoclatlva, pola prostaao
do sorvlos aos lllados o pola contrlbulao nogoclal, os acordos colotlvos dovom abrangor todos os
trabalhadoros, dovo sor assogurado o mals amplo ospao do nogoclaao colotlva, com a posslblll-
dado do acordos naclonals, roglonals, ostaduals o locals, a loglslaao dovo lxar dlroltos unlvorsals
minlmos, a roorma trabalhlsta dovo sor procodlda pola roorma slndlcal.
(<http.//unky.macbbs.com.br/www.root/nt/>)
22. Lntao Mlnlstro do 1rabalho, }acquos Wagnor (http.//www.pt.org.br/slto/notlclas/
notlclas_lnt.asp:cod~13708)
23. |aocaJa Jos taoa||aJoes. Contral Unlca dos 1rabalhadoros, lora Slndlcal, Contral
Coral dos 1rabalhadoros, Contral Coral dos 1rabalhadoros do rasll, Soclal Domocracla Slndlcal,
Contral Autnoma dos 1rabalhadoros o Conodoraao Naclonal dos 1rabalhadoros da lndustrla.
|aocaJa Jos enes|os. Conodoraos Naclonals da lndustrla, do Comrclo, dos 1ransportos,
da Agrlcultura o das lnstltulos llnancolras o a lodoraao Naclonal das Assoclaos do ancos.
|aocaJa Jo Go.eoo. Mlnlstrlos do 1rabalho o Lmprogo, da Lducaao, da Saudo, do Molo Am-
blonto, da lazonda, do llano|amonto, da lrovldncla Soclal, da }ustla, Casa Clvll, Sorvlo Soclal
da lndustrla, Cmara do Doputados o }ustla do 1rabalho.
24. <http.//unky.macbbs.com.br/www.root/nt/.
S8 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Compreende uma Plenria com 72 membros: 21 representantes de
cada uma das trs bancadas principais mais 9 representantes de micro e
pequenas empresas, cooperativas e outras formas de trabalho, com igual
nmero de suplentes. O apoio tcnico est previsto atravs da Comis-
so Nacional de Direito e Relaes do Trabalho, composta por especia-
listas em questes trabalhistas.
Inclui, ainda, 8 Grupos Temticos, a saber: organizao sindical;
negociao coletiva; sistema de composio de conflitos individuais e
coletivos; legislao do trabalho; organizao administrativa e judici-
ria; normas administrativas sobre condies de trabalho; qualificao e
certificao profissional; micro e pequenas empresas, autogesto e in-
formalidade.
Comisso de Sistematizao, com 21 membros proporcionalmente
distribudos entre as bancadas, destinam-se as contribuies dos GTs,
das Conferncias Estaduais e da consultoria tcnica. Da, uma vez
reelaboradas, seguem para a Plenria do Frum. O produto final deve
ser encaminhado ao Congresso Nacional.
fNT: intcncs c pcrccpcs
Para o Governo, o Frum um espao indito de negociao na-
cional no seu lanamento, no toa, Lula o relacionou histria
recente do sindicalismo brasileiro e sua prpria histria, referenciados
que estiveram na luta pela democratizao do pas.
No entanto, ao mesmo tempo, o Governo sugere, como uma exi-
gncia contempornea, a necessidade de adequao da legislao tra-
balhista ao momento que ns vivemos, marcado pela crescente informali-
dade e, associado a isso, pela perda de representatividade dos sindica-
tos, propondo que a melhor soluo resultar da convivncia democrti-
ca entre trabalhadores e empresrios
O presidente adianta, nesse pronunciamento, que a modernizao
das relaes de trabalho passar pela adoo no pas do contrato coleti-
vo de trabalho, e cita a experincia da Mesa de Negociao dos Servido-
res Pblicos como um passo nessa direo. Contudo, recomenda que o
sindicalismo extrapole os limites do corporativismo, passando a encarar o
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL S9
trabalhador como um cidado, que tem direito a outras coisas, deixando
de fazer um discurso apenas contra o empregador. Antes de mais, pre-
ciso dar resposta questo do desemprego, uma responsabilidade conjun-
ta de trabalhadores e empresrios. A esses cabe discutir, desde a gerao
de postos de trabalho a direitos, que tm que ser mantidos. Outros tm que ser
reformulados. H tratamentos diferenciados entre empresas, em funo dos seus
tamanhos
25
.
O pronunciamento de Lula foi entendido por alguns como a defesa
sutil da flexibilizao das leis trabalhistas. O presidente da Associao
Nacional dos Magistrados da Justia do Trabalho, Grijalbo Coutinho,
presente ao evento, viu nessa afirmao a defesa da reduo de direitos
particularmente para trabalhadores de empresas pequenas
26
.
Jacques Wagner, na mesma cerimnia, tambm admite, de um lado,
que o Estado continua a interferir de maneira equivocada na organizao sin-
dical, na negociao coletiva e na soluo dos conflitos trabalhistas e, de ou-
tro, que na ltima dcada a poltica trabalhista pautou-se pela tentativa de
reduzir encargos e salrios, afrouxar normas de contratao e dispensar e
flexibilizar a jornada de trabalho, com resultados, no entanto, insignifi-
cantes na gerao de emprego. Mas tambm destaca a necessidade de
adequar as leis e instituies trabalhistas s novas exigncias do desenvolvi-
mento nacional e realidade contempornea do mundo do trabalho, sem que
resulte na precarizao dos direitos bsicos dos trabalhadores
27
. O ca-
minho para enfrentar tais desafios seria o da democratizao das relaes
de trabalho
28
.
A posio do Governo situa-se, contraditoriamente, entre os com-
promissos histricos do seu ncleo petista e sindicalista
29
, de um
lado, e os compromissos do programa que construiu com sua base alia-
25. <http.//unky.macbbs.com.br/wwwroot/nt/.
26. |o||a Je S. |au|o, Cadorno Dlnholro, Sao laulo. 30 |ul. 2003. p. 2.
27. http.//unky.macbbs.com.br/wwwroot/lN1/Apllcacoos/lndox.cm:usoactlon~
Notlcla.MostrarDotalhoNotlcla&ldNotlcla~214. Apos soror lnslnuaos do quo torla slnallzado a
avor da loxlblllzaao, Wagnor doclarou. Lssa hlpotoso nao oxlsto (http.//bancarloso.com.br/
roslstoncla/2003/05_15_2003/oguotlnho.html).
28. <http.//unky.macbbs.com.br/wwwroot/lN1/Apllcacoos/lndox.cm:usoactlon~
Notlcla.MostrarDotalhoNotlcla&ldNotlcla~214.
29. Consldoro-so quo, dos 21 mombros da bancada do Covorno no lorum, polo monos soto
sao ox-dlrlgontos ou ox-assossoros da CU1, dols dos quals ox-prosldontos.
60 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
da, de outro. Como estratgia principal de compatibilizao de tendn-
cias to conflitantes elegeu o dilogo social (particularmente no que
se refere Reforma Trabalhista e Sindical).
Quanto aos empresrios, desde o incio da dcada de 1990, tem
sido evidente sua posio amplamente favorvel flexibilizao da
legislao trabalhista. Justificam-se publicamente com o argumento de
que os encargos trabalhistas so elevados e favorecem a informalidade
do mercado.
No atual contexto, entretanto, o discurso empresarial tem sido mais
tolerante com a idia da contratao coletiva e mais cuidadoso na defesa
da flexibilizao. A Confederao Nacional da Indstria, por exem-
plo, por seu presidente, Armando Monteiro Netto, acusa uma disfun-
cionalidade no sistema de relaes de trabalho no pas. Ressalta as difi-
culdades que as empresas tm, ante a rigidez da legislao, de gerar novos em-
pregos e preservar os existentes. Defende a importncia do FNT e uma
nova modelagem para as relaes de trabalho, com garantia negociao
voluntria, dentro de um marco regulatrio bsico, no interventivo. E acres-
centa: Uma das vantagens da possibilidade de adaptao da legislao traba-
lhista realidade e s necessidades dos parceiros sociais empregadores e traba-
lhadores est, exatamente, na sua flexibilidade, no s porque possibilita o per-
manente e rpido ajuste dinmica das mutaes scio-econmicas, como tam-
bm atende s mltiplas peculiaridades e diferenas regionais, setoriais e em-
presariais do Pas
30
.
Com relao s Centrais Sindicais, h percepes diferenciadas so-
bre o tema da flexibilizao. Quando o Governo solicitou a retirada do
Congresso do Projeto de Lei n 5.483, a CUT assim se posicionou: No
somos contra reformas na CLT. Somos contra o projeto que est no Senado e
contra a flexibilizao de direitos histricos, como 13 salrio, licena materni-
dade, por exemplo. A Fora Sindical, por sua vez, apesar de ter apoiado a
iniciativa do governo FHC, disse no ser contra o engavetamento do
projeto de lei. Nas palavras de seu presidente, Paulinho: Se for para
reformular, estamos de acordo, mas o projeto como est no prejudica nenhum
trabalhador. A Social Democracia Sindical, que tambm apoiou o proje-
30. http.//www1.olha.uol.com.br/olha/brasll/ult96u53348.shtml.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 61
to de lei, afirmou, atravs do seu presidente, Enilson de Moura: O pro-
jeto era melhor que nada, mas era insuficiente
31
.
Entretanto, no novo cenrio, mesmo entre as Centrais que apoia-
ram as polticas de FHC, passa a prevalecer uma posio de maior resis-
tncia flexibilizao. Em nota conjunta, de maio de 2003, a CUT, a
FS, a CGT e a CGTB enalteceram a posio do ento Ministro Jaques
Wagner, sugerindo que ao Governo no interessava a flexibilizao
de direitos como 13 salrio, frias, licena-maternidade, fundo de ga-
rantia e outros.
Mesmo com tantas diferenas e divergncias, parece haver no FNT
uma percepo comum da necessidade premente de mudanas na legis-
lao trabalhista
32
. O problema em qual direo apontar. Se na era
FHC a posio pr-flexibilizao prevaleceu, isolando as posies seja
em favor de uma democratizao das relaes de trabalho, com desta-
que para a CUT, seja em favor da manuteno da CLT, como o fizeram
os segmentos mais tradicionais do sindicalismo; sob o Governo Lula,
tais presses (pela flexibilizao) continuam muito fortes, mas agora,
em um ambiente de dilogo social (particularmente quanto ao trato
da Reforma Sindical e Trabalhista), as possibilidades de cada posio
em disputa esto mais do que antes em aberto
33
.
Rcforma sindicaI: divcrgncias c conscnsos
Uma vez instalado o Frum, os debates iniciaram-se pela Reforma
Sindical (por proposio das Centrais e com o apoio do Governo). Com
31. |o||a Je S. |au|o, CaJeoo ||o|e|o. 4 |an. 2003, p. 2.
32. Na oplnlao do Mrclo lochmann, a roorma trabalhlsta ostratglca na construao do
um novo pro|oto naclonal do dosonvolvlmonto, asslm como o ol a CL1 om outro contoxto. No
ontanto, para quo lsso so|a possivol, proclso quo so lovo om conta o rasll roal. Cu so|a,
dovo-so consldorar quo a cada doz ocupados atualmonto somonto clnco sao assalarlados
(http.//www1.olha.uol.com.br/olha/brasll/ult96u53339.shtml).
33. Consldoro-so quo, aposar do quadro alnda advorso para os trabalhadoros, |amals as
poslos da CU1 om doosa do um slstoma domocrtlco do rolaos do trabalho tlvoram as
condlos atuals do dobato. alm da proprla oxlstncla do lorum, a CU1 bonolcla-so do uma
rolaao mals proxlma com o Covorno, tom a malor roprosontaao dontro as Contrals no lorum o,
nosto, coordona a bancada dos trabalhadoros.
62 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
isso, foram acionados primeiro os GTs de Organizao Sindical, Nego-
ciao Coletiva e Composio de Conflitos. Mas tambm j iniciaram
seus trabalhos os GTs Legislao do Trabalho e Micro e Pequenas Em-
presas, Auto-Gesto e Informalidade
34
.
Os resultados dos trs primeiros GTs j foram apreciados pela Co-
misso de Sistematizao e pela Plenria do Frum e esto sendo trans-
formados numa Proposta de Emenda Constitucional, a ser encaminha-
da pelo Executivo ao Congresso Nacional.
A seguir, identificamos por tema os pontos mais polmicos e os
consensos at agora construdos.
Ogao|zaao s|oJ|ca|
Partiu-se do entendimento comum de que cabe lei estabelecer as
atribuies e critrios de aferio de representatividade das entidades
sindicais, de empresrios e trabalhadores.
O propsito o de, com isso, inibir a proliferao e a pluralidade,
sem ferir a liberdade de organizao sindical. A proposta acordada bus-
cou encontrar uma soluo para a polarizao histrica entre a bandeira
da liberdade e autonomia sindical, de um lado, e o princpio vigente da
unicidade sindical.
As organizaes sindicais, de ambos os segmentos, sero reconhe-
cidas legalmente atravs do critrio da representao comprovada ou
da representao derivada. A primeira se baseia em critrios de repre-
sentatividade estabelecidos para cada nvel de organizao. A segunda
resulta da iniciativa de uma entidade sindical de nvel superior, de re-
presentao comprovada e que decida criar ou acolher uma entidade
sindical de nvel inferior, observados os critrios mnimos exigidos para
o seu reconhecimento.
O Sindicato, j existente, que tiver sua representatividade compro-
vada (e s neste caso) poder adquirir a exclusividade de representao
34. C crosclmonto da lnormalldado, como um onmono brasllolro o mundlal, asslm como
a prolloraao do oxporlnclas no campo do omproondodorlsmo solldrlo, constltuom uma dl-
monsao lndlsponsvol ao dobato sobro o uturo das rolaos do trabalho, o, por lsso, vom ocupan-
do corto ospao, so|a no lN1, so|a no CDLS.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 63
sindical, desde que, em Assemblia de sua base, adira s regras
estatutrias previstas na nova legislao. No havendo, em dada base
territorial, nenhum Sindicato com exclusividade de representao, po-
der existir mais de uma entidade (com representatividade comprova-
da e/ou derivada) nessa mesma base. Nesse caso, os estatutos de cada
uma sero definidos livremente por seus respectivos associados. Quan-
do da constituio de uma nova base de representao, poder existir
mais de um Sindicato, os quais devem passar a ser organizados por
ramo, e no mais por categoria.
As Centrais Sindicais, assim como as Confederaes e Federaes
independentes de trabalhadores, e as Confederaes, assim como as Fe-
deraes independentes de empregadores, tero que ser estruturadas a
partir de Sindicatos com representatividade comprovada. Uma vez cons-
titudas, cada uma poder formar, por meio de representao derivada
ou comprovada, estruturas prprias.
Para serem reconhecidas, essas organizaes superiores, em am-
bos os casos, tero que cumprir exigncias de representatividade (por
Estado, por setor econmico, entre outras). Quanto aos Sindicatos, s
sero reconhecidos com representao comprovada:
a) para os trabalhadores, quando a soma dos sindicalizados no
for inferior a 20% dos trabalhadores empregados de sua base de repre-
sentao;
b) para os empregadores, quando a soma do nmero de empresas
sindicalizadas, do capital social e dos empregados dessas empresas
no for inferior, respectivamente, a 20% da soma do nmero de em-
presas, do capital social e dos empregados da base de representao
do Sindicato.
Haver um perodo de transio, de 36 meses para os trabalhado-
res e de 60 meses para os empregadores, quando vigoraro critrios mais
tolerantes.
Quanto sustentao financeira, prevaleceu uma posio pr-ex-
tino gradativa das formas compulsrias de contribuio. Para ambos
os segmentos, foram definidas, alternativamente, duas fontes bsicas
de financiamento: a Contribuio Associativa (uma prerrogativa de toda
organizao sindical) e a Contribuio de Negociao Coletiva (deven-
do incidir sobre sindicalizados e no-sindicalizados). Os recursos arre-
64 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
cadados sero distribudos em propores fixadas em lei entre os diver-
sos graus de organizao sindical de cada segmento. De ambos, uma
parcela ser destinada ao Fundo Solidrio de Promoo Sindical.
Sobre a questo da organizao dos trabalhadores no local de tra-
balho, tida pela bancada dos trabalhadores como condio para haver
Reforma Sindical, no houve acordo. Para os empregadores, vale o que
consta no artigo 11 da Constituio, que prev a eleio de um represen-
tante nas empresas com mais de 200 empregados. Admitiram que, me-
diante negociao, nas menores, poderia ser eleito tambm um repre-
sentante, e, nas demais, podendo chegar a dois. Diante do impasse, a
deciso ficar para o Congresso Nacional.
Para gerir o novo sistema de relaes de trabalho, foi indicada a
criao de um Conselho Nacional de Relaes de Trabalho, de carter
tripartite e paritrio, com 15 membros titulares e 15 suplentes, com man-
datos institucionais. Ter a atribuio imediata de definir os ramos de
atividade econmica e os critrios de enquadramento das organizaes
sindicais; as normas estatutrias para os Sindicatos com exclusividade
de representao; suas prprias normas de funcionamento. Ter, em
carter permanente, a atribuio de propor diretrizes de polticas pbli-
cas e avaliar programas governamentais na rea das relaes de traba-
lho; estabelecer critrios para a utilizao dos recursos do Fundo Solid-
rio; propor critrios e dirimir dvidas sobre enquadramento sindical.
Sero constitudas, ainda, duas Cmaras Bipartites: uma formada por
representantes dos trabalhadores e do Governo e a outra, por represen-
tantes dos empregadores e do Governo, para atuarem em questes es-
pecficas de cada setor.
Negoc|aao co|et|.a
Mesmo sob marcadas diferenas, o debate sobre o tema da nego-
ciao coletiva convergiu para a proposta do contrato coletivo de traba-
lho, com seus instrumentos normativos gozando de reconhecimento
jurdico.
Conforme entendimento, a negociao coletiva deve ser compat-
vel com a organizao sindical e deve prever acordos nacionais, regio-
nais, interestaduais, estaduais, municipais, por empresa ou grupo de
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 6S
empresas. Os acordos firmados devero atingir a todos os trabalhadores
e empregadores das bases de representao das entidades sindicais en-
volvidas na negociao. As negociaes de nvel superior devero indi-
car as clusulas que no podem ser modificadas em nveis inferiores. Os
direitos definidos em lei so inegociveis.
Se houver mais de uma entidade sindical de trabalhadores e/ou de
empregadores na mesma base de representao, a composio das res-
pectivas bancadas de negociao dever ser proporcional representati-
vidade de cada uma.
As diretrizes definidas no Frum sero asseguradas aos servidores
pblicos, respeitando-se as especificidades do setor, que merecero re-
gulamentao apropriada
35
.
Conos|ao Je coo|||tos
Quanto a esse tema, partiu-se do entendimento comum de que os
meios de composio de conflitos coletivos devem ser pblicos ou pri-
vados, contemplando a conciliao, a mediao e a arbitragem.
Sobre o Poder Normativo da Justia do Trabalho, enquanto os em-
pregadores e Governo defenderam sua extino, os trabalhadores pro-
puseram sua reformulao. Prevaleceu a posio, ao final, de que, nos
conflitos de interesse, a Justia do Trabalho poder atuar como rbitro
pblico, por solicitao de ambas as partes. Por outro lado, vencidas as
etapas previstas sem soluo do conflito, entrar em cena a Arbitragem
Pblica Compulsria da Justia do Trabalho, sempre de acordo com os
princpios gerais de arbitragem e de regulamentao especfica.
Sobre o direito de greve, em geral preservou-se o que rege a Cons-
tituio Federal entretanto, com os empregadores buscando restrin-
gi-lo e os trabalhadores propondo ampli-lo. O ponto mais polmico
referiu-se delimitao dos chamados servios essenciais. Acordou-
se, ao final, que devem prevalecer os critrios da OIT: so essenciais
35. As quals sorao, lnlclalmonto, dlscutldas na | lnstalada Cmara Sotorlal do Sorvlo lubll-
co, onvolvondo roprosontantos do ontldados do sorvldoros publlcos o dos govornos odoral, osta-
dual o munlclpal. Cutras Cmaras Sotorlals sorao, lgualmonto, ormadas. 1rabalhadoros kurals,
Aposontados, lorturlos, Aquavlrlos, lrolsslonals Llborals o 1rabalhadoros do 1ransporto.
66 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
os servios cuja interrupo puser em risco a vida, a sade e a segurana
da populao. Nesses casos, as entidades sindicais, os empregadores e
os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante
a greve, a prestao dos servios tidos como indispensveis.
Aos grevistas devem ser assegurados os direitos de empregar meios
pacficos para aliciar os trabalhadores greve e de divulgar livremente o
movimento. Aos empregadores vedado praticar atos discriminatrios
contra os grevistas, bem como a contratao de trabalhadores substitutos.
Comcntrios finais
Os espaos aqui abordados so de natureza diversa. O CDES um
conselho consultivo do Presidente da Repblica. Apesar de contar com
uma representao expressiva dos segmentos mais influentes da socie-
dade brasileira, seus membros foram nominalmente escolhidos pelo Pre-
sidente. Tem como agenda principal formular contribuies sobre as Re-
formas pautadas pelo atual Governo.
O FNT um espao propriamente de negociao social. Seus
membros foram definidos pelas organizaes representativas de cada
segmento que lhe constitutivo. Foi criado para produzir consensos
sobre a Reforma Trabalhista e Sindical. No goza, no entanto, de poder
normativo. Suas definies, mesmo que construdas em bases consen-
suais, sero submetidas ao Congresso Nacional. Entretanto, desde que
as proposies que vem construindo sejam aprovadas no Parlamento,
tais como a adoo do contrato coletivo de trabalho e a criao do Con-
selho Nacional de Relaes de Trabalho, da resultar um poder de nor-
matizao das relaes de trabalho de carter tripartite, indito no pas.
A MNNP j um espao de negociao coletiva, constituda espe-
cificamente para tratar das relaes de trabalho no Servio Pblico Fede-
ral. , tambm, de carter indito. Sua efetivao, no entanto, depende
dos desdobramentos do FNT.
Diversos na sua constituio e atribuies, tais espaos tm em co-
mum o fato de estarem reportados s possibilidades da concertao so-
cial, enquanto procedimento social e institucional de tratamento dos con-
flitos sociais e dos desafios do momento atual. Resultam e circunscre-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 67
vem-se no contexto configurado com o governo Lula e suas contradi-
es. Sugerem a possibilidade (fortemente limitada, difcil) de se colocar
de uma outra maneira o debate pblico sobre temas essenciais ao pas,
em um momento de particular indeterminao
36
.
At o momento tm tido resultados importantes, em certos aspec-
tos, mas muito aqum do anunciado e/ou esperado, em outros. Todos,
ao serem institudos, s a j constituram situaes inditas, em se tra-
tando das tradies sociais e polticas do pas, e incomuns, ao se coloca-
rem na contramo das tendncias mundiais atuais
37
. Ao mesmo tempo,
em nenhum deles, at o momento, se produziu uma proposio crtica,
frente ao fio lgico que vem perpassando (inflexivelmente) a estratgia
programtica do novo Governo, particularmente no que se refere sua
poltica econmica.
O CDES apenas ensaiou, como vimos, na sua quarta Carta de
Concertao, uma ponderao manuteno das elevadas taxas de ju-
ros. No mais, particularmente quanto s suas propostas para as refor-
mas Previdenciria e Tributria, no produziu seno sinalizaes muito
prximas da direo ento apontada pelo Governo, afinadas por sua
vez com as expectativas do FMI.
O Frum ainda no tratou dos temas mais sensveis da Reforma
Sindical e Trabalhista, relacionados flexibilizao das relaes de tra-
balho. Mas, quanto aos temas j acordados, se aprovados no Congresso,
representaro inegveis avanos, particularmente com a instituio do
contrato coletivo, a legalizao das Centrais Sindicais, a organizao sin-
36. Nas palavras contundontos do lranclsco do Cllvolra, os votos dados a Lula conlguraram
um caloldoscoplo do protostos, promossas, posslbllldados, rustraos, lnsogurana, alta do horl-
zontos. Uma soma nogatlva, portanto, quo como tal nao so constltul om hogomonla, mas
aponas om vltorla ololtoral. C roorldo caloldoscoplo rosulta da lndotormlnaao produzlda
na ora lHC, quo, com as radlcals mudanas oporadas na proprlodado do capltal o a ostagnaao
oconmlca quo produzlu, dosartlculou sua proprla baso ololtoral. Sobrou uma onormo lndotor-
mlnaao na politlca, quo rosultou na vltorla do Lula. Lsto, a partlr do sou proprlo prostiglo, agora
tonta a ormaao do um consonso pola agrogaao do lntorossos do caloldoscoplo, o o quo mos-
tra a ausncla do hogomonla (http.//www1.olha.uol.com.br/olha/brasll/ult96u49179.shtml).
37. Santos (1999) so rooro a uma crlso do contrato soclal undanto da soclodado modorna,
om dotrlmonto do qual ostarla so lmpondo cada voz mals uma nova contratuallzaao, na vorda-
do, uma mora aparncla do compromlsso constltuido por condlos lmpostas som dlscussao ao
parcolro mals raco no contrato, condlos tao onorosas quanto lnoscapvols. um also contra-
to, um contrato loonlno (1999. 95-96).
68 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
dical por ramo de atividade econmica, o fim do Imposto Sindical, a
substituio da Unidade Sindical por um sistema de reconhecimento
sindical mais participativo e plural, a relativizao do Poder Normativo
da Justia do Trabalho, a ampliao do direito de greve. A dvida refere-
se questo da organizao dos trabalhadores no local de trabalho.
Do ponto de vista da defesa de um padro democrtico de relaes
de trabalho no pas, experincias como o CDES, a MNNP e, sobretudo, o
FNT, so espaos, antes de mais nada (mesmo que sob importantes li-
mitaes), de resistncia. Isso porque, se podem conter ou dificultar o
avano das reformas no sentido da flexibilizao das relaes de tra-
balho, a dinmica atual do capitalismo global j no permite um retorno
puro e simples a um padro baseado no compromisso fordista. Por ou-
tro lado, um novo contratualismo, considerando a nova situao global e
nacional, no foi ainda inventado. nisso que, em ltima instncia, cons-
titui o grande desafio.
Rcfcrncias bibIiogrficas
ALMLlDA, M. H. 1. do (1996). C|se ecooon|ca e |oteesses ogao|zaJos. O s|oJ|-
ca||sno oo |as|| Jos aoos 80. Sao laulo. Ldusp.
AN1ONlC DL CLlVLlkA, M. (2002). |o||t|ca taoa|||sta e e|aoes Je taoa||o oo
|as||. Ja ea vagas ao go.eoo ||C. 1oso (Doutorado om Lconomla)
lnstltuto do Lconomla, Unlcamp, Camplnas.
CUkDlLU, l. (1998). Coota|ogos. !t|cas aa eo|eota a |o.asao oeo||oea|. klo
do }anolro. Zahar.
kASlL. lkLSlDLNClA DA kLlULlCA. lrlmolra Carta do Concortaao. rasilla.
2003a (http.//www.prosldoncla.gov.br/cdos/)
______. Sogunda Carta do Concortaao. rasilla. 2003b (http.//www.prosldoncla.gov.br/
cdos/)
______. 1orcolra Carta do Concortaao. rasilla. 2003c (http.//www.prosldoncla.gov.br/
cdos/)
______. Quarta Carta do Concortaao. rasilla. 2003d (http.//www.prosldoncla.gov.br/
cdos/)
______. Qulnta Carta do Concortaao. rasilla. 2003o (http.//www.prosldoncla.gov.br/
cdos/)
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 69
______. Soxta Carta do Concortaao. rasilla. 2003 (http.//www.prosldoncla.gov.br/
cdos/)
CAS1LL, k. (1998). ^s netano|oses Ja questao soc|a|. una coo|ca Jo sa||o.
lotropolls. Vozos.
DlkCLU, }. Dlscurso do Mlnlstro }os Dlrcou, Choo da Casa Clvll da lrosldncla
da kopubllca, na Corlmnla do 1ransmlssao do Cargo. rasilla, |anolro do
2003 (www.prosldoncla.gov.br/casaclvll/slto/statlc/pronunclamontos.htm)
lALLlkCS, V. do l. (2003). A roorma do Lstado no poriodo lHC o as propostas do
govorno Lula. ln. lALLlkCS, V. do l. et a|. (orgs.). ^ ea ||C e o go.eoo
|u|a. !aos|ao:. rasilla. lnosc.
CLNkC, 1. koormas o pro|oto naclonal. }ornal Zeo |oa, lorto Alogro, 09 do
ovorolro do 2003, p. A2.
CCkZ, A. (1998). \|se|as Je| eseote, |queza Je |o os|o|e. uonos Alros. laldos.
HALkMAS, }. (1992). !|e !|eoj o| Connuo|cat|.e ^ct|oo (!|e C|t|que o|
|uoct|ooa||st keasoo/. v. ll. London. lollty lross.
HAkVL, D. (1992). CooJ|ao s-noJeoa. Sao laulo. Loyola.
KkLlN, }. D. (2002). O ao|uoJaneoto Ja ||e\|o|||zaao Jas e|aoes Je taoa||o
oo |as||. Dlssortaao (Mostrado om Lconomla) lnstltuto do Lconomla,
Unlcamp, Camplnas.
MLlkLLLLS, H. L. (1997). ||e|to aJn|o|stat|.o oas||e|o. Sao laulo. Malholros.
CDCNNLLL, C. (1988). Hlatos, lnstltulos o lorspoctlvas Domocrtlcas. ln.
CDCNNLLL, C. o kLlS, l. W. (orgs.). |enocac|a oo |as||. |||enas e es-
ect|.as. Sao laulo. Vrtlco.
CllL, C. (1989). 1rabalho. a catogorla-chavo da Soclologla:. ke.|sta |as||e|a Je
C|eoc|as Soc|a|s, Sao laulo, n. 10, |unho.
CLlVLlkA, l. do (1998). Os J|e|tos Jo aot|.a|o. a ecooon|a o||t|ca Ja |egeno-
o|a |ne|e|ta. lotropolls. Vozos.
______. (1999). lrlvatlzaao do publlco, dostltulao da ala o anulaao da politl-
ca. o totalltarlsmo noollboral. ln. CLlVLlkA, l. do o lACLl, M. C. (orgs.). Os
seot|Jos Ja Jenocac|a. o||t|cas Jo J|sseoso e |egenoo|a g|ooa|. lotropolls,
Vozos.
CLlVLlkA, l. et a|. (1993). Quanto molhor, molhor. o acordo das montadoras.
No.os |stuJos Ceoa. Sao laulo. Cobrap, n. 36, |ulho.
klZLK, C. (1998). A grovo dos potrololros. |aga. estuJos na\|stas, o. 6, Sao
laulo, Hucltoc.
70 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
SlLVA, L. l. L.. Unlao polo rasll. Lula doondo unlao por um rasll mals |usto.
rasilla, outubro do 2002 (http.//www.lula.org.br/notlclas/homo_notlclas.asp).
SAN1CS, . do S. (1998). lartlclpatory udgotlng ln lorto Alogro. 1oward a
kodlstrlbutlvo Domocracy. |o||t|cs aoJ Soc|etj, n. 26 Stonoham, Sago
lubllcatlons.
______. (1999). kolnvontar a domocracla. ontro o pr-contratuallsmo o o pos-
contratuallsmo. ln. CLlVLlkA, l. do o lACLl, M. C. (orgs.). Os seot|Jos Ja
Jenocac|a. o||t|cas Jo J|sseoso e |egenoo|a g|ooa|. lotropolls, Vozos, Sao
laulo, Nodlc.
1CLLDC, L. C. (1997). La loxlbllldad dol traba|o on Amrlca Latlna. ke.|sta
|at|oo ^ne|caoa Je |stuJ|os Je| !aoao, Sao laulo, ano 3, n. 5.
71
3
Dllogo Soclal.
Notas do roloxao a partlr da oxporlncla
ouropola o portuguosa'
^oto|o Cas|n|o |ee|a
lntroduo
O presente texto procura colocar algumas questes a propsito do
dilogo social e da negociao de pactos sociais. O dilogo social
perspectivado enquanto elemento constitutivo dos sistemas democrti-
cos nesta reflexo interpelado atendendo-se ao quadro de referncia
emergente das orientaes da OIT e da Unio Europeia, bem como
experincia portuguesa de concertao social. O captulo estrutura-se
em torno de trs tpicos. No primeiro, elaboro uma sntese das diferen-
tes fases do dilogo e da concertao social, desde os anos 60, na Euro-
pa. A marca do modelo social europeu configura-se neste articulado como
um aspecto a realar. Em segundo lugar, a experincia portuguesa per-
mite identificar alguns dos aspectos que podem constranger a aplicao
e a efectividade das matrias contratualizadas atravs da concertao
' Na olaboraao dosto toxto, agradoo a colaboraao prostada por 1orosa Manoca Llma,
asslstonto do lnvostlgaao do Contro do Lstudos Soclals.
72 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
social. Finalmente, concluo com um conjunto de observaes a propsi-
to dos desafios que se colocam ao princpio do dilogo social enquanto
forma de regulao nas sociedades contemporneas.
1. As fascs do diIogo c da conccrtao sociaI na Iuropa
dcsdc os anos 60: brcvc sntcsc
possvel reconhecer trs tipos ideais da concretizao do princ-
pio associativo e do dilogo social coincidentes com trs fases marcan-
tes das relaes de trabalho:
1
(1) a negociao colectiva, nos anos 60,
herdeiro da consolidao e institucionalizao dos sistemas de relaes
laborais, construdos no perodo do ps-guerra; (2) a transio dos siste-
mas de relaes laborais fordistas para os ps-fordistas, acompanhada
pelos processos de expanso e de esgotamento da macro-concertao,
nos anos 70 e 80; (3) e o do regresso do dilogo social de geometria
varivel aos nveis macro, meso e micro, concomitante promoo do
dilogo social supranacional e nacional, induzido, proactivamente, pela
Unio Europeia, desde os encontros de Val Duchesse, em 1985, e pela
actividade programtica da OIT, nos anos 80 e 90 (Crouch, 1999; Fajertag
e Pochet, 1997; Ferreira, 2003; Regini, 1992, 1997; Regalia e Regini 1998;
Regini e Esping-Andersen, 2000).
Os anos 70 so, em regra, caracterizados do ponto de vista laboral,
como o perodo em que se assistiu emergncia das formas de regula-
o macronacionais e das polticas de concertao. Quer seja como for-
ma de gerir a crise conjuntural, como forma de assegurar a governabili-
dade das relaes capital/trabalho ou, ainda, como evoluo natural
do processo de institucionalizao dos conflitos laborais, a intermedia-
o de interesses e o dilogo social desempenharam um importante pa-
pel na regulao social. O declnio desta forma de macroregulao, nos
anos 80, normalmente interpretado como estando associado s ten-
dncias de desregulamentao e flexibilizao das relaes laborais, num
contexto de transio do paradigma fordista para o ps-fordista. Para
1. lara uma dlscussao om torno do prlnciplo assoclatlvo ou do dllogo soclal onquanto orma
do rogulaao das rolaos soclals consultar lorrolra, 2003.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 73
isso contriburam vrios factores, entre os quais podem salientar-se: a) a
incapacidade de enfrentar os dilemas colocados pela flexibilizao de
facto das relaes laborais, a emergncia de mltiplas formas de presta-
o do trabalho, a excluso social e a segmentao do mercado de traba-
lho; b) a evoluo das estratgias quer das empresas, quer dos sindica-
tos, perante os desafios da competitividade e do mercado de trabalho,
tornando inadequada a produo de regras uniformes a nvel nacional;
c) a crise da empresa fordista; d) a perda de influncia dos sindicatos
tradicionais e a deslocao das negociaes para o quadro da empresa;
e) a incapacidade da concertao influenciar os nveis e os sistemas de
proteco social.
Perante este quadro, no faltou quem o interpretasse como o fim
da concertao social. Para outros, porm, assistia-se, apenas, ao pre-
nncio de uma ruptura com o paradigma clssico da macro-concertao,
considerado exausto, impondo-se, assim, uma evoluo direccionada
para frmulas novas e mais geis de meso e micro concertao (cf.
Williamson, 1989: 144-167), intimamente associadas s condies con-
cretas e especficas de cada empresa ou de cada sector de actividade,
mantendo-se todavia as polticas macro-concertativas, centradas nas
polticas de rendimentos e preos, pois as mesmas continuavam a ser
consideradas como as mais ajustadas regulao das questes econ-
micas e sociais. Na verdade, mesmo fora de contextos de crise, no dei-
xava de existir um conjunto de domnios em que a formao de consen-
sos entre os parceiros sociais se mantinha necessria, de que so exem-
plos a reforma do Estado-Providncia problema que excede os limi-
tes do mdio prazo , as polticas activas de emprego, a formao pro-
fissional, a certificao profissional, entre outros.
neste contexto que, no incio dos anos 90, se assiste, em diversos
pases, a um retorno do dilogo social que se traduziu na negociao
de pactos entre os parceiros sociais. De entre as tentativas que visaram a
concluso de macro-acordos so de destacar, em 1992/93, os casos da
Blgica, Itlia, Espanha e Irlanda. Em 1995/1996 e 2001, Portugal, Fin-
lndia, Alemanha, Blgica, Itlia e a Espanha, constituem outros tantos
exemplos de renovao da concertao social.
As razes mais significativas que podem justificar o retorno
negociao de pactos sociais, prendem-se com o processo de integrao
74 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
europeia, com a globalizao e a mundializao e com a introduo de
tecnologias de informao; entre as questes associadas aos critrios de
convergncia e ao ajustamento estrutural constantes desses acordos, so
de destacar o controlo do dfice pblico, o controlo da inflao, a distri-
buio de ganhos de produtividade, a moderao salarial e a reduo do
desemprego. Nalguns casos, operaram-se, mesmo, importantes refor-
mas no domnio da segurana social, da negociao colectiva, das for-
mas de resoluo extrajudicial de conflitos laborais, do trabalho a tempo
parcial, da formao profissional, etc.
Merc do processo de integrao europeia, da necessidade de con-
vergncia econmica e social, das necessidades de reforma da seguran-
a social e dos problemas colocados pela globalizao e competitivida-
de, os pactos sociais ultrapassaram a mera negociao salarial ou de
controlo da inflao e procuram, hoje em dia, compatibilizar polticas
sociais com polticas econmicas. O Modelo Social Europeu e a tradio
dos pactos na Europa assenta nesta matriz. Devemos, no entanto, assi-
nalar casos como o do Pacto da Moncloa, que est directamente ligado
aos processos de transio e consolidao para a Democracia, e neste
sentido configura uma situao de pacto poltico-social ou cvico de sen-
tido amplo. Em certo sentido, existe uma correlao entre os processos
de transio e de consolidao da Democracia e a criao de condies
para a negociao de pactos, que no entanto, podem assumir um carcter
restrito, como sucedeu em Portugal nos anos 80, onde a negociao incidia
sobre questes econmicas e salariais.
Nos restante pases da UE com tradio de concertao as negocia-
es desenvolveram-se no quadro de democracias consolidadas, o que
configura uma situao diversa daquela que referi anteriormente, que
surge como excntrica por relao aos pases centrais.
2
Hoje em dia a formao do dilogo social e da concertao torna-se
num exerccio cada vez mais difcil na medida em que a ideologia neoli-
beral a desencoraja. Acresce ainda o facto da economia global, marcada
2. Sogundo Auvorgnon (2000) oxlstom dols tlpos do pactos soclals. 1) pactos roallzados aquando
a translao para a domocracla (do quo sao oxomplo, nos anos 70, lortugal, Crcla o Lspanha), 2)
o outro tlpo do pacto soclal o pacto quo so ostaboloco por razos oconomlcas, do lntograao
oconomlca ou do provonao dos ooltos da Unlao Monotrla, quo os paisos ouropous tm onron-
tado nos ultlmos anos.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 7S
pela grande mobilidade do capital financeiro e pela grande deslocao
da produo, concorrer para a dissociao entre empresas e economias
nacionais. Deste modo a internacionalizao e a competitividade em-
presariais afastam-se das formas de regulao de base nacional como
a concertao social e a negociao colectiva. A articulao entre a
concertao social e as estruturas de negociao colectiva e os sistemas
de coordenao laboral, emergentes dos sistemas de relaes laborais
nacionais, so deste modo postos em causa pelos processos de globali-
zao neoliberal. No entanto,
e de acordo com Crouch (2000), Pactos
Sociais so acordos tcnicos sobre os nveis de crescimento dos salrios
e as mudanas nas prticas de emprego necessrios para manter a com-
petitividade externa, sendo executados quer a nvel nacional, quer a n-
vel sectorial (Crouch, 2000: 29). Os governos e seus governantes tero
um papel importante a desempenhar na formao dos pactos sociais,
nomeadamente no que diz respeito Unio Econmica e Monetria
(UEM) (idem: 30). Existem, por isso, inmeras razes para os governos
e os parceiros sociais, especialmente os sindicatos, continuarem a pro-
curar pactos sociais ao nvel nacional, destacando-se a relao entre ca-
pital e trabalho, baseada na partilha dos riscos e das responsabilidades,
o que poder possibilitar a produo de uma nova sntese entre o desejo
dos trabalhadores pela segurana e as necessidades da economia por
flexibilidade (idem: 36-37).
2. O diIogo sociaI cnquanto quadro dc rcfcrncia: a OlT c a UI
Ao nvel transnacional o dilogo social assume crescente impor-
tncia. Vejamos o caso da OIT. Para alm de ser inerente sua constitui-
o possvel identificar quatro vectores estruturantes do dilogo social
a partir da OIT. Um vector organizacional, que se encontra associado ao
tripartismo, como metodologia do processo de tomada de deciso desta
organizao. Um vector metodolgico, associado ao modo de produo
e aplicao da normatividade, expresso nos textos das convenes, que
referem sempre a audio e consulta dos parceiros sociais e a insistncia
com que programaticamente a OIT tem procurado expandir o dilogo
social atravs de programas de apoio. Um vector normativo, assente na
Conveno 144, de 1976, sobre a consulta tripartida. Finalmente, um
76 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
vector doutrinrio e programtico emergente do relatrio Um Trabalho
Decente, do Director Geral da OIT, apresentado em 1999, onde se identi-
fica o dilogo social como um dos objectivos estratgicos desta organi-
zao.
No espao da Unio Europeia e para alm do papel desempenhado
pelo Comit Econmico e Social, desde 1957, importa referir, como prin-
cipais momentos de promoo do dilogo social, a convocao da I Ci-
meira de Val Duchesse, em 1985, reunindo os trs principais parceiros
sociais ao nvel comunitrio (Unice, CES, CEEP) no mbito do dilogo
social. A partir desta primeira reunio, o dilogo social, ao nvel comu-
nitrio, foi exercendo um efeito de mobilizao e de envolvimento dos
parceiros sociais. Em 1989, na Cimeira Palais dEgmont II, foi iniciado um
novo perodo do dilogo social. Nesta reunio evidenciaram-se dois as-
pectos essenciais: (1) os parceiros sociais reafirmaram a vontade de pros-
seguir o dilogo social ao nvel comunitrio e de tornar os seus resulta-
dos mais perceptveis nos Estados-membros; (2) a necessidade de reflectir
nos desenvolvimentos do dilogo social e de encontrar um equilbrio
entre os modos legislativos e convencionais de regulamentao social.
Uma tal evoluo teria a vantagem de permitir a construo da
Europa social, no respeito pela autonomia dos parceiros sociais, e teria
em conta as especificidades dos sistemas nacionais de relaes profis-
sionais. Foi decidido reforar as estruturas do dilogo social atravs da
criao de um grupo de pilotagem, ao nvel poltico, encarregado de dar
um impulso permanente ao dilogo social. Finalmente, aps a assinatu-
ra do Tratado de Maastricht e no mbito da construo do modelo social
europeu, o dilogo social tornou-se fundamental, enquanto metodolo-
gia de negociao e de obteno de resultados necessrios consolida-
o da dimenso social da Unio Europeia. Ele encontra-se em estreita
articulao com o processo de criao de um sistema de relaes labo-
rais de nvel europeu, cujos prenncios se reconhecem nas palavras de
Jacques Delors, em 1986, para quando uma negociao colectiva de
nvel europeu? e mais recentemente com a criao da figura dos Con-
selhos de Empresa Europeus e a aprovao das directivas relativas
informao e consulta dos trabalhadores e Sociedade Europeia do Tra-
balho. Por outro lado, o dilogo social elemento imprescindvel do
designado mtodo de coordenao aberta estabilizado a partir da Ci-
meira de Lisboa (Rhodes e Molina, 2002).
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 77
O mtodo de coordenao aberta no quadro do modelo social euro-
peu deve ser perspectivado como elemento constitutivo da mudana
dos paradigmas de regulao poltica, nomeadamente, enquanto exem-
plo das novas formas de governao. Estas, no mbito do modelo social
europeu, podem assumir modalidades muito diversificadas como se-
jam a dos Planos Nacionais para o Emprego, Planos Nacionais para a
Incluso, Planos Nacionais para a Igualdade, descentralizao e coorde-
nao da negociao colectiva e participao em novas modalidades de
produo legislativa (Rhodes, 2003).
neste sentido que o mais recente impulso conferido ao dilogo
social, no seio da Unio Europeia, se reconhece em quatro documentos
fundamentais para a discusso em torno da sua centralidade, enquanto
modelo regulatrio. O primeiro, o Livro Branco sobre a Governana
Europeia (2001), onde se sublinha a importncia dos parceiros sociais no
seio da sociedade civil e as virtualidades das formas de co-regulao e
do mtodo de coordenao aberto. O segundo, o relatrio apresen-
tado em Fevereiro de 2002 pelo Grupo de Alto Nvel sobre as Relaes Labo-
rais no Contexto da Mudana, onde se reala a importncia do contributo
do dilogo social no mbito dos sistemas de relaes laborais para a
boa governana, definida como a forma como as sociedades se orga-
nizam e regulam com o objectivo de fazer e implementar escolhas. O
terceiro, a Comunicao da Comisso O dilogo social europeu, fora
de modernizao e mudana, de Junho de 2002, onde se insiste na ideia de
dilogo social enquanto instrumento-chave de uma governana me-
lhorada numa Unio alargada e motor de reformas econmicas e so-
ciais (2002: 4). Na comunicao destaca-se que o dilogo social e a
qualidade das relaes laborais esto no cerne do modelo social euro-
peu e identificam-se trs grandes reas em que o seu concurso funda-
mental: (1) o dilogo social uma fora motora das reformas econmi-
cas e sociais (...), as negociaes entre os parceiros sociais constituem a
forma mais adequada de avanar nas questes da modernizao e da
gesto da mudana; (2) uma governana melhorada numa Unio
alargada pressupe a participao de todos os intervenientes na toma-
da de decises e no processo de execuo. Os parceiros sociais ocupam
uma posio privilegiada na sociedade civil, na medida em que esto
particularmente bem colocados para tratar as grandes questes do mun-
do do trabalho e negociar acordos e compromissos; (3) preparar o alar-
78 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
gamento, incentivando o dilogo social nos pases candidatos. O quarto
documento a proposta de Deciso do Conselho que institui uma Ci-
meira Social Tripartida para o Crescimento e para o Emprego (26.6.2002). No
artigo 2 da referida Deciso estabelece-se o mandato da mesma: A ci-
meira tem por misso assegurar, de modo permanente, no respeito pe-
los Tratados e pelas competncias das instituies e dos rgos da Co-
munidade Europeia, a concertao entre o Conselho, a Comisso e os
parceiros sociais, com vista a permitir que os parceiros sociais contri-
buam, a partir do dilogo social, para as diferentes vertentes da estrat-
gia econmica e social integrada.
Os efeitos recentes da aco poltica da Unio Europeia a nvel so-
cial tem alimentado as discusses sobre os modelos de governao
europeia. A capacidade do modelo social europeu se defender perante
os processos de transformao e de crise por que passam as sociedades
actuais obriga a um exerccio de reflexo que co-envolve as dimenses
nacionais, europeia e globais. No prprio seio da Unio Europeia se iden-
tifica a tenso poltica existente entre os que esto mais preocupados
com a consolidao poltico-institucional, cuja a agenda poltica passa
por questes como o da futura Constituio Europeia, poltica de defe-
sa, consequncias da imigrao, harmonizao do espao judicial euro-
peu, consequncias do alargamento, etc. (os falces), e aqueles que pug-
nam pela defesa do modelo social europeu enquanto trao distintivo da
Unio Europeia e dos Estados-membros, partindo da ideia de que im-
prescindvel criar condies de sustentabilidade social, sem as quais se
torna intangvel o objectivo central dos sistemas democrticos, que o
de promover maior justia social (as pombas).
Existe por isso uma relao estreita entre a discusso do contrato
social da modernidade, a crise do contrato social e a discusso dos pac-
tos sociais. Se dos pactos e do dilogo social resultar uma combinao
virtuosa entre polticas econmicas e polticas sociais, eles podero con-
tribuir para o aprofundamento da democracia. Assim, a discusso sobre
o pacto social implica a discusso sobre o tipo de sociedade que quere-
mos desenvolver: uma sociedade submetida ao princpio do mercado e
lgica financeira, correndo o risco de incrementar dualizao dos mer-
cados de trabalho, a excluso social e de desintegrao cultural; ou pros-
seguir o desenvolvimento da solidariedade social e do aprofundamento
da cidadania.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 79
por isso que o significado clssico do pacto social assente na
compatibilizao de interesses organizados essencialmente a partir das
relaes laborais, ou da histrica questo operria (ainda que
metamorfoseada), est em mutao. Mais do que nunca esto agora em
causa os mecanismos de coeso e de integrao sociais e o questiona-
mento dos fundamentos da cidadania poltica e da democracia. Na Fi-
gura 1, identifico os quatro vectores poltico-sociais a partir dos quais se
estruturam as dinmicas societais que concorrem para uma concepo
ampla do papel e funes desempenhados pelos pactos e dilogo social
no contexto das sociedades democrticas.
figura 1. Voctoros Dlnmlcos dos pactos o do dllogo soclal
Lstabllldado soclal
kogulaao oconomlco-lnancolra
koorma do Lstado-lrovldncla kogulaao das rolaos laborals
Noutro local (Ferreira, 2003) justifico e apresento a lgica terico-
analtica que est subjacente a esta abordagem dos pactos e do dilogo
social. Sublinho, no entanto, que ela assenta em trs princpios: o pri-
meiro, o de que a regulao das sociedades contemporneas conjuga
em graus e modalidades diversas formas de regulao poltica,
econmica, social, cultural e jurdico-normativa; o segundo, o de que
cada um dos elementos dinmicos dos pactos e do dilogo social por si
s se revela incapaz de promover o dilogo social; por fim, o terceiro,
o de que os vectores se relacionam segundo uma lgica de autonomia e
de inter-relao. Os desafios e as reformas que podem estar na origem
80 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
da reinveno do pacto e do dilogo social, e o equilbrio entre as formas
de risco/confiana a que podem dar origem, podem ser conceptualizados
a partir do modelo anterior.
A cxpcrincia portugucsa dc conccrtao sociaI: cnquadramcnto
institucionaI c paradigmas ncgociais
A institucionalizao da concertao social em Portugal, de um pon-
to de vista organizativo, marcada por dois momentos. O primeiro ini-
cia-se com a publicao do Decreto-lei 74/84, de 02 de Maro, relativo
criao do Conselho Permanente de Concertao Social. Na nota
preambular, do referido diploma, alude-se relevncia das prticas de
concertao em situaes de crise econmica e social e necessidade de
coordenao de esforos entre o Estado, trabalhadores e empregadores.
A composio do Conselho ficou legalmente estabelecida de modo
rigorosamente tripartida: 6 membros do Governo; 6 representantes das
Confederaes Patronais (CAP-2, CIP-2 e CCP-2); 6 representantes das
Confederaes Sindicais (UGT-3 e CGTP-3).
Inicialmente, tanto as Confederaes Patronais como as Centrais
Sindicais entenderam que o peso do Governo, em termos estatutrios,
no era excessivo, atendendo ao bloqueio do dilogo entre associaes
patronais e sindicais, ao peso do governo nas decises polticas (Unio
Geral dos Trabalhadores, UGT); ao carcter tripartido do conselho (Con-
federao geral dos Trabalhadores Portugueses, CGTP); ao papel mo-
derador do Estado na jovem democracia portuguesa (CAP); ao carcter
rigorosamente tripartido (CIP); ao dilogo s ser possvel tripartido
(CCP). Sublinhe-se, no entanto, que, aps quatro anos de funcionamen-
to, a generalidade dos parceiros sociais admitia que existiam dificul-
dades na produo de um verdadeiro equilbrio e criticavam a excessiva
governamentalizao do CPCS. Crtica mantida at aos dias de hoje. Os
parceiros sociais vm, ento, apontar o grande peso do Governo nas
decises do Conselho e as dificuldades de ele se comportar como um
verdadeiro rbitro.
O segundo est associado criao do Conselho Econmico e So-
cial (CES) no mbito da segunda reviso constitucional, em 1989. Na
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 81
base da proposta da sua criao estava a inteno de reunir num nico
rgo as funes do anterior Conselho Nacional do Plano, do Conselho
dos Rendimentos e Preos e, embora de uma forma menos clara, do
Conselho Permanente da Concertao Social (CPCS). Foi definido como
sendo o rgo de consulta e concertao no domnio das polticas
econmica e social, participando igualmente na elaborao dos planos
de desenvolvimento econmico e social. Verificou-se um alargamento
dos interesses representados, incluindo-se, para alm dos parceiros so-
ciais, representantes de outras actividades econmicas e sociais, das re-
gies autnomas e das autarquias locais, etc.
A questo de fundo, ento colocada, foi a de saber se se deveria
agrupar a concertao econmica com a social no mesmo rgo ou se os
dois tipos de concertao deveriam manter-se, organicamente, indepen-
dentes, sendo que ficaramos com uma concertao social em sentido
puro, no CPCS e com uma concertao econmica e, apenas margi-
nalmente social (com mistura ou mesmo preponderncia da mera con-
sulta), no CES. Note-se que mesmo as tendncias integradoras de todas
as funes no mesmo rgo no deixavam de reconhecer a necessidade
de se conceder grande autonomia a uma comisso especializada que,
dentro do CES, passasse a deter os poderes do CPCS. No figurino insti-
tucional consagrado, embora mantendo-se a estrutura do CES, foi atri-
buda uma quase total autonomia Comisso de Concertao Social.
Manteve-se a estrutura de representao do Estado, dos trabalhadores e
dos empregadores. No entanto, ao contrrio do que sucede com as res-
tantes comisses especializadas, as suas deliberaes no carecem de
aprovao pelo plenrio (Art. 9, n. 5, do DL 108/91 de 17 de Agosto).
Sem prejuzo de se reconhecer a especificidade e a autonomia de que
goza a Comisso Permanente de Concertao Social, pode considerar-se
que o Conselho Econmico e Social constitui um exemplo de uma
concertao em sentido amplo (misto de consulta e concertao), larga-
mente aberto em matria de funes e de composio muito alargada.
A experincia portuguesa dos pactos e da concertao social deve
ser enquadrada no contexto das dinmicas e transformaes verificadas
na sociedade portuguesa e no sistema de relaes laborais, depois de
1974. A este propsito identifico trs factores constrangedores dos mo-
delos e das prticas de concertao social.
82 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
O primeiro reporta-se aos processos de transio e consolidao
para a democracia. A experincia anterior institucionalizao da
concertao social foi basicamente afectada pelo bloqueio nas relaes entre
sindicatos e associaes patronais, resumindo-se o dilogo scio-laboral
contratao colectiva. Atendendo inadequao do perfil sociolgico
dos parceiros sociais para a realizao de pactos sociais, o Estado de-
sempenhou um papel activo na criao de uma sociedade civil secun-
dria. Nesse sentido, utilizou a sua capacidade reguladora quer para
criar espaos de actividade econmica e social privada, de modo a trans-
formar o capital num parceiro social, quer incentivando a diviso do
movimento sindical em duas centrais sindicais, na expectativa de que
uma delas teria o perfil adequado para a participao nos pactos.
O segundo relaciona-se com a situao de pluralismo sindical e pa-
tronal, emergente do sistema de representao de interesses. Identifi-
cam-se, neste sentido, trs modelos sindicais. O primeiro constitudo
por sindicatos profissionais, independentes, que recusam a pertena a
qualquer uma das confederaes sindicais e seguem uma prtica reivin-
dicativa centrada nos interesses profissionais dos seus associados. O
segundo representado pela CGTP-IN, segue uma prtica reivindicativa
classificada como sindicalismo de classe. O terceiro protagonizado pela
UGT, identificado como um sindicalismo de negociao e de concertao.
O associativismo patronal e empresarial traduz tambm situaes de
clivagem entre associaes empresariais, preocupadas com a represen-
tao dos interesses econmicos dos empresrios, e associaes patro-
nais, preocupadas com a representao dos interesses sociais dos em-
presrios, nomeadamente, com a negociao colectiva e a concertao
social. Registe-se tambm a existncia de um conjunto muito significati-
vo de organizaes patronais que no se encontram filiadas em nenhu-
ma das confederaes. Deste modo, o sistema de representao de inte-
resses de trabalhadores e empregadores surge com um carcter algo ins-
tvel e concorrencial, marcado pelos compromissos conjunturais e sus-
citando inmeras dvidas quanto ao seu grau de representatividade.
O terceiro encontra-se associado situao econmica e adeso
de Portugal Unio Europeia (1986). O perodo entre 1982 e 1986 carac-
teriza-se pelo avolumar da situao de crise econmica traduzida nas
elevadas taxas de inflao e de desemprego. As polticas de austerida-
de, a diminuio do peso dos trabalhadores na distribuio do rendi-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 83
mento nacional, as descidas dos salrios reais, os salrios em atraso e os
despedimentos so alguns dos muitos indcios da situao de crise
econmica que se encontrava associada criao do Conselho Perma-
nente de Concertao Social. A adeso de Portugal Unio Europeia
obrigou aceitao de compromissos envolvendo trabalhadores e em-
pregadores, sendo notria a diminuio do nmero de greves neste pe-
rodo. Assim, a integrao na Unio Europeia concorreu favoravelmen-
te para a implementao de prticas de concertao social.
Do ponto de vista histrico a experincia da concertao social em
Portugal pode dividir-se em dois momentos: um primeiro momento,
situado at meados da dcada de 80, pautado pelo insucesso quer da
institucionalizao, quer da negociao de polticas concertativas; e um
segundo momento, mais rico e problemtico, onde se reconhecem ten-
dncias diferenciadas da autonomia dos parceiros sociais, das metodo-
logias e resultados do dilogo social.
No que diz respeito ao contedo e modelos de negociao decor-
rentes da concertao social possvel identificar trs fases. A primeira
marcada pela negociao de acordos orientados fundamentalmente para
a poltica de rendimentos (Poltica de Rendimentos para 1987; Acordo
de Poltica de Rendimentos para 1988; e Acordo de Poltica de Rendi-
mentos para 1992); a segunda envolvendo uma negociao global asso-
ciando poltica de rendimentos, poltica fiscal, poltica econmica, pol-
tica laboral e de segurana social (Acordo Econmico e Social, 1990; Acor-
do de Segurana, Higiene e Sade no Trabalho, 1991; Acordo de Poltica
de Formao Profissional, 1991; Acordo de Concertao Social de Curto
Prazo, 1996; Acordo de Concertao Estratgica 1996-1999); e finalmen-
te, a terceira fase, a negociao de acordos temticos, de mdio alcan-
ce, orientados para aspectos concretos das relaes laborais (Acordo de
Poltica de Emprego, Mercado de Trabalho, Educao e Formao, 2001;
Acordo sobre Condies de Trabalho, Higiene e Segurana no Trabalho
e Combate Sinistralidade, 2001; Acordo sobre Segurana Social, 2001).
Em trabalhos anteriores (Ferreira, 2001, 2003) desenvolvo de uma forma
detalhada os princpios tericos e metodolgicos da proposta da
concertao de mdio alcance. Por agora, de um ponto de vista substan-
tivo, importa realar que os acordos temticos ou de mdio alcance so
os nicos da histria da concertao social portuguesa a serem subscri-
tos por todos os parceiros sociais. Foi o que sucedeu em 1991 e em 2001
84 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
nas reas da segurana, higiene e sade no trabalho e emprego, educa-
o e formao. Refira-se ainda a grande dificuldade evidenciada na apli-
cao dos acordos com carcter global, como foi o caso do Acordo Eco-
nmico Social (1990) e do Acordo de Concertao Estratgica (1996).
A entrada em funes, em 2002, do Governo de coligao PSD/PP
parece apontar para a entrada de uma nova fase da concertao social
marcada pela sua perda de influncia no contexto da sociedade portu-
guesa. Em trs anos de governao, ressalta a pouca importncia polti-
ca dada pelo executivo s prticas de concertao social. Por exemplo, a
principal reforma da legislao laboral portuguesa ocorrida depois de
1974 foi feita ao arrepio dos princpios bsicos do dilogo social, no se
vislumbrando at data qualquer interesse ou empenhamento poltico
na persecuo da negociao de acordos. Facto curioso se considerar-
mos que na experincia portuguesa da concertao social o Partido So-
cial Democrata enquanto poder, no incio da dcada de 90, se envolveu
num processo amplo de concertao, no se esquecendo que ter sido
no quadro dos governos socialistas (1995 a incio de 2002) que se reco-
nhece um maior apelo e promoo do dilogo social.
A experincia portuguesa evidencia que um dos aspectos mais pro-
blemticos do dilogo social se coloca no plano da implementao das
matrias contratualizadas. De entre os factores que concorrem para a
falta de efectividade dos resultados negociais identificaria os seguintes:
(1) a dificuldade em compatibilizar as decises da concertao social,
quando os acordos no so subscritos pela totalidade dos parceiros so-
ciais (em regra a CGTP); (2) decorrente do comprometimento limita-
do de alguns parceiros sociais (em regra a CIP); (3) a situao de blo-
queio da negociao colectiva impeditiva da descentralizao da mat-
rias pactadas para os nveis sectoriais e das empresas; (4) a inexistncia
de regras de representatividade, dificultando os processos de negocia-
o colectiva; (5) a politizao dos processos de concertao social de-
pendentes dos interesses polticos conjunturais dos governos; (6) a difi-
culdade de articulao dos resultados obtidos em sede de concertao
social, nomeadamente, quando estes tocam matrias reservadas
Assembleia da Repblica (Ferreira, 2003; Dornelas, 2000).
Em sntese, diria que a concertao social pode contribuir para a
estabilidade poltica, econmica e laboral, permitindo a mudana e o
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 8S
ajustamento dos sistemas de relaes laborais. No entanto, a concertao
social em Portugal no obteve ainda uma avaliao consensual e positi-
va quanto aos seus resultados. So, como vimos, muitas as dificuldades
que se lhe encontram associadas. Existe sempre o risco do dilogo social
tripartido acabar por se tornar performativo para o funcionamento dos
mercados, fazendo esquecer que o verdadeiro dilogo social necessita
Ncgociacs faIbadas
1989 Acordo do rondlmontos o proos
1993 Acordo do rondlmontos o proos
1994 Acordo para o dosonvolvlmonto o o omprogo
2000 Acordo sobro a organlzaao do trabalho produtlvldado o salrlos
Quadro 1. Acordos do Concortaao Soclal o nogoclaos alhadas
Govcrnos Acordos Signatrios
SCClAlS-DLMCCkA1AS lolitlca do kondlmontos para 1987 Covorno, UC1, CAl, CCl o Cll
(lSD)
Acordo do lolitlca do kondlmontos Covorno, UC1, CAl o CCl
para 1988
Acordo Lconomlco o Soclal, 1990 Covorno, UC1, CCl o Cll
Acordo do Sogurana, Hlglono o Saudo Covorno, CC1l-lN, UC1, CAl,
no 1rabalho, 1991 CCl o Cll
Acordo do lolitlca do lormaao Covorno, CC1l-lN, UC1, CAl,
lrolsslonal, 1991 CCl o Cll
Acordo do lolitlca do kondlmontos Covorno, UC1, CAl, CCl o Cll
para 1992
SCClALlS1A (lS) Acordo do Concortaao Soclal do Covorno, UC1, CAl, CCl o Cll
Curto lrazo, 1996
Acordo do Concortaao Lstratglca, Covorno, UC1, CAl, CCl o Cll
1996-1999
Acordo do lolitlca do Lmprogo, Covorno, CC1l-lN, UC1, CAl,
Morcado do 1rabalho, Lducaao o CCl o Cll
lormaao, 2001
Acordo sobro as Condlos do 1rabalho, Covorno, CC1l-lN, UC1, CAl,
Hlglono o Sogurana no 1rabalho o CCl o Cll
Combato a Slnlstralldado, 2001
Acordo sobro a Sogurana Soclal, 2001 Covorno, CC1l-lN, UC1, CAl o CCl
86 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
de uma atitude responsvel dos parceiros sociais, disponveis a parti-
lhar de uma forma solidria os riscos sociais, numa base de confiana.
3. Pistas dc rcfIcxo
Nos dois tpicos anteriores, procurei apresentar alguns dos elemen-
tos caracterizadores da promoo e aplicao do dilogo social, levando
em considerao as experincias da OIT, da UE e portuguesa. Como
ter ficado evidente, as propostas que visam conferir um sentido mais
amplo ao dilogo social, como forma de aprofundamento da democra-
cia, assumem um caracter mais prospectivo do que substantivo. Com
efeito, ainda prevalece uma concepo restrita do dilogo social, identi-
ficado em regra com os problemas do mercado de trabalho e com a ve-
lha questo industrial. Foram, no entanto, sinalizados alguns aspectos
que nos podem levar a pensar que estamos a assistir a um processo de
transformao do princpio do dilogo social. Nesta parte final do cap-
tulo pretendo assinalar algumas das possibilidades e limitaes que, em
meu entender, se lhes encontram associadas. Parto nesta anlise de dois
princpios bsicos: o primeiro, o de que se no existir uma presso ou
vibrao polticas sobre os pactos e o dilogo social, estes perdero
efectividade poltico-social, quer se trate do dilogo social promovido
pela OIT, quer pela UE, ou ainda pelos Estados nacionais. O segundo
princpio, o de que o dilogo social deve ser concebido como uma forma
de aprofundamento da democracia e da cidadania, no se restringindo s
questes laborais que estiveram historicamente na sua origem.
Numa avaliao positiva e optimista, o dilogo social, ao implicar
envolvimento, conhecimento, negociao, partilha, cedncias, consen-
sos e responsabilidade por parte dos parceiros sociais, evidencia trs
caractersticas. A primeira, conduz-nos considerao da autogesto,
da democracia industrial, das formas de participao directa ou indirecta
dos trabalhadores na vida das empresas, o seu envolvimento na produ-
o e aplicao da normatividade laboral em diferentes contextos insti-
tucionais, a informao, participao e consulta dos trabalhadores ao
nvel das empresas, a negociao colectiva e a concertao social, aos
mais variados nveis, como elementos de uma sntese virtuosa entre a
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 87
democracia participativa e a democracia representativa no mundo do
trabalho. A segunda, contribui para o aumento da reflexividade social e
para aprofundar, no mundo do trabalho, os modelos de democracia par-
ticipativa e representativa. E por fim, a terceira, onde est patente a dif-
cil passagem das razes nacionais da negociao scio-laboral para as
opes e oportunidades associadas ao dilogo social transnacional.
Dois breves comentrios a propsito das caractersticas anterior-
mente referidas. O primeiro o de que o dilogo social que pressupe a
participao e a liberdade sindical um atributo das democracias. No
quadro de uma democracia global, o dilogo social deve assumir-se cada
vez mais como um dilogo social cosmopolita, como uma forma de
produo da globalizao, utilizando as possibilidades de interaco
transnacional criadas pelo sistema mundial para a defesa dos interesses
percebidos como comuns (Santos, 1997), como sucede com os direitos
humanos do trabalho. O reforo do dilogo social, escorado na capaci-
dade e no desejo de todos os parceiros nele participarem de forma res-
ponsvel e numa base de equidade, pode ter um papel decisivo na go-
vernao ou regulao das relaes de trabalho escala global. Uma
das condies para que tal ocorra passa necessariamente pela reforma
institucional e pelo reforo, ampliao e alargamento da capacidade de
interveno da nica organizao do sistema das Naes Unidas, a OIT,
que assume um estatuto particular, dada a sua composio tripartida, o
seu especfico processo de tomada de deciso assente no dilogo e o
carcter universal da normatividade que produz.
O segundo diz respeito ao facto do dilogo social poder contribuir
para a ultrapassagem da rigidez das estruturas fordistas, concorrendo
para o que tem sido designado pela nova estrutura de acumulao re-
flexiva (Beck, Giddens e Lash, 1994). Sendo a acumulao reflexiva uma
especializao flexvel, em que o consumo, cada vez mais especializado
exige maneiras cada vez mais flexveis de produzir, h uma permanente
necessidade de inovao por parte das empresas e dos trabalhadores. A
relao entre dilogo social, conhecimento e reflexividade baseia-se, en-
to, num processo de projecto, com conhecimento intensivo e reflexi-
vidade, em detrimento do trabalho material. O dilogo social , neste
quadro, um espao de regulao ajustado s exigncias reflexivas que
implicam conhecimento, auto-reflexividade e monitorizao dos proces-
sos laborais, atravs do auto-controlo. Neste caso, os agentes, leia-se
88 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
parceiros sociais, passariam a reformular as regras e os recursos existen-
tes nas estruturas empresariais, alcanando-se inovao atravs de uma
variedade de combinaes e solues. O processo de democratizao
reflexivo estender-se-ia s organizaes ps-burocrticas, integrando em
simultneo reflexividade, responsabilidade e confiana entre os actores
scio-laborais. De acordo com Giddens, uma organizao ps-burocr-
tica pode dominar a reflexividade social e dar resposta a situaes de
incerteza fabricada, de modo muito mais eficaz do que um sistema de
comando. As organizaes estruturadas em termos de confiana activa
devolvem necessariamente a responsabilidade e defendem um espao de
dilogo alargado. Uma organizao assente na responsabilidade reconhe-
ce que a reflexividade produz um retorno necessidade de um saber lo-
cal, mesmo que esse saber no seja normalmente tradicional (Giddens,
1997: 106-107). Em sntese, poder-se-ia, ento, afirmar que o dilogo so-
cial, aos diferentes nveis, seria parte integrante das organizaes ps-
burocrticas, elemento constitutivo dos espaos sociais de reflexividade.
No entanto, sendo realista, o optimismo a propsito das possibili-
dades emancipatrias do dilogo social, cede lugar ao pessimismo e ao
desencanto tico-poltico sobre as possibilidades de polticas do dilogo
social, da democratizao ou re-democratizao das relaes laborais.
Seis observaes a este propsito.
A primeira observao crtica que desenvolvo justamente, a da im-
possibilidade de dilogo social reflexivo. Com efeito, os processos de trans-
formao e crise nos sistemas de relaes laborais e do direito do trabalho
no so compaginveis com a existncia de um contexto scio-laboral
favorvel existncia de uma situao de reflexividade nos locais de
trabalho. Aqui, o poder fctico e normativo, emergente do espao da
produo, um factor de bloqueio implementao de um dilogo so-
cial reflexivo. Pode afirmar-se que, a suposta libertao das estruturas
fordistas, com o consequente alargamento dos espaos para as prticas
e aces sociais, emancipatrias e democrticas, colapsa perante a rigi-
dez das estruturas flexveis e desreguladas, organizadoras do mundo
do trabalho. Os trabalhadores ditos reflexivos constituem um tnue frag-
mento perante a imensa vaga de desempregados, trabalhadores atpicos
e proletariado mcdonald. , alis, esta limitao substantiva, da
putativa virtualidade da reflexividade, para que nos chama a ateno
Boaventura de Sousa Santos, quando afirma que a ideia de Giddens,
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 89
de que a globalizao a modernizao reflexiva esquece que a grande
maioria da populao mundial sofre as consequncias de uma moderni-
zao ou globalizao nada reflexiva, ou que a grande maioria dos oper-
rios vive em regimes de acumulao que esto nos antpodas da acumu-
lao reflexiva (Santos, 2002).
A segunda, escora-se na ideia da captura da regulao do dilo-
go social por outros princpios de regulao. Em vez do dilogo social
regular de acordo com os princpios normativos e substantivos que lhe
subjazem capturado e colonizado por outros princpios passando a
regular em favor deles.
3
Refiro como exemplo a contradio existente
entre o espao do mercado e o dilogo social. Ela evidencia-se atravs da
expanso das formas de flexibilidade e de desregulamentao dos merca-
dos de trabalho, concomitantes ao recurso ao dilogo social. Assiste-se,
por um lado, a uma retrica vigorosa fazendo apelo ao dilogo social,
responsabilidade social das empresas, s boas prticas nas relaes de
trabalho e dimenso social da Unio Europeia e dos processos de glo-
balizao. Mas, por outro lado, as prticas empresariais acentuam a ne-
cessidade de emagrecer as organizaes (organizao magra)
externalizando os riscos atravs da subcontratao, promovendo a con-
tratao atpica de trabalhadores dependentes e descaracterizando os
factores de segurana tpicos do direito do trabalho.
Perante este contexto, o dilogo social tende a ser performativo para
a expanso livre-concorrencial dos mercados de trabalho, contribuindo,
inclusivamente, para um recuo do status laboral e do direito territorial
do trabalho. Neste sentido, o dilogo social configura-se como uma nova
modalidade da produo do consentimento a acrescer s tradicionais
negociao colectiva e grievance procedures de que nos falou Burawoy.
Por outro lado, a debilidade do espao da comunidade, isto , do espao
a partir do qual se constrem solidariamente as reivindicaes das asso-
ciaes sindicais, conduz, necessariamente, ao questionamento da
efectividade e expresso da voz colectiva, por via do dilogo social.
Com efeito, o recuo da democracia industrial, desde finais da dcada de
70, tem sido acompanhado pela inefectividade das propaladas formas
de participao directa e indirecta dos trabalhadores na vida das empre-
3. kocorro analoglcamonto a toorla da captura da rogulaao dosonvolvlda a proposlto da
problomtlca da auto-rogulaao. A osto rospolto consultar, Morolra (1987. 89 o ss.).
90 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
sas (Kovcs e Castillo, 1998; Regalia e Regini, 1998; Estanque, 2000). Tam-
bm os recentes estudos efectuados pela Fundao Dublin (2002) assi-
nalam as dificuldades em implementar um dilogo social efectivo ao
nvel das empresas. Apesar do entusiasmo da Comisso Europeia em
torno do reforo do dilogo social, os resultados a ele associados, por
exemplo, nos planos nacionais para o emprego, na negociao colectiva e
em todos os elementos constitutivos do modelo social europeu, continuam
a ser escassos.
A terceira, decorre do conflito de legitimidades estabelecido entre o
dilogo social e o Estado. O dilogo social representa uma alternativa s
intervenes do Estado sob forma impositiva e heternoma (designada-
mente pela via legislativa ou pela via administrativa) nos domnios eco-
nmico e social. Na verdade, no se trata apenas do reconhecimento
pelo Estado de organizaes privadas, licenciadas, mas no directamen-
te controladas por ele, a quem so entregues projectos pblicos, mas
tambm de uma disposio do Estado para permanentemente fazer con-
cesses, o que coloca dois tipos de questes. A primeira, respeita
selectividade do Estado relativamente aos parceiros sociais e aos en-
tendimentos a estabelecer. No mbito desta orientao estratgica do
Estado, designado por Estado heterogneo (Santos, 1993: 33), o di-
logo social utilizado como forma de legitimao do poder poltico.
Pressupe-se o empenhamento do Estado heterogneo na criao dos
actores sociais, dispostos ao dilogo e normalizao contratual. A exis-
tncia de actores sociais organizados disponveis para o dilogo permi-
tem ao Estado desenvolver formas de regulao social entre relaes de
produo e relaes de troca, extremamente heterogneas e entre mer-
cados de trabalho profundamente segmentados e descontnuos (Santos,
1993: 33). Se o dilogo social ficar refm dos critrios de financiamento e
de relacionamento simblico oportunisticamente geridos pelo Estado,
teremos uma voz colectiva, estatalmente regulamentada ou silenciada.
A segunda, diz respeito ao modo como se compatibilizam os consensos
alcanados pelo dilogo social, enquanto expresso da sociedade civil,
com as competncias prprias de outros rgos do Estado de direito
democrtico. Sabendo-se que os acordos comportam decises que tm
de ser concretizadas por via legislativa em matrias por vezes reserva-
das aos parlamentos, pode existir o risco de conflito entre as formas de
democracia participativa e os rgos prprios da democracia represen-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 91
tativa. Sempre que o interesse dos parceiros sociais se corporativiza e
influencia a actividade dos rgos do Estado, deparamo-nos com um
efeito perverso do dilogo social, em que os interesses de certos sectores
se orientam num sentido no compaginvel com o interesse geral.
Em quarto lugar, a associao entre o dilogo social e a governao
(Governance) pode concorrer para a des-estatizao dos regimes polti-
cos. A insistncia no entrosamento entre o dilogo social e as novas for-
mas de governao d origem a um modelo de regulao social e
econmica em que ocorre a transio do papel central do Estado para
um outro, assente em parcerias e outras formas de associao entre or-
ganizaes governamentais, paragovernamentais e no governamentais,
nas quais o aparelho do Estado tem apenas tarefas de coordenao en-
quanto primus inter pares (Santos, 2002: 44).
Em quinto lugar, de realar que a expanso da economia e do
emprego informais podem reduzir o alcance do dilogo social. Contra-
riando as previses que previam a diminuio dos valores relativos ao
sector informal ou no estruturado das economias, escala global, estu-
dos recentes revelam a crescente expanso e desenvolvimento destes
fenmenos em todas as regies do mundo, incluindo os pases indus-
trializados. No podendo considerar-se como um fenmeno temporrio
ou residual, o crescimento do sector informal tem evidenciado um di-
namismo de que indicador o facto da maioria dos novos empregos,
em particular nos pases em vias de desenvolvimento e transio, surgi-
rem, no sector informal (OIT, 2002: 1). O aumento da concorrncia
escala mundial, indutor da expanso das novas tecnologias da informa-
o e das comunicaes, acompanhado de uma flexibilidade e de uma
informalizao crescente da produo e das relaes de trabalho. No
quadro das medidas de compresso dos custos e procurando melhorar
a competitividade, as empresas tendem a funcionar com um nmero
reduzido de trabalhadores que beneficiam de condies de emprego
normais e um nmero crescente de trabalhadores no convencionais
ou atpicos. Situao particularmente grave nos pases em desenvolvi-
mento e em transio, j que o trabalho no domiclio, o trabalho realiza-
do em empresas clandestinas e o trabalho efectuado por trabalhadores
autnomos ou ocasionais, constituem a regra e no a excepo, suce-
dendo, muitas vezes, que a prpria legislao do trabalho no os reco-
nhece, nem os protege.
92 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
A expresso economia informal designa, assim, cada vez mais, o
crescente nmero de empresas e trabalhadores que exercem actividade
de forma informal, quer em zonas rurais, quer em zonas urbanas. Para o
sector informal e no estruturado da economia convergem duas das li-
mitaes do direito do trabalho. A primeira, a da prpria inefectividade
dos direitos laborais. A segunda, a do no reconhecimento, pelo pr-
prio direito, dos estatutos laborais destes trabalhadores dependentes.
4
Por fim, a ltima questo reporta-se segurana na representao
e proteco da voz colectiva. Sem estarem asseguradas as condies
de representao e de participao, no possvel um dilogo social
democrtico e equilibrado.
5
Por outro lado, a segurana na representa-
o est ligada a aspectos fundamentais dos sistemas de relaes labo-
rais, como a efectividade do direito do trabalho, a facilitao do acesso
justia e ao direito do trabalho pelos trabalhadores, a produo e a apli-
cao das normas laborais e a regulao e resoluo dos conflitos de
trabalho.
6
4. Lstlma-so quo om Arlca o trabalho lnormal roprosonto corca do 80 do omprogo nao
agricola, mals do 60 do omprogo urbano o mals do 90 dos novos omprogos crlados. Na Am-
rlca Latlna vorllca-so quo a proporao do omprogo lnormal urbano, por rolaao ao omprogo
urbano total ovolulu do 52, om 1990, para 58, om 1997. Na Asla, a proporao do trabalhado-
ros lnormals sltua-so ontro os 45 o os 85, do omprogo nao agricola o ontro 40 o 60 do
omprogo urbano. Quanto aos paisos lndustrlallzados do roorlr as ostlmatlvas quo avallam osta
actlvldado ontro os 7 o 16 do ll da Unlao Luropola, varlando ontro os 10 o 28 mllhos do
omprogos, o do 7 a 19 do omprogo total nao doclarado. Conorlr a osto rospolto, M. Loonard
(1998) o (2002) Commlsslon Luroponno. Communlcatlon do la Commlsslon sur lo travall non
dclar (ruxollos), CCM (98) 219 o vor tambm. Cbsorvatolro ouropon dos rolatlons
lndustrlollos on llgno. Commlsslon targots undoclarod work, slto Wob. |tt.//uuu.euo|ouoJ.|e/
1998/04/|eatue/|L9804197|.|tn|., ln. 1ravall dcont ot conomlo lnormollo, Conronco
lntornatlonalo du travall 90 sosslon 2002.
5. C caso da Colmbla a osto rospolto dramtlco. Lm 1999 oram assasslnados 53 slndlca-
llstas o, om 2000, 112. So ontro }anolro o Abrll do 2001 oram assasslnados 25 slndlcallstas.
6. Consldora-so nosto sontldo o lndlcador composlto crlado pola Cl1 ondo dlorontos paisos
sao classllcados do acordo com quatro crltrlos. nivols do sogurana, nogoclaao coloctlva, don-
sldado slndlcal, o rogulamontaao da roprosontatlvldado (Cl1, 2002), dostacando-so pola posltlva
o lugar ocupado por paisos como a Austrla, Dlnamarca, lrlanda o Holanda, om contrasto com os
paisos asltlcos o arlcanos o mosmo com alguns paisos ouropous como o caso da lnglatorra. lor
outro lado, osta uma sltuaao quo so oncontra om ostrlta rolaao com o lndlcador taxa do
cobortura da nogoclaao coloctlva. Com oolto, os paisos quo aprosontam uma malor donsldado
do trabalhadoros cobortos polos convnlos coloctlvos sltuam-so na Luropa (Alomanha, 90,
Lspanha, 82, lrana, 90, Crcla, 90, lrlanda, 90, Noruoga, 66, Dlnamarca, 55,
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 93
Concluiria com a seguinte ideia: se o dilogo social continua a dar
reconhecimento formal s diferenas de poder institucionalizado, aca-
bar por legitimar as desigualdades, as formas de excluso social, no
contribuindo para o aprofundamento da democracia, nem para a imple-
mentao das prticas sociais emancipatrias.
Rcfcrncias bibIiogrficas
AUVLkCNCN, lhlllppo (2000), A propos duno ovontuollo rlnvontlon du pacto
soclal on lranco, ^ ke|ona Jo |acto Soc|a| Co|qu|o |ono.|Jo e|o
|es|Jeote Je keo||ca. lmpronsa Naclonal Casa da Mooda.
LCK, Ulrlch, ClDDLNS, Anthony o LASH, Scott (1994), ke||e\|.e \oJeo|zat|oo
|o||t|cs, taJ|t|oo aoJ ^est|et|cs |o noJeo soc|a| oJe. Cambrldgo. lollty lross.
CCMlSSAC LUkClLlA (1998), Connuo|cat|oo Je |a Conn|ss|oo su |e ta.a||
ooo Jec|ae. ruxolas.
______. (2001), Llvro ranco sobro a Covornana Luropola. ruxolas.
______. (2002), C dllogo soclal ouropou, ora do modornlzaao o mudana.
Comunlcaao da Comlssao. ruxolas.
CkCUCH, Colln (1999), Soc|a| C|aoge |o \esteo |uoe. Cxord. Unlvorslty lross.
______. (2000), kolnvontlng tho soclal pact. sconarlos and roqulromonts, ^ ke-
|ona Jo |acto Soc|a| Coloqulo lromovldo polo lrosldonto da kopubllca.
lmpronsa Naclonal. Casa da Mooda.
DCkNLLAS, Antonlo (2000), As rolaos lndustrlals om lortugal. possivol mu-
dar: L possivol nao mudar:, Soc|eJaJe e !aoa||o, 7, 45-55.
LS1ANQUL, Llislo (2000), |ote a |o|ca e a Conuo|JaJe. lorto. Arontamonto.
lA}Lk1AC, C. o lCCHL1, l. (1997), Soclal pacts ln Luropo ln tho 1990s. 1owards
a Luropoan Soclal lact:, |o lochot, l. o C. la|ortag (od.), Soc|a| |acts |o
|uoe. russols. L1Ul.
Holanda 80, Sucla, 85). A lnglatorra, no ontanto, om 1994, aprosontava uma taxa slgnllcatl-
vamonto balxa (25), om rolaao a grando malorla dos paisos ouropous. 1odos os outros contlnon-
tos, om tormos gonrlcos, aprosontam taxas do cobortura balxas. Subllnho-so os casos partlcularos
da Chlna (15,1), da lndla (monos do 2), do }apao (25), da Malsla (2,6), das llllplnas (3,7),
dos LUA (11,2), do lanam (16), do Urugual (21,6), da Swasllndla, do Uganda o do
Zlmbabwo, todos com 25. H quo roglstar, todavla, os numoros rolatlvos a Argontlna o a Cuba,
72,9 o 98,2, rospoctlvamonto.
94 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
lLkkLlkA, Antonlo Caslmlro (2001), lara uma concopao doconto o domocrtlca
do trabalho o dos sous dlroltos. (ko)ponsar o dlrolto das rolaos laborals, |o
oavontura do Sousa Santos (org.) (2001), G|ooa||zaao, |ata||JaJe ou Lto-
|a:. lorto. Ldlos Arontamonto.
______. (2003), !aoa||o ocua lust|a. a eso|uao Jos coo|||tos |aooa|s oa so-
c|eJaJe otuguesa. Colmbra. lLUC.
ClDDLNS, Anthony (1997), \oJeo|JaJe e |Jeot|JaJe |essoa|. Colras. Colta
Ldltora.
KCVACS, llona o CAS1lLLC, }. }. (1998), No.os \oJe|os Je |oJuao, !aoa||o e
|essoas. Colras. Colta Ldltora.
LLCNAkD M. (1998), |o.|s|o|e uo|, |o.|s|o|e uo|es. !|e |o|ona| ecooonj |o
|uoe aoJ t|e LS. aslngstoko. Macmlllan lross.
______. (2000), Coplng stratoglos ln dovolopod soclotlos. 1ho worklngs o tho
lnormal oconomy, louoa| o| |oteoat|ooa| |e.e|oneot, v. 12, n. 8.
MCkLlkA, k. (1987). O ||scuso Jo ^.esso. klo do }anolro. Dols lontos Ldltora.
CkCANlZAAC lN1LkNAClCNAL DC 1kAALHC (2002), 1rabalho Doconto o
Lconomla lnormal. Conobra.
kLCALlA, l. o kLClNl, Marlno (1998), ltaly. 1ho Dual Charactor o lndustrlal
kolatlons, |o lornor, Anthony o Hyman, klchard (ods.), C|aog|og |oJust|a|
ke|at|oos |o |uoe. lackwoll lubllshors. Cxord.
kLClNl, Marlno (od.) (1992), !|e |utue o| |aoou \o.eneots. Londros. Sago.
______. (1997a), Stlll Lngaglng ln Corporatlsm: kocont ltallan Lxporlonco ln
Comparatlvo lorspoctlvo, |uoeao louoa| o| |oJust|a| ke|at|oos, v. 3, n. 3.
Londros. Sago lubllcatlons.
kLClNl, Marlno o LSllNC-ANDLkSCN (2000), otwoon Dorogulatlon and So-
clal lacts. 1ho kosponsos o Luropoan Lconomlos to Cloballzatlon, lolltlcs
& Socloty, v. 28, n. 1.
kCHDLS, M. o MCLlNA, C. (2002), Corporatlsm. 1ho last, lrosont and luturo
o o concopt, Annual kovlow o lolltlcal Sclonco, n. 5.
kHCDLS, M. (2003), Natlonal lacts and L. U. Covornanco ln Soclal lollcy and
tho Labour Markot, |o }onathan Zoltlln o Davld M. 1rubok Go.eo|og
\o| aoJ \e||ae |o a Neu |cooonj |uoeao aoJ ^ne|cao |\e|neots,
Now ork. Cxord Unlvorslty lross, 129-157.
SAN1CS, oavontura do Sousa (1993), |otuga|. Ln ketato S|ogu|a. lorto. Aron-
tamonto.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 9S
______. (1997), lor uma concopao multlcultural dos dlroltos humanos, ke.|sta
C|t|ca Je C|eoc|as Soc|a|s, 48, 11-32.
______. (2002), !ouaJ a oeu connoo seose. |au, g|ooa||zat|oo aoJ enaoc|at|oo.
Londros. uttorworths.
WlLLlAMSCN, C. L. (1989), 1ransactlon cost Lconomlcs, |o k. Schmalonsoo o
k. D. Wllllg (ods.), |aoJooo| o| |oJusta|| Ogao|zat|oo, v. 1. Amostordam.
North Holland, 144-167.
96
4
C Lnlgma do Lula. kuptura ou Contlnuldado:
|aoc|sco Je O||.e|a
A eleio de Luiz Incio Lula da Silva por uma ampla votao,
coadjuvada pelo acompanhamento do voto proporcional que lhe d ex-
pressiva bancada no Congresso, tem tudo para parecer o encerramento no
apenas da Era FHC mas, alm dela, do longo ciclo da via passiva brasilei-
ra. Entendamo-nos a respeito do significado dessa controversa expresso,
que vem de Gramsci, evidentemente: trata-se de pensar a expanso capita-
lista na periferia contraditoriamente sem mercado, pela via autoritria de
uma fortssima coero estatal. Ademais, forma de praticamente todos os
casos de capitalismo tardio no no sentido mandeliano.
Os votos dados a Lula foram, indefectivelmente, para a promoo
de mudanas no sentido oposto estagnao em que patinou o governo
FHC depois do estrondoso xito do Plano Real e a evidente deteriorao
do segundo mandato. um caleidoscpio de protestos, promessas, pos-
sibilidades, frustraes, insegurana, falta de horizontes. uma soma
negativa, como na lgebra, onde menos com menos d mais.
Isto responsvel pela conjuntura de confuso que se armou, ou
melhor dizendo, foi da indefinio caleidoscpica que surgiu a soma de
votos de Lula. Ancorada, diga-se, no consistente colgio eleitoral cons-
trudo pelo PT ao longo de seus 22 anos, mas que esbarrava sempre, nas
eleies presidenciais que disputou anteriormente, numa intranspon-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 97
vel rejeio, que era o nome eufemstico para a rejeio de classe, numa
sociedade fortemente travejada pelos meios de comunicao de massa.
A confuso continua na armao dos apoios e do governo e nas primei-
ras propostas. altura da publicao destas notas, os titulares do go-
verno j estaro em plena funo, de modo que alguns pontos do enig-
ma comearo a serem decifrados. Os j anunciados Ministro da Fazen-
da e o presidente do Banco Central j comeam a dissipar algumas das
incgnitas. Aquela soma negativa no se constitui em hegemonia, mas
apenas em vitria eleitoral: nem sequer esta pode ser tomada rigorosa-
mente como a indicao do caminho para a hegemonia.
A Era FHC comeou apoiando-se numa indefectvel aliana de
classes, para o qual o paradigma classista ainda retinha todo seu po-
der heurstico. Mas a via neoliberal escolhida no foi o produto da
aliana: ao contrrio, a aliana foi o produto da escolha neoliberal. Ou,
em outras palavras, nunca os aliados atrasados, ACM et caterva, de-
ram o tom do governo FHC. O centro irradiador do consenso que FHC
liderou era seu prprio grupo, o PSDB como partido, e o ncleo uni-
versitrio-burgus-plutocrtico como vanguarda. A base eleitoral for-
mou-se com o xito do Plano Real.
Mas FHC detonou a unidade do ncleo que lhe dava sustentao,
com as radicais mudanas operadas na propriedade do capital, e a es-
tagnao produzida pelo modelo escolhido, de insero na globaliza-
o, destruiu o apoio eleitoral. Em outras palavras, o paradigma classista,
vlido para o primeiro perodo da aliana, foi pelos ares. O que sobrou
foi uma enorme indeterminao na poltica, que o nome prprio do
caleidoscpio.
A vitria de Lula o produto direto dessa indeterminao. A partir
de seu prprio cacife, representado pelo PT, Lula tenta, agora, a forma-
o de um consenso pela agregao de interesses do caleidoscpio. No
a formao de um consenso pela prevalncia de um centro irradiador,
ao modo de FHC em sua primeira eleio. Em poltica, tal formao
sempre muito frgil e dependente, todo o tempo, de acordos ad hoc, que
no se podem projetar. O que est ausente, portanto, a previsibilidade
na poltica, sem a qual no se opera a reproduo sistmica.
Iniciativas como a proposio de um conselho de desenvolvimento
econmico e social, uma espcie de frum maior da articulao do calei-
doscpio, so apresentadas como disposio para o dilogo, mas o que
98 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
mostram a ausncia de hegemonia e o procedimento de agregao que
a intuio de Lula percebeu rapidamente. Talvez o paradoxo da eleio
esteja em que o nico que no se enganou a respeito do resultado que o
tornou presidente, o prprio eleito. O que confirma sua trajetria onde
a intuio colocou-se sempre a servio da experincia, mas no sufi-
ciente para resolver o problema da hegemonia.
Na soma negativa disparatada do resultado eleitoral, nenhum se-
tor se sobrepe nitidamente a outro qualquer; o nico inslito o pr-
prio PT. Mas suas bases sociais sublinhada no detm a capacida-
de para liderar o processo de construo da hegemonia. De fato, as for-
as do trabalho foram grandemente erodidas na Era FHC, em parte como
derivao da insero na globalizao e em parte como estratgia deli-
berada do grupo dominante. Uma agenda trabalhista, bancada pela base
social, no est sendo reivindicada, e talvez no possa ser proposta.
Os outros grupos sociais e setores de classe tampouco podem pro-
por seu programa como o programa do caleidoscpio, nem existe a pos-
sibilidade de definir classes ou setores de classe da burguesia que per-
deram ou ganharam com os oito anos de FHC, para ento definir alia-
dos: a metamorfose do capital em capital fictcio anula essa possibilida-
de.
1
O capital produtivo certamente perdeu muito no ltimo perodo; de
outro lado, o balano dos bancos mostra uma lucratividade em perma-
nente ascenso na Era FHC. Mas, que detentores do capital esto de um
e de outro lado? Igual indefinio ocorre no que se refere ao capital es-
trangeiro, antiga pedra de toque dos programas do PT. Como controlam
os setores de ponta, e na sua origem esto emaranhados com o capital
financeiro, nem se pode discrimin-los posto que so eles que trazem o
capital de fora, nem se pode operar uma distino que procurasse favo-
recer apenas o capital que ajuda a criar empregos.
2
1. C proprlo l1 tampouco sabo azor a dlstlnao. os anunclados grupos do trabalho com a
ovospa mostram quo so consldora ontro as taroas do novo poriodo ostlmular as bolsas do valoros
como mocanlsmo do poupana para o dosonvolvlmonto, o ao mosmo tompo um programa doson-
volvlmontlsta quo nao so compadoco com o ostimulo ao capltal lnancolro. Uma algaravla prag-
mtlca para oscondor uma lndlgncla toorlca o a lmposslbllldado do roconhocor a condlao nao-
hogomnlca do cooJott|ee.
2. L o caso, por oxomplo, das tolocomunlcaos, ondo grupos portuguosos, ospanhols o lta-
llanos domlnam as prlnclpals omprosas no rasll o, om sous paisos orlglnals, ostao llgados a ban-
cos. A Lmbratol, abocanhada polo grupo nortoamorlcano da World Com, lcou lnvlablllzada dovldo
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 99
O que sobra um desenvolvimentismo retr, em que todos ganha-
ro (?), de par com um programa social indefinido, em cuja ponta asso-
ma o Fome Zero que, entretanto, no tem consistncia para impor-se
como filtro por onde passar toda a definio de um programa mais
completo. Explicando: o programa Fome Zero no tem viabilidade de
inscrever-se como estrutural, no sentido de fazer parte da reproduo
do capital, tal como o instituto da seguridade social se tornou no Welfare
ps-Segunda Guerra Mundial, organizando o mercado de trabalho, en-
to ainda o mais importante preo da economia. Nos termos de
Polanyi,
3
uma no-mercadoria que regula a economia. No parece que
programas do tipo Fome Zero tenham essa virtualidade.
No futuro imediato, pois, o que vai se impor , surpreendentemen-
te, a continuao da poltica econmica de FHC, enfeitada com uma
poltica social tipo Fome Zero. Que no to original assim, posto que
programas compensatrios, que tampouco se inscrevem na estrutura-
o da reproduo do capital, so j quase obrigatrios, urbi et orbi. No
h praticamente prefeitura, governo estadual e da Unio que no esteja
tocando programas de bolsa-escola, bolsa-trabalho, primeiro-emprego,
inscritos no captulo geral dos programas de gerao de emprego e ren-
da. Em muitos casos, a cesta-bsica foi incluida como um salrio indire-
to na remunerao dos empregados do setor ainda formal de trabalho, e
na sua impossibilidade, sobretudo no Nordeste eterno das secas, do
desemprgo, dos caminhes-cisternas e agora das cestas-bsicas. O sa-
lrio-mnimo tem mais dignidade semntica: chama-se mnimo.
Existe a possibilidade de ruptura ou ela foi apenas uma iluso elei-
toral? Contraditoriamente, a possibilidade dada pela mesma indeter-
minao que torna to fluidos e to invisiveis os limites dos interesses
de cada classe e cada setor da sociedade. Exatamente porque a crise
final do governo FHC uma crise de hegemonia. In altri tempi, ela seria
uma crise revolucionria.
Uma crise de hegemonia pode prolongar-se indefinidamente, sem
resoluo. Como a Argentina vizinha est mostrando. O peronismo per-
deu suas bases e a possibilidade de impor sua agenda: na verdade, a
a rumorosa o volumosa concordata da matrlz. Cutra voz o pragmatlsmo do l1 donuncla aponas a
lmposslbllldado do lmpor rogras aos podorosos ollgopollos quo lHC lntornallzou.
3. Karl lolanyl, ^ GaoJe !aos|onaao.
100 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
crise de hegemonia argentina j visivel desde a ltima e sanguinria
ditadura. O menemismo realizou uma poltica, em muito parecida com
a que FHC praticou logo em seguida, de aproveitar o momento de aber-
tura indiscriminada e privatizao selvagem como acumulao primi-
tiva para relanar um desenvolvimentismo radical. Na hora em que a
acumulao primitiva se esgotou, a acumulao de capital strictu sensu
no se produziu. A dvida externa contrada mostrava que a reproduo
do capital estava muito alm das foras da acumulao interna, e neste
sentido a tragdia argentina, como a brasileira, est em que, entrando
no caminho da dvida, a autonomia da acumulao interna fica perdida.
Ou se segue indefinidamente com as injees de capital externo, ou o
processo entra em stop and go. O radicalismo foi a tentativa de consenso
por agregao de interesses depredados pela poltica de Menem/Cavallo,
mas as bases internas da acumulao j no foram suficientes.
A enorme disposio nas bases sociais cujos limites so fludos, as
igrejas e a ainda poderosa Igreja Catlica, ongs cvico-republicanas, cen-
trais sindicais de variada tendncia, movimentos sociais como mesmo o
MST, um sentimento difuso mas intenso de boa vontade, esse momento
que Juarez Guimares est chamando com muita felicidade de momen-
to tico-republicano,
4
mostra que a hegemonia pode ser construda. Mas
preciso que, como ele prprio assinala, a economia no subordine a
poltica. Neste momento, o programa de Lula est a meio caminho entre
a continuidade de FHC e o equvoco de De La Ra. Na prudncia,
continuidade; na tentativa de consenso por agregao para um desen-
volvimentismo que est alm da capacidade de acumulao de capital,
equvoco. O momento de indeterminao deveria fazer refletir, e pede-
se uma urgente reflexo terica. Podemos estar frente a uma nova for-
ma de uma sociedade de controle, que nem democracia, nem totalita-
rismo. O capital tem suas invenes. Veremos se esse equilbrio precrio
consegue manter-se e se a iniciativa tico-republicana capaz de
desbloque-lo. In dubio pro reo.
4. lala no ll Somlnrlo lntornaclonal sobro Domocracla lartlclpatlva. Mosa A Domocracla no
rasll. Novas lorspoctlvas, roallzado om Sao laulo, 9 o 10 do dozombro do 2002. lrooltura
Munlclpal do Sao laulo. Audltorlo da lCV. lara uma undamontaao do suas poslos quo lovam
ao momonto tlco-ropubllcano, vor A Crlso do laradlgma Noollboral o o Lnlgma do 2002. Sao
|au|o en |esect|.a n.15, v. 4, lundaao Soado, 2001.
101
ll larto
C trabalho o o slndlcallsmo ontro os
patamaros naclonal o transnaclonal
102 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
103
S
Mudanas o Cllvagons no Mundo do 1rabalho. novas
tocnologlas ou novas doslgualdados: C caso portugus'
|||s|o |staoque
Nos ltimos anos, vrias teses tm surgido a sublinhar a perda de
centralidade ou mesmo o fim do trabalho, enquanto valor decisivo de
estruturao da sociedade. Prestigiados autores sustentam que se assis-
te a um desencantamento do trabalho e secundarizao da esfera laboral
em favor de dimenses alternativas ao exerccio da cidadania, como se-
jam, o espao do associativismo, do voluntariado e do terceiro sector
eleitas como esferas primordiais de participao cvica e factores de coe-
so ou transformao social (Rifkin, 1997; Mda, 1999; Beck, 2000).
verdade que o trabalho tende a perder significado enquanto smbolo
principal daquilo que somos, ou seja, como sublinhou Andr Gorz, o tra-
balho enquanto construo social, entendido como a profisso ou o em-
prego que temos, tende a esbater-se entre as realidades virtuais da econo-
mia intangvel, tornando-se cada vez mais um bem escasso, fludo e
difcil de perpetuar. Contudo, o trabalho enquanto criao ou obra, aqui-
' lartos do prosonto toxto oram tambm lncluidas no lro|octo dosonvolvldo polo lNClCk
lnovaao 1ocnologlca o Lmprogo lmpactos soclals o organlzaclonals da tocnologla, coordona-
do por lsabol Salavlsa o Ana Cludla Valonto.
104 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
lo que cada um faz (poiesis), independentemente do seu reconhecimento
social, est longe de ter perdido importncia. O que acontece que os
atributos que antes conotavam o trabalho com criatividade e autono-
mia, tm vindo, por assim dizer, a ser expulsos do espao produtivo,
mas isso no corresponde a uma libertao do trabalho e menos ainda
se traduz numa expanso da esfera pblica. O capital mvel e o poder
da economia financeira, operando para alm da esfera poltica, fragmen-
taram ou mesmo aboliram o trabalho como forma de disciplinar a
rebeldia da classe trabalhadora, mas continuaram a fazer dele a princi-
pal via de subsistncia, de preservao da auto-estima e de busca de
reconhecimento social, num processo onde as novas sujeies e formas
de explorao parecem ressuscitar problemas humanos que se julgava
ultrapassados (Gorz, 1999).
As discusses em torno do trabalho que neste texto se apresentam,
partem da premissa da centralidade do trabalho, procurando reflectir
sobre os processos de recomposio do mundo laboral e a emergncia
de novos modelos produtivos no quadro das actuais tendncias de glo-
balizao econmica. Os impactos e problemas relacionados com a ino-
vao tecnolgica e a chamada sociedade do conhecimento no podem,
portanto, deixar de ser vistos no quadro dos processos globais e das
novas desigualdades sociais que tm vindo a ser geradas. nesse senti-
do que chamarei a ateno para a importncia crucial da articulao en-
tre as dimenses tcnica e organizacional, construda na base do dilogo
social, como requisito para um modelo laboral socialmente sustentado.
O problema dos modelos de controlo desptico que vigoram em certos
sectores produtivos ser abordado a partir de exemplos extrados da
realidade laboral da indstria do calado, a fim de realar o contraste
entre os desgnios preconizados pelo novo ordenamento jurdico pro-
posto pelo actual governo PSD/PP (o chamado Cdigo do Trabalho)
e a prtica efectiva no dia-a-dia das empresas (sobretudo as PMEs). Com
efeito, persistem no sector industrial portugus inmeras situaes em
que os atropelos lei so constantes e o autoritarismo patronal se sobre-
pe defesa dos direitos mais elementares dos trabalhadores, induzin-
do um excesso de flexibilidade de sentido nico a favor dos patres.
Estas e outras questes sero abordadas no quadro de uma viso
sociolgica alargada, acerca das mltiplas implicaes das transforma-
es em curso no mundo do trabalho, procurando mostrar como a reali-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 10S
dade social atravessada por um conjunto de clivagens e assimetrias
estruturadas em torno da esfera laboral, fazendo do trabalho um cam-
po decisivo de interveno social, e do direito do trabalho um instru-
mento incontornvel na promoo da coeso social, da cidadania e da
emancipao.
1. GIobaIizao c rccomposio do trabaIbo
A recomposio dos processos produtivos e das relaes laborais
que vem ocorrendo nas ltimas dcadas est intimamente associada
abertura das fronteiras e rpida expanso das trocas comerciais esca-
la global. nessa medida que a questo do trabalho a sua fragmenta-
o, flexibilizao, precarizao , deve ser discutida luz do actual
contexto de globalizao econmica. Como sabemos, desde os anos 70
que se entrou numa fase de crescente desregulao econmica escala
internacional. O esgotamento da velha relao salarial fordista, a crise
do Estado-providncia, o aumento da competitividade a nvel global,
sobretudo com a abolio de barreiras ao comrcio mundial desde mea-
dos dos anos 80, desenharam-se sob a emergncia de uma nova onda
liberal, largamente apoiada na inovao tecnolgica e na revoluo in-
formtica. As profundas transformaes sociais daqui decorrentes atin-
giram as sociedades contemporneas em todos os domnios, com resul-
tados impressionantes na recomposio e des-standardizao das formas
tradicionais de trabalho (Beck, 1992 e 2000; Ruysseveldt e Visser, 1996;
Hyman, 2002).
Operando cada vez mais a nvel planetrio, tais mudanas vm
promovendo um novo modelo de relaes laborais, que se caracteriza
pelo aumento da individualizao das relaes sociais, desregulamenta-
o do trabalho, crescimento do desemprego e insegurana no empre-
go, subcontratao, flexibilidade de horrios, emprego precrio, etc., o
que contribui para acentuar drasticamente o sentido de risco e de inse-
gurana da vida social. A dinmica vertiginosa em que entrou a econo-
mia global, sobretudo nas ltimas duas dcadas, tornou cada vez mais
notrio o sentido polimrfico do conceito de globalizao. Se verdade
que o sistema mundial assentou desde sempre em mltiplos desequil-
106 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
brios entre centros e periferias, hoje os contrastes entre plos de desen-
volvimento e zonas de excluso e de misria assumem contornos por-
ventura ainda mais chocantes do que no passado. Os sectores de ponta
e as novas tecnologias convivem lado a lado com relaes laborais de
neo-escravatura, no s nos pases perifricos mas por vezes tambm
no prprio seio dos pases considerados avanados.
A globalizao hegemnica e neoliberal em curso transporta conta-
minaes recprocas, em que as lgicas de localizao so o outro lado
da moeda da globalizao; em que as novas formas de excluso e ex-
plorao so o reverso dos novos privilgios e oportunidades; em que
as subclasses locais so a contraparte das sobreclasses globais (Lash, 1999;
Santos, 2001; Estanque, 2003).
Por um lado, assistimos ao extraordinrio aumento das situaes
de atipicidade laboral, em larga medida resultantes da globalizao
econmica, tais como o trabalho precrio, a desregulamentao dos di-
reitos laborais, o trfico clandestino de mo-de-obra (migraes ilegais),
o trabalho infantil, a pobreza, o desemprego e o subemprego, etc.
(Ferreira, 2003),
1
os quais se situam na estreita interdependncia entre
trabalho/desemprego/famlia/comunidades, induzindo lgicas de lo-
calizao no s sobre os sectores mais dependentes e explorados da for-
a de trabalho, mas sobre todo um leque de situaes sociais, onde pro-
lifera a pobreza, a excluso e a opresso ou seja, aqueles que sofrem
os efeitos dos globalismos localizados, segundo a formulao de Santos
(1995: 263). So grupos sociais deste tipo que podem conceber-se como
integrando as subclasses locais. Subclasses, porque, luz dos indicadores
convencionais no possuem uma posio de classe bem definida, isto ,
esto fora ou abaixo da classe trabalhadora tradicional.
Por outro lado, e em contrapartida, assistimos aos constantes flu-
xos de directores das grandes multinacionais, gestores de topo, funcio-
nrios das instituies do Estado, quadros altamente qualificados, diri-
gentes polticos, cientistas de renome, etc., que constituem toda uma
elite scio-profissional e institucional que monopoliza conhecimentos,
competncias, informao, redes sociais, movendo-se a uma escala pla-
1. A proposlto da dosrogulamontaao o procarlodado das rolaos laborals, vo|a-so alnda
kuyssovoldt o Vlssor (1996), ock (2000), Hyman (2002).
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 107
netria. esta camada que pode ser concebida como uma sobreclasse
global, cujo estatuto de super-elite se refora em articulao com os
interesses de classe das elites nacionais dos pases centrais e perifricos.
Apesar da sua diversidade, estes sectores tm em comum privilgios,
poder e riqueza (para alguns autores, constituem uma classe), e podem,
por assim dizer, ser situados acima da estrutura de classes no sentido
tradicional (de mbito nacional).
2
Basta, portanto, olhar para as desigualdades sociais que directa-
mente emanam das recomposies em curso no mundo laboral e que
se vm agudizando desde meados dos anos 80, sob os efeitos do neoli-
beralismo global para cair por terra a viso idlica, neutra e fictcia, de
uma globalizao homogeneizante e harmoniosa, que tem sido larga-
mente construda pelos idelogos do neoliberalismo e pelos mass media
ao seu servio (Estanque, 2004).
neste quadro que as polticas laborais orientadas para o incentivo
competitividade e produtividade no podem secundarizar o papel vi-
tal das instncias de negociao e de dilogo social. Caso contrrio, a
capacidade competitiva estar a ser promovida custa da diminuio
dos direitos democrticos e da justia social. Nessa medida, as condi-
es de emergncia de um modelo laboral e social de matriz democrti-
ca e europeia passaro necessariamente pela revitalizao, e no pela
fragilizao, do movimento sindical. Tal revitalizao exige, por sua vez,
uma profunda reestruturao das prticas de interveno sindical, que
tero de combinar o seu protagonismo institucional com novas formas
de interveno junto das bases em particular junto dos sectores mais
precarizados da fora de trabalho , alargando o seu mbito de actua-
o quer do espao do trabalho para o espao da comunidade, quer do
espao nacional para o espao transnacional. No contexto europeu, por
exemplo, faz cada vez mais sentido pensar uma interveno sindical
que em aliana com outros movimentos cvicos e ONGs, e conjugan-
do mobilizao e negociao transcenda o nvel nacional por forma a
participar mais activamente na construo de uma sociedade civil trans-
nacional, ou se quisermos, uma cidadania europeia, como sugerem as
2. Lsta concoptuallzaao ol lnsplrada om autoros como l. Lvons (1979), ockor o Sklar (1987),
Santos (1995. 252-268 o 2001. 31-106), Lash (1999. 19-20), Sklalr (2001. 10-33).
108 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
recentes anlises de Richard Hyman (2002) e Peter Waterman (2002),
entre outros.
A reflexo sobre o caso portugus tem, portanto, de ser situada no
quadro da Europa. Por outro lado, a discusso sobre a recomposio das
relaes laborais tanto em Portugal como no mundo no pode
deixar de sublinhar a importncia da interdependncia entre polticas
econmicas e polticas sociais. Ao contrrio do que a retrica economi-
cista e tecnocrtica parece, por vezes, pressupor, preciso no esquecer
que a componente tcnica, por exemplo, o sucesso ou insucesso da ino-
vao tecnolgica sobre os ndices de produtividade, depende acima de
tudo da capacidade de conceber e implementar modelos de gesto com-
patveis com os investimentos em tecnologia. justamente porque a
sociedade portuguesa se debate ainda com enormes dificuldades neste
domnio, e porque no nosso pas as profundas desigualdades sociais
existentes e a consequente percepo subjectiva das mesmas indu-
zem fortes clivagens entre trabalhadores e empresrios, que as mudan-
as a operar no mundo laboral necessitam de conciliar a competitivida-
de com a defesa da dignidade do trabalhador e o aprofundamento do
dilogo social.
2. fIcxibiIizao c modcIos produtivos
Perante a falncia do fordismo e a sua incapacidade de responder s
novas exigncias dos mercados globais, emergiram novos modelos de
produo, mais flexveis e baseados na interdependncia entre a reorga-
nizao produtiva e a instabilidade dos mercados. No entanto, este pro-
cesso de viragem no exprime uma simples passagem da economia in-
dustrial para a economia de servios, mas sim a emergncia de uma
economia ps-indstrial, onde a indstria e os servios convergem cada
vez mais em direco a um sistema produtivo complexo, intensivo em
recursos humanos e orientado para a flexibilidade, onde inclusivamente
alguns dos princpios de funcionamento do modelo fordista continuam
presentes em certos sectores de actividade, regies e/ou pases. No qua-
dro da Europa, sobretudo tendo em conta a importncia do legado do
Estado-providncia na definio de mecanismos de concertao e dilo-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 109
go social, no faz sentido antever o triunfo de qualquer modelo produ-
tivo que no continue a apoiar-se, em maior ou menor grau, em polti-
cas sociais consistentes e capazes de compatibilizar produtividade e coe-
so social. Em todo o caso, as alteraes nos sistemas produtivos so
assinalveis.
Temos vindo a assistir nas ltimas dcadas emergncia de um
novo modelo empresarial, que tem sido designado por lean production,
onde sobressaem os traos de ajustamento s exigncias da globalizao
neoliberal, ou seja, reduo de stocks e de pessoal, maior mobilidade e
flexibilidade organizacional, maior aposta na qualidade do produto, no
trabalho em equipa, na polivalncia dos trabalhadores, na gesto pela
cultura, etc., num processo que vem aprofundando novas segmenta-
es no mercado de emprego (Boyer et al., 2000). Particularmente not-
ria a diviso entre, por um lado, os sectores mais qualificados que
incorporam os recursos mais avanados da chamada sociedade do co-
nhecimento, ou seja, aqueles para quem a mobilidade e a flexibilidade
funcionam como mecanismos de incluso e plataformas de oportunida-
de; e, por outro lado, os sectores precrios e no-qualificados, cujas con-
dies de trabalho foram sempre mais degradadas e que se tornaram
agora descartveis e sujeitos aos efeitos predadores da lgica mercantilista
(Lopes, 2001).
As mudanas em curso na Europa e no mundo so, no entanto,
contraditrias e no ainda claro que tipo de modelo produtivo vir a
impor-se nos prximos anos. Como atrs referi, o resultado das polti-
cas que agora se desenham depende muito das foras e do posiciona-
mento dos diferentes actores sociais, tanto no plano da negociao como
na mobilizao de recursos e formas de luta que venham a surgir. Pode
porm admitir-se que, num cenrio de curto prazo continuem a persis-
tir, lado a lado com a crescente incorporao das novas tecnologias da
informao, alguns dos velhos princpios do taylorismo sobretudo na
estrita esfera da produo , se bem que agora descartado das polticas
de emprego permanente e dos mercados estveis da era fordista.
Para alguns autores (Kovcs e Castillo, 1998), entre os vrios cen-
rios provveis podem destacar-se: 1) um neo-taylorismo dualista que as-
senta no livre desenvolvimento do neoliberalismo e que tender a cavar
ainda mais as desigualdades sociais e laborais, num cenrio de desregu-
110 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
lamentao, debilidade sindical e precarizao da fora de trabalho me-
nos qualificada; 2) um neo-taylorismo moderado, com alguma atenuao
dos efeitos negativos deste processo, atravs da aco redistributiva do
Estado, da negociao informal, da formao profissional e do reforo
de alguns sectores da fora de trabalho que podem ver a sua influncia
negocial aumentar; 3) um modelo de lean production hipercompetitiva, com
crescimento da racionalidade econmica, subalternizao dos sindica-
tos, com negociao e participao individual a nvel da empresa em
detrimento da negociao colectiva, marginalizando os sectores mais
precarizados e cooptando os mais qualificados da fora de trabalho; ou,
por fim 4), a emergncia de um modelo antropocntrico, que se define como
um sistema moldado s competncias internas das empresas, em que a
flexibilidade pressupe o estmulo qualificao dos trabalhadores,
sua polivalncia e participao activa, tornando a produtividade com-
patvel com a qualidade de vida e a cidadania laboral.
Se vier a triunfar, o modelo antropocntrico apenas pode antever-
se no mdio ou longo prazo e, provavelmente, ser antecedido de uma
fase de forte agitao social que, de resto, as actuais tendncias deixam
adivinhar. Este sistema produtivo apresenta-se, assim, como uma pos-
svel alternativa capaz de favorecer a redescoberta do trabalho, na base
de novas alianas entre tecnologias de ponta, estratgias de gesto fle-
xveis e democrticas, e pressupondo uma aposta nas pessoas e nas
suas potencialidades criativas. Num tal cenrio, os novos recursos da
sociedade informacional devem ser complementados com objectivos so-
ciais, ecolgicos e organizacionais por forma a desenvolver as capacida-
des humanas, tais como a autonomia, a criatividade, a participao e a
cooperao.
A referncia a modelos de organizao produtiva no deve, evi-
dentemente, esquecer a enorme heterogeneidade do tecido produtivo.
Os modelos no so seno tipos ideais, isto , representam tendncias
que disputam entre si a hegemonia do sistema de produo, mas que
na realidade coexistem e por vezes se misturam entre si. Em todo o
caso, de esperar que as polticas de regulao laboral sejam desenha-
das tendo em conta essa diversidade de tendncias. Para alm das dis-
tines entre sectores econmicos, nveis de exigncia de recursos tec-
nolgicos e graus de complexidade organizacional, importante ter pre-
sente a vinculao espacial e territorial da actividade empresarial, visto
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 111
que as capacidades endgenas das empresas dependem sempre das
condicionantes tcnico-culturais dos ambientes e espaos envolventes
onde as mesmas operam. Contributos interessantes nesse sentido so,
por exemplo, as abordagens centradas no conceito de sistemas produtivos
locais, que realam a importncia das sinergias locais, da articulao en-
tre diferentes tipos de recursos, tcnicos, humanos, culturais vinculados
a um dado territrio como base fundamental de enquadramento de es-
tratgias de renovao econmica (Reis, 1992; Reis et al., 1999). Os pro-
gramas de reconverso dos distritos industriais em Itlia (Becattini, 1994),
ilustram bem as potencialidades das polticas de renovao do tecido
industrial fundadas nesta concepo, em que se apostou no estmulo ao
trabalho qualificado e bem remunerado e na implicao dos emprega-
dos nas estratgias e polticas de gesto empresarial. A capacidade com-
petitiva depende essencialmente das vantagens sectoriais ou regionais,
dos saberes implcitos das redes locais (formais e informais) desde que
se criem mecanismos capazes de desenvolver programas de inovao
sustentados pela dinamizao coordenada desses recursos (Heidenreich
e Krauss, 1998; Cooke, 1998).
3. ProbIcmas dc dcscnvoIvimcnto tccnoIogico cm PortugaI
So conhecidas as dificuldades que Portugal continua a enfrentar
no domnio da inovao tecnolgica e da sociedade do conhecimento.
Efectivamente, mesmo sem deixar de reconhecer algumas evolues
positivas, nomeadamente no sistema educativo e na investigao cien-
tfica e tecnolgica, inevitvel constatar as enormes dificuldades com
que se debate o esforo de modernizao, sobretudo no mundo em-
presarial. Por isso, no obstante todo o conjunto de mudanas sociais
que atravessou a sociedade portuguesa ao longo das ltimas trs d-
cadas, no de estranhar que na generalidade dos estudos comparati-
vos internacionais o nosso pas continue a evidenciar um atraso estrutu-
ral preocupante.
Segundo dados da OCDE (1998), Portugal ocupa ainda o penlti-
mo lugar no que se refere percentagem de populao com pelo menos
o ensino secundrio, isto , apenas 20% da populao entre os 25 e os 64
112 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
anos possui esse nvel de educao, o que corresponde a cerca de um
tero da mdia dos pases da OCDE, que de 60%. No entanto, convir
no esquecer que o ensino superior teve um aumento extraordinrio
desde os anos 70: se no ano de 1970-1971 existiam apenas cerca de 49 mil
estudantes inscritos no ensino superior, em 1980-1981 esse valor passou
para cerca de 84 mil inscritos, em 1990-1991 para 186 mil e em 1999-2000
situava-se nos cerca de 370 mil. Todavia, o peso percentual da popula-
o portuguesa com um nvel de educao superior, situa-se ainda na
ordem dos 8 a 9%, um valor bastante abaixo da mdia europeia e dos
pases da OCDE (15%). As reas das cincias exactas e tecnolgicas (Cin-
cias Naturais, Matemtica e Informtica, Engenharia, Cincias Mdicas
e Arquitectura), correspondem apenas a 26% do total de diplomados no
ensino superior, posicionando-se em ltimo lugar e a uma distncia sig-
nificativa dos pases da Unio Europeia
3
(Barreto, 2000: 46).
No que respeita investigao cientfica, o nmero de doutorados
em Portugal por ano actualmente cerca de dez vezes superior ao do
incio dos anos 70, sendo que, ao contrrio do que acontecia at ao incio
dos anos 80, os doutoramentos atribudos por universidades portugue-
sas hoje acima dos 80% do total de graus obtidos. Por outro lado, segun-
do um estudo recente de Mira Godinho (1999), a distribuio dos recursos
humanos altamente qualificados (nomeadamente os mestres e doutores)
nas empresas privadas ainda quase insignificante, sendo sobretudo no
sistema de ensino superior que se concentram os recursos humanos mais
qualificados, ou seja, apesar do aumento substancial de pessoal ligado a
actividades de I&D (de apenas 4 mil em 1964 para mais de 18 mil em
1997) e do notvel aumento da produo cientfica portuguesa referen-
ciada internacionalmente, persiste uma orientao predominantemente
circunscrita ao meio acadmico (Godinho, 1999; Kovcs, 1992).
Segundo as comparaes efectuadas pelos Relatrios das Naes
Unidas (PNUD), com base no ndice de Desenvolvimento Humano
(IDH)
4
, Portugal tem revelado desde os anos setenta uma evoluo po-
3. Vo|a-so os sogulntos valoros. Dlnamarca, 37, Alomanha 48, Lspanha, 32, lrana,
37, lrlanda, 39, ltlla, 33, Holanda, 31, Austrla, 33, llnlndla, 60, Sucla, 47, kolno
Unldo, 36 (arroto, 2000. 46).
4. Lsto indlco construido a partlr do uma comblnaao dos lndlcadoros. kondlmonto e
ca|ta, Lsporana do Vlda, o 1axa do Alabotlzaao do Adultos. Numa oscala quo varla ontro 0 o 1,
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 113
sitiva, embora tmida, situando-se entre os trinta pases mais desenvol-
vidos, mas nas posies da cauda. Em 1998 e 2001 ocupmos a 28 posi-
o, e subimos em 2002 para a 26 posio (PNUD, 2004). O relatrio de
2001, dedicado mais especificamente anlise do potencial tecnolgico,
mostrava que em relao ao nmero mdio de anos de escolaridade (da
populao com mais de 15 anos), Portugal revelava um nmero mdio
de 5,9 anos (em 2000), resultado este que bastante inferior a pases
como a Eslovnia (7,1), Barbados (8,7), Repblica Checa (9,5), ou o Chile
(7,6) (PNUD, 2001: 52). Segundo a mesma fonte, em 2001 Portugal ocu-
pava o 27 posto no chamado ndice de Realizao Tecnolgica (IRT)
5
apresentado no relatrio desse mesmo ano. Curioso notar que em al-
guns dos itens mais importantes na construo das redes globais de co-
municao e que sem dvida constituem hoje factores relevantes para
potenciar a inovao , como so os casos dos telefones (fixos e mveis)
e da internet, Portugal revela evolues notveis. O nmero de assinan-
tes de telefones fixos subiu, entre 1990 e 1999, de 243 para 424 por 1000
pessoas; e no que se refere aos telemveis assistiu-se no mesmo perodo
ao impressionante aumento de 1 para 468 por 1000 pessoas; e finalmen-
te, quanto aos utilizadores da internet, cresceram de 1,3 para 17,7 por
1000 pessoas entre 1990-1999, nmero que saltou para 193,5 por 1000
pessoas em 2002 (PNUD, 2004).
Se nos reportarmos mais estritamente inovao tecnolgica na
esfera empresarial, as dificuldades so ainda mais notrias, apesar do
progresso verificado em alguns indicadores. Segundo algumas fontes,
nos finais da dcada de oitenta a grande maioria das empresas portu-
guesas j tinha informatizado os seus servios de contabilidade, cerca
de metade alterou os seus mtodos de gesto do pessoal e 10% recor-
riam a servios tcnicos especializados, prprios ou contratados no ex-
terior (Silva, 1990). Porm, o investimento na inovao e na formao
profissional revelador de alguma confiana dos empresrios nas van-
a poslao do lortugal ovolulu do sogulnto modo. 0,785 om 1975, 0,823 om 1985, 0,876 om
1995, com uma quobra para 0,864 om 1998, sublndo do novo para 0,892 om 2000, o para 0,897
om 2002 (lNUD, 2000 o 2004).
5. C lk1 ol olaborado a partlr do crltrlos como. numoro do patontos e ca|ta (crladas o
rocoltas do oja|t|es/, dlusao do lnovaos antlgas (toloonos o oloctrlcldado), o rocontos (|ote-
oet/, oxportaao do produtos do mdla o alta tocnologla, o qualllcaos humanas (anos do osco-
larldado o llconclados om clnclas o tocnologla) (lNUD, 2001. 46).
114 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
tagens competitivas da componente tecnolgica no foi, de modo
nenhum, acompanhado da mesma abertura perante a necessidade de
mudana organizacional, situao que, como sabido, reflecte a persis-
tncia de uma mentalidade tradicionalista ainda incrustada em largos
sectores do tecido empresarial portugus (Freire, 1998).
No incio dos anos 90, os estudos efectuados mostravam o crescen-
te recurso s tecnologias de informao, mas ao mesmo tempo uma evi-
dente retraco das empresas no investimento em elementos imateriais,
assim como uma persistncia de atitudes centralizadoras e de falta de
estratgia no campo da gesto (CISEP/GEPIE, 1992). Um estudo desen-
volvido nos anos 90 sobre as PMEs portuguesas (Simes, 1996), sinteti-
zava alguns traos caractersticos das empresas portuguesas a este res-
peito: as barreiras inovao decorrem menos da capacidade de meios
instalados e mais da falta de estratgia; as atitudes dos empresrios e
gestores de topo constituem o factor determinante das iniciativas de ino-
vao; o modelo tradicional de gesto centralizada constitui o maior obs-
tculo inovao; a escassez de tcnicos e de recursos humanos a de-
ficincia fundamental das PMEs; a mudana tecnolgica frequente-
mente encarada como exgena actividade empresarial; as empresas
mais inovadoras possuem estilos de liderana mais abertos e favorveis
ao trabalho em equipa; no h qualquer correlao evidente entre a di-
menso da empresa e o seu posicionamento acerca da inovao; existe
uma consciencializao crescente da necessidade de recurso s novas
tecnologias, quer ao nvel da concepo e da produo, quer das redes
de comunicao e partilha de bases de dados com os clientes; verifica-se
uma estreita associao entre a juventude da empresa e as atitudes mais
favorveis inovao (Simes, 1996).
Evidentemente que tanto as polticas de incentivo inovao em-
presarial como as de apoio s actividades de I&D ou as polticas educa-
tivas no podem, por si ss, resolver as carncias existentes, principal-
mente ao nvel das empresas. Podem, no entanto, influenciar decisiva-
mente o potencial de inovao cientfica e ao mesmo tempo favorecer
mecanismos de articulao capazes de contrariar o actual divrcio entre
a investigao cientfica e o sector produtivo. Nessa medida, impor-
tante sublinhar que, mais do que a existncia de polticas e incentivos
estatais coerentes, so sobretudo os factores endgenos que mais decisi-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 11S
vamente podem promover uma inovao tecnolgica sustentada e en-
quadrada por orientaes e estratgias de mudana ajustveis s especi-
ficidades e carncias do pas.
Como sabemos, existe em Portugal um enorme dfice neste dom-
nio, em larga medida resultante da debilidade associativa dos agentes
econmicos em particular no campo das PMEs e das dificuldades
de articulao entre os programas governamentais de incentivo inova-
o e as diversas instituies e actores sociais locais. O rpido cresci-
mento das micro-empresas (at 10 trabalhadores), muitas delas lidera-
das por jovens empresrios, e as vrias polticas governativas de incen-
tivo modernizao,
6
revelam potencialidades mas tambm alguma in-
consistncia. Os frgeis resultados at agora obtidos, a ausncia de uma
poltica de conjunto assente em prioridades nacionais e consensos de
regime, previamente negociados entre todos os parceiros sociais, so-
mados a uma conjuntura econmica pouco favorvel e a uma orienta-
o poltica largamente baseada em princpios puramente economicistas
e liberais, deixam antever novas dificuldades.
O diagnstico realizado nos anos 80 por Michael Porter, destinado
a desencadear novas aces sobre os vrios clusters, articulando os dife-
rentes actores-chave (empresas, centros tecnolgicos, centros de forma-
o, institutos politcnicos e de I&D), teve pelo menos a virtude de in-
troduzir um importante alerta que apelava modernizao de alguns
dos sectores considerados decisivos para a economia portuguesa (auto-
mvel, calado, malhas, produtos da madeira, turismo e vinho). Segun-
do a ex-ministra do trabalho, Maria Joo Rodrigues,
7
aquele relatrio
deveria ter dedicado maior ateno s novas tecnologias da informao
(NTIs) e ao seu impacto naqueles sectores e alerta para a urgente neces-
sidade de articular melhor as polticas pblicas e tecnolgicas, estimu-
lando parcerias com a sociedade civil a fim de identificar critrios mais
precisos para afectar os incentivos inovao. A inovao tcnica e a
dimenso social so, portanto, componentes inseparveis. Sem o incen-
6. Do quo sao oxomplos, o lrograma Cporaclonal da Lconomla (lCL), dostlnado a gonorall-
zaao do uso do tocnologlas do lnormaao nos soctoros dltos tradlclonals o a molhorla das ormas
do organlzaao o gostao, o Slstoma do loquonas lnlclatlvas Lmprosarlals (SlllL), ou o roconto
lrograma lntogrado do Apolo a lnovaao (lrolnov).
7. Lntrovlsta ao }ornal |o||co, 11/05/01.
116 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
tivo ao dilogo social entre as instituies econmicas, sociais e polti-
cas, isto , sem uma poltica sria de concertao entre o conjunto dos
parceiros, no ser possvel reunir as condies ideais para potenciar a
inovao tecnolgica (Kovcs e Castillo, 1998).
4. Novas c vcIbas dcsiguaIdadcs sociais c Iaborais
Naturalmente que as questes do trabalho e da mudana tecnol-
gica sempre possuram um alcance social mais vasto. No existe qual-
quer determinismo tecnolgico ou mesmo organizacional, pelo que a
anlise dos processos de mudana no mundo do trabalho exige que se
situe o problema a nvel da estrutura social no seu conjunto. Hoje como
ontem, a tecnologia e as repercusses sociais das suas aplicaes obe-
decem a lgicas polticas e scio-culturais que condicionam tanto os
seus impactos como as prprias condies da sua emergncia. Traba-
lho e tecnologias so no s elementos constituintes da realidade so-
cial como constituem factores nucleares na recomposio das desigual-
dades sociais. nessa medida que importa referir alguns dos princi-
pais traos da sociedade portuguesa e das profundas desigualdades
sociais que se inscrevem na estrutura de classes do nosso pas. Justa-
mente porque tais desigualdades de classe exprimem clivagens estru-
turais persistentes na populao activa portuguesa, elas deixam antever,
sob um outro prisma, alguns dos mltiplos contrastes presentes na
esfera laboral.
O conhecimento e as tecnologias so poderosas foras produtivas
que actuam na transformao das sociedades, mas quer a forma como
se processa a sua assimilao social quer o acrscimo de riqueza que
proporcionam obedecem s contradies e desigualdades estruturais
instaladas. Importa, por isso, recordar que a sociedade portuguesa evi-
dencia ainda uma estrutura social bem distinta da das sociedades mais
desenvolvidas. Com efeito, a estrutura social do nosso pas encerra par-
ticularidades que deixam antever o acentuar de clivagens e a agudizao
dos conflitos, caso se insista em impor uma poltica laboral assente numa
ideia de competitividade meramente liberal e meritocrtica. A matriz
das posies de classe em Portugal apresenta um conjunto de barreiras,
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 117
distncias e contradies estruturais seja ao nvel das posies de
classe objectivas, com fortes discrepncias na distribuio de recursos,
seja ao nvel das orientaes subjectivas, com vises extremamente
dicotomizadas sobre os interesses em presena tpicas de uma estru-
tura de classes ainda fortemente polarizada e com uma classe mdia
bastante frgil.
Enquanto a nvel da Europa, por exemplo, o desenvolvimento so-
cial, econmico e tecnolgico que se seguiu ao perodo do ps-guerra,
dinamizou substancialmente a recomposio da fora de trabalho e das
classes sociais em geral com a profissionalizao das estruturas de
gesto das empresas, a expanso do sistema de ensino, a incorporao
de novas tecnologias , acelerando a mobilidade social e o consequente
crescimento das classes mdias (Goldthorpe, 1969; Giddens, 1975;
Dharendorf 1982), no nosso pas manteve-se uma situao de enorme
atraso estrutural at h poucas dcadas. Portugal entrou na dcada de
setenta do sculo passado como uma sociedade eminentemente rural,
e s a partir de ento comeou de forma, alis, muito dbil e lenta
a modernizar o seu tecido industrial, persistindo at tardiamente as
desigualdades herdadas do passado pr-industrial e muitos vnculos
sociais, dependncias e atitudes de resignao perante o poder, alimen-
tados pelo salazarismo durante quase meio sculo. Muitas das mudan-
as scio-econmicas que ocorreram nas sociedades industriais h mais
de cinco dcadas, s nos ltimos vinte anos se iniciaram em Portugal e,
mesmo estas, foram muitas vezes parcelares e oscilaram ao sabor de
polticas errticas e pouco planeadas, pelo que denotam a presena de
fortssimos contrastes sociais e culturais, onde o moderno e o pr-mo-
derno, o rural e o urbano, o interior e o litoral apresentam um mosaico
social repleto de oposies e ambiguidades.
Essas contradies estruturais retratadas num estudo realizado
no Centro de Estudos Sociais sobre as classes sociais na sociedade por-
tuguesa (Estanque, 1997; Estanque e Mendes, 1998) do-nos uma ima-
gem da composio da populao activa, dos seus nveis de qualificao
e condies de trabalho, da influncia que possuem nas decises, do
grau de autoridade e dos nveis das credenciais escolares. A comparao
dos resultados com outros pases (EUA, Sucia e Espanha) permitiu
observar, por exemplo, que Portugal possui o maior peso percentual do
118 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
segmento designado por proletrios, com 46,5%. Dada a natureza dos
indicadores utilizados na definio desta categoria, aquele valor refere-
se no apenas ao operariado industrial desqualificado, antes evidencia
o peso estatstico do sector mais vulnervel da fora de trabalho, que
inclui trabalhadores manuais, trabalhadores dos servios em situao
precria, e restantes empregados com baixos nveis de qualificao e
sem qualquer autonomia ou autoridade no trabalho (Esping-Andersen,
1993). Por outro lado, a distribuio das vrias categorias da classe
mdia (as diferentes posies intermdias de assalariados com varia-
dos nveis de qualificao e de autoridade) mostrou o baixo peso per-
centual de gestores, supervisores e trabalhadores semi-qualificados, si-
tuao ainda mais notria no caso particular das empresas privadas.
Efectivamente, a grande maioria das posies de classe mdia esto
vinculadas ao sector pblico, reflexo claro do dfice de modernizao
empresarial a nvel tecnolgico e dos modelos de gesto, como atrs foi
assinalado.
Ao mesmo tempo, esta situao ajuda tambm a perceber o papel
do Estado e dos impactos do seu crescimento na recomposio do teci-
do social. O crnico sentido de dependncia do cidado portugus
perante as instituies estatais deriva no s do recente passado hist-
rico de estatismo autoritrio, mas tambm desta persistente influncia
do aparelho administrativo cujas repercusses se vislumbram em to-
dos os domnios, do econmico ao cultural e subjectivo. A relao dos
portugueses com o Estado parece exprimir uma espcie de dependn-
cia tutelar, alimentada por um imaginrio que promove a apatia e a
acomodao custa da sacralizao das estruturas do poder. neste
sentido que podemos dizer, seguindo aqui uma formulao de Boa-
ventura de Sousa Santos, que a regulao do Estado se faz sobretudo
por omisso, visto que a sua eficcia evidencia uma muito escassa capa-
cidade de aco, de que a inefectividade do direito laboral apenas um
exemplo entre outros.
Um outro dado curioso que se retira do referido estudo refere-se s
posies de chefia na estrutura do emprego. Enquanto as posies de
autoridade que incorporam significativos recursos educacionais so in-
significantes quando comparadas com a situao dos pases mais de-
senvolvidos, nos casos em que essa autoridade coincide com baixos re-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 119
cursos educacionais as respectivas categorias ultrapassam os valores per-
centuais verificados nos restantes pases. Por fim, um segmento da for-
a de trabalho mais qualificada, que parece estar em crescimento, ape-
sar de ser ainda pouco significativo (a categoria de classe designada por
tcnicos no-gestores, com 3,6%), revela bem as dificuldades do mer-
cado de emprego em absorver alguns dos sectores mais jovens e com
instruo universitria e seguramente em reconverter as suas eleva-
das qualificaes em posies de responsabilidade compatveis , sector
este que ao mesmo tempo evidencia atitudes mais criticas e formas de
interveno mais activas na esfera associativa. Esta questo prende-se
directamente com o problema do poder e da participao democrtica
no trabalho e na sociedade em geral.
S. CIivagcns sociais c controIo dcspotico (cxcmpIos dc um scctor
tradicionaI)
A participao e o desenvolvimento da cidadania na esfera laboral
obedecem naturalmente s assimetrias dos recursos incorporados pelas
diferentes posies de classe (autoridade, qualificaes, propriedade). E
sem dvida que as especificidades de cada sector produtivo apresen-
tam diferenas claras, tanto na configurao da estrutura das classes
como nas subjectividades e atitudes dos trabalhadores.
Ao proceder comparao dos resultados nacionais daquele estu-
do (baseado numa amostra representativa da populao activa) com os
da regio do sector industrial do calado a partir de uma pesquisa cen-
trada na zona de S. Joo da Madeira (SJM) (Estanque, 2000),
8
foi possvel
verificar, por um lado, diferenas sectoriais marcantes, j que se trata de
uma zona fortemente industrializada, onde pontificam o trabalho inten-
sivo, a mo-de-obra feminina e os baixos salrios e, por outro lado, os
profundos contrastes sociais entre a situao objectiva da fora de traba-
lho e as suas atitudes subjectivas. A situao do sector industrial do cal-
8. Quo nosto caso so basoou numa amostra da populaao actlva apllcada nos concolhos do S.
}oao da Madolra, Cllvolra do Azomls o Vlla da lolra. (Vo|a-so Lstanquo, 2000. capitulo 5).
120 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
ado, que aqui se retrata, , como disse, ilustrativa de condies de tra-
balho e modelos de gesto comuns generalidade da indstria tradicio-
nal portuguesa, nomeadamente as indstrias txtil e do calado, onde
predominam as PMEs. Por isso, os resultados obtidos exprimem no s
as contradies da indstria portuguesa, mas tambm as clivagens exis-
tentes entre a indstria tradicional e alguns sectores do funcionalismo,
onde prevalece ainda um sistema de tipo fordista (em especial os sectores
da educao, sade e administrao pblica local e central).
9
Entre os resultados mais salientes destaca-se, desde logo, que as
posies de classe mdia as quais, como se viu, j eram pouco re-
presentativas a nvel do pas praticamente desaparecem na regio.
Verificou-se tambm que as categorias qualificadas da fora de trabalho
so praticamente residuais, oscilando entre os 0,3% e os 0,7%, enquanto
a categoria proletria aumenta drasticamente para 60,2% quando com-
parada com os 46,5% a nvel nacional. A fora do mercado e a competi-
o individual entre os trabalhadores conjugam-se com uma matriz cul-
tural tradicionalista, marcada pela escassez econmica e pelas refern-
cias simblicas ao mundo rural. H uma permanente convulso no teci-
do empresarial, composto sobretudo por microempresas, cujos proprie-
trios so quase totalmente antigos operrios. Da resultam elevados
fluxos de mobilidade social, lado a lado com altas taxas de reproduo:
por exemplo, em 28% dos empregadores os seus pais eram tambm
empregadores, mas em 44% deles os pais eram proletrios; por sua vez
em 70% dos proletrios os seus pais tambm o eram, mas 22% so oriun-
dos de pais proprietrios. Porm, considerando globalmente a estrutura
classista das duas geraes comparadas, verifica-se que a lgica das de-
sigualdades permaneceu praticamente inalterada. curioso ainda notar
que, no plano das atitudes subjectivas, muitos trabalhadores desta re-
gio, incluindo uma parte dos proletrios e apesar da maioria dos
9. Aposar do sor ontro os soctoros mals dbols da ora do trabalho manual quo mals croscom
as sltuaos atiplcas o do trabalho procrlo, lmporta lombrar quo tambm ontro os omprogados
da admlnlstraao publlca so tom vlndo a cavar uma dlvlsao, cada voz mals vlsivol, ontro os traba-
lhadoros com vinculo pormanonto o os sogmontos quo prostam sorvlos na baso dos contratos a
prazo. Lstos, sao prodomlnantomonto mals |ovons o com nivols oducaclonals mals olovados, mas
pormanocom om sltuaao do grando procarlodado, som autonomla o com balxas (ou nulas) ox-
poctatlvas om tormos do carrolra.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 121
operrios industriais auferirem rendimentos ao nvel do salrio mnimo
se consideram a si prprios como membros da classe mdia e ten-
dem a manifestar opinies sobre a sociedade e as relaes de trabalho
muitas vezes coincidentes com a ideologia patronal.
A principal concluso a retirar desta comparao a seguinte: as
assimetrias e desigualdades sociais existentes no nosso pas, alm de
assentarem em enormes discrepncias de oportunidades e padres de
bem-estar material, promovem modelos de representao subjectiva, ex-
pectativas de vida e relaes de trabalho que evidenciam bem o poder
das opresses instaladas sobre os segmentos mais dependentes e prec-
rios da fora de trabalho. Paradoxalmente, so as situaes onde os me-
canismos de explorao so mais notrios, onde os contrastes entre ri-
queza e pobreza so mais flagrantes, que mais eficincia manifestam na
produo de mecanismos de consentimento, sem dvida fundados em
poderosos sistemas de controlo e micro-ideologias de cariz feudal, ten-
dentes a legitimar as desigualdades e o status quo existentes. O proble-
ma que quando esta lgica encoberta por um discurso patronal e
institucional que apenas sublinha os resultados positivos de crescimen-
to econmico, quando se enaltece a capacidade competitiva de sectores
industriais como o do calado, escondendo as situaes de hiperexplo-
rao e de dependncia absoluta dos trabalhadores perante o poder au-
toritrio dos patres, est-se a promover no um padro de desenvolvi-
mento prprio das democracias avanadas, no a competitividade ba-
seada na inovao tecnolgica, mas sim um modelo produtivo onde
predominam o taylorismo anacrnico e as formas mais retrgradas de
despotismo.
Ora, esta realidade, que em larga medida ilustra a situao laboral
do nosso pas, deveria suscitar propostas e medidas legislativas capazes
de inverter este estado de coisas. Todavia, isso requer um olhar sobre as
prticas concretas que vigoram em sectores nevrlgicos do tecido pro-
dutivo portugus e no se compadece com diagnsticos baseados ape-
nas na letra da lei. O sector industrial do calado , efectivamente, o
exemplo de um regime desptico-paternalista caracterizado por relaes
laborais de tipo ps-fordista, que no entanto nunca passou pelo fordismo.
Os seus fundamentos inscrevem-se na prpria histria local e na tradi-
o artesanal e patriarcal que inaugurou a produo de calado na re-
122 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
gio de S. Joo da Madeira (Estanque, 2000). medida que a indstria
moderna se expandiu, a produo oficinal, de base familiar, foi progres-
sivamente dando lugar a um paternalismo de cariz neo-feudal, atra-
vs do qual se passou do governo da famlia (do patriarcado) para o
governo atravs da famlia. Trata-se, pois, de um paternalismo desptico
construdo a partir das crescentes exigncias disciplinares da produo
industrial, na base de uma lgica empresarial que incorporou no seu
seio os tradicionais laos de lealdade enraizados nas solidariedades pri-
mrias do mundo pr-industrial, reconvertendo-os posteriormente em
apertados mecanismos de controle que se vem estendendo da fbrica
para fora da fbrica. Ou seja, o poder autocrtico de muitos empresrios
no apenas se faz sentir no seio da empresa sobre um operariado
extremamente dependente e que, de um modo geral, aceita sem contes-
tao a flexibilidade ditada de cima , mas que muitas vezes faz uso
das redes informais e da influncia que possui para exercer uma vigi-
lncia porventura invisvel mas de grande eficcia no controlo dos tra-
balhadores tambm na esfera da famlia e da comunidade.
6. DiscipIina, conscntimcnto c rcbcIdia tcita
A presena dos sistemas de controlo que acabo de referir no deve,
no entanto, ser interpretada como sinnimo de uma total passividade
por parte dos trabalhadores. O estudo que efectuei numa empresa deste
sector comprovou plenamente esta afirmao. Pode mesmo dizer-se,
maneira de Foucault, que a violncia com que se exerce o poder tanto
maior quanto maiores forem as potencialidades de rebeldia. Bastar, alis,
atentar em alguns ttulos da imprensa escrita portuguesa para poder-
mos antever o dfice democrtico e as condies repressivas vividas pelos
trabalhadores em muitas empresas.
Sindicalista esfaqueado por empresrio do calado (Jornal de Notcias,
15/3/88); Seguranas agridem sindicalistas em fbrica de S. Joo da Madei-
ra (Jornal de Notcias, 20/7/90); S. Joo da Madeira Violncia na greve do
calado (Pblico, 1/9/93); Patro e seguranas condenados por agresso a
sindicalistas (Jornal de Notcias, 15/11/96); GNR diz que no viu nada
Sindicalistas sequestrados pela entidade patronal (Jornal da Feira, 8/5/98);
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 123
Patro do calado condenado por sequestro de sindicalistas (Jornal de Not-
cias, 25/3/00); Trabalhadora acusa patro de tentativa de agresso (Pblico,
29/11/02).
Estas referncias mostram como o sindicalismo, apesar de pratica-
mente ausente da maioria das fbricas de calado, mantm uma forte
presena no imaginrio patronal do sector. O sindicato um referente
que, para os empregadores mais retrgrados, funciona como elemento
expiatrio dos problemas sociais do trabalho. A atitude de diabolizao
da actividade sindical e o despoletar de sinais de violncia mnima
referncia a esse elemento (que eu prprio constatei em vrias entrevis-
tas a empresrios), mostram que o sindicalismo est na verdade presen-
te, apesar de ausente, na maioria das pequenas empresas. Contudo, a
conscincia sindical dos trabalhadores muito fraca e grande parte de-
les demarca-se abertamente do sindicato.
Na empresa de SJM onde realizei um estudo de caso com base no
mtodo de observao participante, tendo trabalhado durante cerca de 3
meses como operrio (Estanque, 2000), pude comprovar que a confli-
tualidade pode assumir-se sob diversas formas e que os conflitos poten-
ciais, bem como as situaes de profunda insatisfao no trabalho, no
dependem da influncia do sindicalismo ou de ideologias revolucion-
rias. Os sinais de rebeldia tcita, subtil e latente esto abundantemente
presentes e assumem as mais variadas formas. A linguagem simblica
que se inscreve nos gestos e comportamentos quotidianos exprime
clivagens e identificaes que resultam do exerccio do poder desptico
e do medo que lhe inerente. uma linguagem de ressentimento (ou se
quisermos, de classe) que se inscreve, no na conscincia mas na identi-
dade do colectivo operrio; que se exprime no atravs da luta poltica e
sindical, mas atravs de prticas e gestos de resistncia; que se manifes-
ta no na reivindicao ruidosa, mas na revolta surda dos pequenos
desabafos de descontentamento recalcado.
Esta realidade ilustra, por um lado, que o taylorismo continua a ser-
vir como modelo de referncia para muitos empresrios, mas, por outro
lado, mostra que tal modelo nunca conseguiu, na prtica, consumar por
completo a separao entre concepo e execuo. Os responsveis da
gesto, embora chamem a si o controle do conhecimento tcnico, no
conseguem monopoliz-lo em absoluto. O saber-fazer do trabalhador
124 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
permite-lhe pr em prtica processos mais ou menos subtis que tendem
a contrariar as regras da hierarquia e, de certo modo, recriar a unidade
entre concepo e execuo. A fbrica industrial continua a ser um es-
pao onde as fontes de poder informal, fundadas no saber tcnico, na
subtileza da pequena sabotagem ou nas regras do jogo que se apren-
dem a dominar. No entanto, tais prticas tanto podem redundar em for-
mas de resistncia mais activas como na promoo de mecanismos con-
sentimento que acabam por legitimar o despotismo vigente (Burawoy,
1979 e 1985).
As formas que um tal jogo de poderes adquire na vida da empre-
sa so bem visveis na relao entre o grupo operrio e as chefias directas.
Sublinhe-se que o exerccio do poder autoritrio, alm de ser mais vis-
vel quando dirigido aos sectores mais vulnerveis da fora de traba-
lho, tambm obedece a uma lgica de discriminao sexista. O encarre-
gado da linha de montagem descreveu-me aspectos ilustrativos da re-
sistncia tcita e mostrando como as mulheres so um alvo predilecto
do poder desptico: algumas [trabalhadoras da seco de acabamen-
tos] tentavam-me fazer a vida negra (). Estavam sempre a apalpar o
pulso. Se sentiam que era mole abusavam logo () Havia coisas em que
ainda tinha pouca prtica, mas sempre fui procurando melhorar, at
saber fazer bem, como hoje, qualquer operao na linha de montagem.
Quando preciso mostrar, sento-me ao lado do operador e mostro-lho
como se deve fazer (). Eu prprio testemunhei os seus gritos de lon-
ge para as mulheres da seco de acabamentos ests a limpar as
unhas?! , numa atitude bem reveladora do carcter desptico do po-
der. Porque me chocava a sua pose militarista e a imagem de humilha-
o nos rostos de algumas operrias, quando tive oportunidade per-
guntei-lhe se no seria prefervel ir junto delas e falar. Explicou-me en-
to que no incio tentou fazer isso, mas no resultou. Porqu?, per-
guntei. Porque quando me ia a dirigir a um pequeno grupo que estava
a conversar, surgiam sempre vozes que me chamavam a meio do cami-
nho para resolver qualquer problema. Passado algum tempo eu aperce-
bi-me que aquilo era de propsito!. Esta descrio evidencia bem as
formas subtis de que se revestem as prticas de resistncia. As mulhe-
res, alm de serem as principais vtimas dos abusos de poder, so tam-
bm claramente discriminadas no s por estarem afastadas das posies
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 12S
de chefia, apesar do seu peso maioritrio no sector,
10
mas tambm no que
respeita aos salrios, j que, vigoram ainda no sector as obsoletas tabelas
A e B, que do cobertura a uma efectiva discriminao sexual.
Estamos aqui perante um tipo de modelo produtivo onde a situa-
o precria em que se encontram os trabalhadores se conjuga com um
escasso desemprego, mas tambm com um regime de acumulao apoia-
do no trabalho intensivo e nos baixos custos salariais, ou seja, os ganhos
de produtividade alimentam-se em boa medida das baixas qualificaes,
favorecendo assim os dfice de formao profissional e de inovao tec-
nolgica e organizacionais existentes.
Por outro lado, o sentimento de falta de alternativas e os fortes
constrangimentos vividos pela fora de trabalho na esfera produtiva neu-
tralizam uma efectiva dedicao empresa. So motivos desta natureza
que fazem com que o trabalho perca estatuto enquanto fonte de digni-
dade e reconhecimento. Por isso os trabalhadores se escudam no s
nos pequenos jogos de rebeldia transgressiva, mas tambm em formas
de escapismo mental ou mecanismos de evaso, atravs dos quais se trans-
fere para a esfera comunitria ou familiar o principal locus de estrutura-
o identitria. a esta luz que devemos compreender questes como,
por exemplo, o absentismo, sobretudo em contextos industriais com estas
caractersticas, em que predomina a mo-de-obra feminina, e onde a
famlia e as solidariedades primrias jogam um papel decisivo.
Quer isto dizer que as questes do trabalho, da vida familiar e das
redes locais mantm entre si fortssimos elos de interdependncia, um
aspecto decisivo que a legislao laboral no pode ignorar. Isto d razo
tese de que as desigualdades econmicas precisam de ser combatidas
na base da sua estreita vinculao ao domnio simblico e cultural, ou,
dito de outro modo, refora a ideia de que faz hoje cada vez mais senti-
do conjugar as lutas pela redistribuio com a chamada luta pelo reconheci-
mento (Frazer, 2001; Honneth, 2001; Estanque, 2003).
10. Sogundo dados quo compllol no mou ostudo, a mao-do-obra omlnlna ora do corca do
60 para os trs concolhos quo anallsol (S. }oao da Madolra, Vlla da olra o Cllvolra do Azomls).
Alm dlsso, 87 das mulhoros (contra 29 dos homons) lntogravam a catogorla monos qualllca-
da, onquanto ao nivol do possoal qualllcado, polo contrrlo, o poso das mulhoros ora da ordom
dos 12 contra corca do 66 dos homons (Lstanquo, 2000, p. 364).
126 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Notas concIusivas: cmprcgo, inovao, novos duaIismos
c novas oprcsscs
Apesar das profundas transformaes em curso no mundo laboral
parece inegvel que o trabalho no pode deixar de continuar a constituir
um factor incontornvel de coeso e integrao social. Embora este sen-
tido atribudo ao papel social do trabalho desde o sculo XIX esteja hoje
cada vez mais ameaado, as novas segmentaes, excluses e desigual-
dades sociais que tm vindo a ser aprofundadas sombra do actual
processo de globalizao neoliberal continuam a ser estruturadas em
torno do trabalho e do emprego. O emprego enquanto sinnimo de acti-
vidade profissional para toda a vida um conceito em vias desapareci-
mento, mas o trabalho continua a ser a principal fonte de subsistncia e
de rendimento econmico, a que nem todos tm acesso (segundo dados
da OIT de 1999, cerca de um tero da fora de trabalho mundial estava
em situao de desemprego ou de subemprego). Apesar da ideia da
secundarizao do trabalho estar a ganhar terreno a nvel mundial, muitas
dessas anlises continuam a centrar-se na realidade dos pases do Nor-
te, embora sejam sobretudo as populaes dos pases pobres do hemis-
frio Sul que mais sofrem as consequncias nefastas da flexibilizao do
trabalho e da volatilidade do capital global. Assim, a instabilidade dos
mercados e a economia global precisam de novas polticas e mecanis-
mos de regulao social que atenuem as actuais tendncias de fragmen-
tao, o que exige que se ultrapasse o entendimento do trabalho como
mera utilidade econmica e que o mesmo possa aceder a um novo esta-
tuto de reconhecimento social (Castel, 1998). Se o trabalho continua a
ser um acto social pblico e colectivo, a normatividade laboral deve re-
conhecer a actividade e a dignidade do trabalhador enquanto elo indis-
socivel que liga o trabalho sociedade, pelo que o sistema de direitos e
deveres em que se enquadra no pode prescindir das suas mltiplas
componentes polticas, sociais, pblicas e colectivas que sustentam a
cidadania social (Ferreira, 2003: 130).
a esta luz que teremos de encarar o esforo de edificao de mode-
los produtivos sustentados pela revitalizao da dimenso social das em-
presas. A defesa de um trabalho decente e democrtico pressupe que os
programas de incentivo competitividade tero de fundar-se no apenas
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 127
em polticas de inovao tecnolgica, mas requer tambm que as mesmas
sejam conjugadas com formas de participao dos trabalhadores e com
processos de negociao sindical que passem pelo envolvimento de todos
os actores sociais implicados na vida empresarial. necessrio uma apos-
ta clara num outro modelo de competitividade que no o do trabalho
intensivo e dos baixos salrios, ainda em vigor nos sectores tradicionais, o
que indubitavelmente requer maior entronizao com o sistema educati-
vo e de investigao designadamente com o ensino profissional e tec-
nolgico , maior investimento na formao profissional e no associati-
vismo empresarial. Formao essa que poder fomentar a articulao en-
tre novos e velhos conhecimentos, o enquadramento das jovens gera-
es de trabalhadores e quadros qualificados com os saberes implcitos e
a experincia qualificante dos trabalhadores mais idosos, adquirida ao
longo da vida profissional. Esta estratgia, que tem sido incentivada por
alguns programas europeus, pode ser um passo importante para travar
os dualismos que vm penetrando o mercado de emprego. Contudo, tais
programas s tero sucesso se apoiados numa poltica de concertao que
envolva todos os parceiros sociais e se, tambm a nvel sectorial ou mes-
mo de empresa, a reestruturao produtiva se inserir em processos nego-
ciados com os trabalhadores e seus representantes.
Com efeito, as divises j existentes na sociedade portuguesa e no
mundo laboral deixam transparecer um conjunto de barreiras sociais
instaladas que, apesar de ainda contidas sob lgicas subjectivas de ele-
vada tolerncia, podem reverter-se numa conflitualidade desregulada,
de consequncias imprevisveis, se as condies de vida se agravarem
bruscamente para l das margens de privao relativa tolerveis. E
convm lembrar que as margens de tolerncia so menores nas situa-
es onde a interveno estatal maior. Se em alguns sectores o princ-
pio da regulao obedece a fundamentos scio-culturais e no aplica-
o do quadro legal, pode esperar-se que uma recontratualizao das
relaes laborais que assente exclusivamente no princpio do mercado e
que legalize o dualismo incluso/excluso venha a induzir situaes de
desregulao de facto (Ferreira, 2003: 130). Segundo um estudo recente,
Portugal um dos pases (ao lado do Brasil)
11
onde esto mais presentes
11. Cs outros paisos lncluidos na anllso do M. Vlllavordo Cabral sao o Canad, a Lspanha, a
kopubllca Choca o a Sucla (Cabral, 2002).
128 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
ideias como a de que preciso ser corrupto para se ter xito na vida
(40,7% de concordncia), ou a de que as desigualdades existem porque
beneficiam os ricos e poderosos (80%), ou ainda a de que as desigual-
dades continuam porque as pessoas no se unem para lutar contra elas
(69,6%) (Cabral, 2002).
Ora, estes indcios deixam antever que o aumento da precariza-
o e flexibilizao das relaes laborais (o peso dos contratos a prazo,
a subcontratao, o trabalho no domicilio, a expanso das redes clan-
destinas de mobilidade internacional de fora de trabalho e todo um
conjunto de formas atpicas de trabalho) est a contribuir para acen-
tuar novas formas de poder discricionrio, novos despotismos, exclu-
ses e formas de opresso no trabalho de que os regimes de fbrica
atrs referidos so apenas a ponta do icebergue. A conhecida distncia
ao poder, que tem sido assinalada como expresso da cultura portugue-
sa (Hofstede, 1980; Cabral, 1997), permite-nos admitir que os actuais
despotismos assumam contornos particularmente perversos, quer do
ponto de vista da dignidade humana, quer pelo seu efeito corrosivo
sobre as condies e ambientes de trabalho. A elevada margem de to-
lerncia que os subordinados admitem relativamente ao exerccio da
autoridade por parte dos seus superiores hierrquicos facilita todo o
tipo de abusos. Por um lado, quem ocupa posies de destaque e luga-
res de chefia exige uma dedicao sem limites por parte dos subordi-
nados. Por outro lado, os prprios subordinados, ou por falta de al-
ternativas ou porque esperam da retirar algum retorno, no raro,
deixam-se enredar numa lgica de promoo do consentimento e do
servilismo, amplificando assim os recursos de autoridade dos seus
superiores. Da que, quando esses laos de afinidade e dependncia se
quebram e a parte mais fraca comea a invocar direitos se assista mui-
tas vezes a reaces violentas, pessoais ou institucionais, mais abertas
ou mais subtis dando lugar aos chamados fenmenos de violncia psi-
colgica e de assdio moral no trabalho.
Estas e outras matrias permanecem no centro das actuais disputas
pela reconstruo dos modelos de relaes laborais. Se as mudanas em
curso no campo do direito laboral no podem secundarizar o seu papel
de discriminao positiva, se o direito do trabalho no pode deixar de
continuar a ser um direito compensatrio em favor do elo mais fraco,
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 129
isso requer que o binmio regulao/emancipao se mantenha, como
sugere Boaventura de Sousa Santos (2000), numa tenso criativa ca-
paz de recriar em novos moldes os princpios de regulao do Estado,
do mercado e da comunidade, por forma a contrariar a tendncia para a
crescente dissociao entre modelos econmicos e sociais no mundo do
trabalho.
Rcfcrncias bibIiogrficas
AkkL1C, Antonlo (org.) (2000), ^ S|tuaao Soc|a| en |otuga| 1960-1999. v. ll.
Llsboa. lmpronsa do Clnclas Soclals/lnstltuto do Clnclas Soclals.
LCA11lNl, Clacomo (1994), C dlstrlto marshalllano, |o C. onko o A. Llplotz,
C. (orgs.), ^s keg|oes Gao|aJoas. Colras. Colta.
LCK, Ulrlch (1992), k|s| Soc|etj. Londros. Sago.
______. (2000), Lo Nue.o \uoJo |e||z. |a eca|JaJ Je| taoao eo |a ea Je |a
g|ooa||zac|o. arcolona. laldos.
CLk, kobort et a|., (2000), |aa una |uoa Ja |oo.aao e Jo Coo|ec|neoto.
Colras. Colta.
UkAWC, Mlchaol (1979), \aou|actu|og Cooseot. Chlcago. 1ho Unlvorslty o
Chlcago lross.
______. (1985), !|e |o||t|cs o| |oJuct|oo. Londros. Vorso.
CAkAL, Manuol Vlllavordo (1997), C|JaJao|a |o||t|ca e |qu|JaJe Soc|a| en |otu-
ga|. Colras. Colta.
______. (2002), lorcopos o avallaos das doslgualdados soclals o oconomlcas
om porspoctlva comparada. lortugal, rasll o outros paisos, Comunlcaao
aprosontada ao Vll Congrosso Luso-Aro-rasllolro do Clnclas Soclals. klo
do }anolro, 3-6 do Sotombro.
CAS1LL, kobort (1998), ^s \etano|oses Ja Questao Soc|a|. lotropolls. Vozos.
CCCKL, lhlllp (1998), Clobal Clustorlng and koglonal lnnovatlon. Systomlc
lntogratlon ln Walos, |o H-}. raczyk ot al. (orgs.), keg|ooa| |ooo.at|oo Sjstens.
!|e ko|e o| Go.eoaoces |o a G|ooa||zeJ \o|J. Londros. Unlvorslty Collogo
o London lross.
DAHkLNDCkl, kal (1982) |1959}, ^s C|asses Soc|a|s e os seus Coo|||tos oa Soc|e-
JaJe |oJust|a|. rasilla. Unlvorsldado do rasilla.
130 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
LSllNC-ANDLkSLN, Costa (1993), C|aog|og C|asses. Stat|||cat|oo aoJ \oo|||tj |o
|ost-|oJust|a| Soc|et|es. Londros. Sago/lSA.
LS1ANQUL, Llislo (1997), As classos soclals na soclodado portuguosa um ostu-
do apolado no modolo do Lrlk Clln Wrlght, ke.|sta C|t|ca Je C|eoc|as So-
c|a|s, 49, pp. 93-126.
______. (2000), |ote a |o|ca e a Conuo|JaJe. lorto. Arontamonto.
______. (2003), C oolto classo mdla doslgualdados o oportunldados no llmlar
do sculo \\l, |o Cabral, Manuol Vlllavordo (org.), |eceoes e a.a||aoes
Jas Jes|gua|JaJes e Ja ust|a en |otuga| ouna esect|.a conaaJa. Lls-
boa. lmpronsa do Clnclas Soclals, pp. 69-105.
______. (2004), A kolnvonao do Slndlcallsmo o os Novos Dosalos Lmanclpato-
rlos. do dospotlsmo local a moblllzaao global, |o Santos, oavontura do
Sousa (org.), !aoa||a o \uoJo. os can|o|os Jo oo.o |oteoac|ooa||sno
oe|o. v. 5, Colocao ke|o.eota a |naoc|aao Soc|a|. |aa No.os \ao|-
|estos. lorto. Arontamonto, pp. 299-334.
LS1ANQUL, Llislo o MLNDLS, }os Manuol (1998), C|asses e |es|gua|JaJes Soc|a|s
en |otuga| un estuJo conaat|.o. lorto. Arontamonto.
lLkkLlkA, Antonlo Caslmlro (2003), !aoa||o |ocua lust|a. as |onas Je eso|u-
ao Jos coo|||tos Je taoa||o oa soc|eJaJe otuguesa. 1oso do Dlssortaao
do Doutoramonto. Colmbra. laculdado do Lconomla da Unlvorsldado do
Colmbra (pollcoplado).
lkAZLk, Nancy (2001), kocognltlon wlthout othlcs, !|eoj, Cu|tue 8 Soc|etj,
18 (2-3), pp. 21-42.
lkLlkL, }oao (1998) Lmprosas o Crganlzaos. Mudanas o Modornlzaao, |o
Vlogas, }os Manuol Lolto o Antonlo llrmlno da Costa (orgs.), |otuga| que
\oJeo|JaJe: Colras. Colta.
ClDDLNS, Anthony (1975), ^ |stutua Je C|asses Jas Soc|eJaJes ^.aoaJas. klo
do }anolro. Zahar.
CCDlNHC, Manuol Mlra (1999), Cs kocursos Humanos om Clncla o 1ocnolo-
gla. ovldncla do uma ragllldado ostrutural, Soc|eJaJe e !aoa||o, n. 7,
Mlnlstrlo do 1rabalho o da Solldarlodado, pp. 115-133.
CCLD1HCklL, }ohn (1969), !|e ^|||ueot \o|e. Cambrldgo. Cambrldgo Unl-
vorslty lross.
CCkZ, Andr (1999), kec|a|n|og \o|. oejooJ t|e uage-oaseJ soc|etj. Cambrldgo.
lollty lross.
HLlDLNkLlCH, Martln o KkAUSS, Corhard (1998), 1ho adon-Wurttomborg
lroductlon and lnnovatlon koglmo. last Succossos and Now Challongos |o
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 131
H-}. raczyk ot al. (orgs.), keg|ooa| |ooo.at|oo Sjstens. !|e ko|e o| Go.eoaoces
|o a G|ooa||zeJ \o|J. Londros. Unlvorslty Collogo o London lross.
HClS1LDL, Coort (1980), Cu|tues Coosequeoces. |oteoat|ooa| ||||eeoces |o
\o| e|ateJ va|ues. Londros. Sago.
HCNNL1H, Axol (2001) kocognltlon or rodlstrlbutlon: Changlng porspoctlvos on
tho moral ordor o socloty, !|eoj, Cu|tue 8 Soc|etj, 18 (2-3), pp. 43-55.
HMAN, klchard (2002), Luropolzaao ou orosao das rolaos laborals:, ke.|sta
C|t|ca Je C|eoc|as Soc|a|s, 62. Colmbra. CLS, pp. 7-32.
KCVACS, llona (1992), Novas tocnologlas, rocursos humanos o compotltlvldado,
|o Kovcs, l. et a|., S|stenas ||e\|.e|s Je |oJuao e keogao|zaao Jo !aoa-
||o. Llsboa. CLSC/l&D, lLDll, DCl.
KCVACS, llona o CAS1lLLC, }uan }os (1998). No.os \oJe|os Je |oJuao, !aoa-
||o e |essoas. Colras. Colta.
LASH, Scott (1999), Critlca da lnormaao, ke.|sta C|t|ca Je C|eoc|as Soc|a|s,
54. Colmbra. CLS, pp. 13-30.
LClLS, kaul (2001), Conet|t|.|JaJe, |oo.aao e !e|t|os. Colras. Colta.
MLDA, Domlnlquo (1999), O !aoa||o Ln .a|o en .|as Je e\t|oao. Llsboa.
Ldltora llm do Sculo.
lNUD (2000) kolatorlo do Dosonvolvlmonto Humano, ||e|tos |unaoos e |e-
seo.o|.|neoto |unaoo, lrograma das Naos Unldas para o Dosonvolvl-
monto Humano, Llsboa, 1rlnova Ldltora.
lNUD (2001) kolatorlo do Dosonvolvlmonto Humano, No.as !ecoo|og|as e |e-
seo.o|.|neoto |unaoo, lrograma das Naos Unldas para o Dosonvolvl-
monto Humano, Llsboa, 1rlnova Ldltora.
lNUD (2004) kolatorlo do Dosonvolvlmonto Humano, ||oeJaJe Cu|tua| oun
\uoJo ||.es|||caJo, lrograma das Naos Unldas para o Dosonvolvlmonto
Humano, Quoluz, Monsagom kocursos Ldltorlals.
kLClNl, Marlno (od.) (1994), !|e |utue o| |aoou \o.eneots. Londros. Sago.
kLlS, }os (1992), Os |saos Ja |oJst|a. a egu|aao ecoon|ca e o Jeseo.o|.|-
neoto |oca| en |otuga|. lorto. Arontamonto.
kLlS, }os et a|. (1999), A dloronclaao das oconomlas. vlsos dos ultlmos 20
anos, ke.|sta C|t|ca Je C|eoc|as Soc|a|s, n. 52/53, pp. 119-139.
kllKlN, }oromy (1997), |a ||o Ju !a.a||. larls. La Docouvorto.
kUSSLVLLD1, }orls o VlSSLk, }ollo (1996), |oJust|a| ke|at|oos |o |uoe. Lon-
dros. Sago.
132 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
SAN1CS, oavontura do Sousa (2000), ^ C|t|ca Ja kazao |oJo|eote. coota o
JeseJ|c|o Ja e\e|eoc|a. lorto. Arontamonto.
______. (2001) Cs procossos da globallzaao, |o Santos, . S. (org.), G|ooa||za-
ao. |ata||JaJe ou uto|a: lorto. Arontamonto, pp. 31-106.
SlMOLS, V. C. (1996), |oo.aao e Gestao Je |\| |oJust|a|s |otuguesas. Llsboa.
CLl Cablnoto do Lstudos o llanoamonto do Mlnlstrlo da Lconomla.
SKLAlk, Losllo (2001), !|e !aosoat|ooa| Ca|ta||st C|ass. Cxord/Maldon, MA.
lackwoll.
1AVAkLS, Luis Valadaros (2000), ^ |ogeo|a|a e a !ecoo|og|a ao Se.|o Jo |eseo-
.o|.|neoto Je |otuga|. osect|.a e estateg|a, 2000-2020. Llsboa/Sao lau-
lo. Ldltorlal Vorbo.
WA1LkMAN, lotor (2002), C lntornaclonallsmo slndlcal na ora do Soatlo, ke.|s-
ta C|t|ca Je C|eoc|as Soc|a|s, 62, pp. 33-68.
133
6
Mudanas na organlzaao do trabalho om omprosas
brasllolras nas ultlmas duas dcadas. uma vlsao goral
|eooaJo \e||o e S||.a
l. lntroduo
Brasil e Portugal guardam diferenas importantes no que concerne
ao sistema de relaes laborais. Embora ambos os pases tenham experi-
mentado situaes de corporativismo, as suas modalidades apresentam
variaes considerveis de feitio. Um corporativismo que convive com
perodos de liberdade poltica, por um lado, e um corporativismo mar-
cadamente fascista, por outro. Enquanto em Portugal esse sistema foi
formalmente desmantelado juntamente com uma revoluo poltica
(1974) que produziu um rearranjo na relao entre as classes sociais fun-
damentais, no Brasil o sistema corporativista persiste em aspectos-cha-
ve da organizao sindical, a despeito do marco constitucional de 1988
que consagrou a necessidade de sua reviso.
dentro desse pano de fundo que preciso entender a afirmao
de que a prtica de negociao coletiva, no Brasil, um fenmeno recen-
te, datando apenas do final da dcada de 1970, estando associado emer-
gncia do novo sindicalismo, um ator coletivo dos mais significativos
134 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
da histria recente do Pas, ao qual se ligam por laos de afinidade pol-
tico-ideolgicos nada menos do que o Partido dos Trabalhadores (1981)
e a Central nica dos Trabalhadores (1983).
Uma outra diferena importante que enquanto em Portugal a
concertao social foi orquestrada pelo Estado Heterogneo
1
, que pra-
ticamente criou ou formou, por assim dizer, os atores coletivos ca-
pital e trabalho no ps-revoluo, no Brasil a prtica de concertao
2
comea a ser implementada, hoje, em um escopo mais amplo do que a
relao capital e trabalho. Nesse sentido, foi preciso esperar vinte e cin-
co anos entre o empunhar da bandeira da negociao coletiva pelo mo-
vimento sindical combativo do ABC e o seu efetivo reconhecimento como
parceiro social nas polticas macroeconmicas ditadas pelo Estado.
Entre um e outro momento, isto , entre a emergncia rebelde de um
ator coletivo que buscava uma interlocuo direta com o patronato para
sair da opresso econmica e poltica do Estado autoritrio, e o papel de
instituio quase-pblica (na terminologia da literatura do neo-corpora-
tivismo) que preenche atualmente, o movimento sindical foi ao longo
de mais de duas dcadas construindo legitimidade como fora social
tanto diante dos empresrios quanto diante do Estado. Curiosamente,
se no incio o pleito da negociao coletiva direta com os patres mistu-
rava-se com o pleito por democracia na sociedade, e portanto com a
identificao do Estado com a ditadura e a subtrao da noo de con-
trato, no presente o prprio Estado democrtico que chama o movi-
mento sindical para o interior dos fora de formulao e discusso de
polticas de regulao (reforma tributria, previdenciria e trabalhista),
como o caso do CDES.
Como quer que seja, a negociao coletiva como padro de rela-
es industriais e de ao de classe nunca se generalizou, sendo distri-
buda desigualmente por setores de atividade, com a categoria
metalrgica tendo um papel muito mais protagnico do que as demais.
1. lara uma caractorlzaao do poriodo pos-rovoluclonrlo om lortugal, vor oavontura do
Sousa Santos, C Lstado, as rolaos laborals o o om-Lstar Soclal na somlporlorla. o caso portu-
gus. ln. Santos, oavontura do Sousa (org.). |otuga|. un etato s|ogu|a. lorto. Arontamonto,
1993, p. 17-56.
2. 1ondo lncluslvo por lnsplraao os consolhos do concortaao soclal ouropous, ontro os quals
so lnclul o portugus. L dosta copa quo salu a lnsplraao para o Consolho do Dosonvolvlmonto
Lconmlco o Soclal (CDLS), proposto polo Covorno lodoral na admlnlstraao Lula.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 13S
apenas com essas consideraes de carter amplo sobre o estado
das relaes industriais ou profissionais na sociedade brasileira que se
pode entender o alcance e as limitaes da introduo de novos mto-
dos organizacionais e gerenciais nas fbricas e nos servios, coincidindo
exatamente com o perodo de redemocratizao. Um outro elemento, na
verdade essencial, para compor o quadro seria a situao do mercado
de trabalho nesse perodo. Sem tratar especificamente do assunto, pode-
se adiantar que a contribuio que ele d ao estado das relaes indus-
triais brasileiras o de um estado permanente de crise: crise esta que se
manifesta nas formas da desregulao, de dificuldade de insero para
novos entrantes, de precarizao e de instabilizao (inclusive psquica)
para aqueles que permanecem empregados. Tal situao funcionar como
uma ameaa constante, uma espcie de espada de Dmocles na cabea de
cada assalariado vivendo no e pelo mundo do trabalho. A situao do
mercado de trabalho aparecer como uma constante na anlise sobre as
novas formas de organizao e de gesto, de maneira que no se lhe
dedicar uma discusso parte. Na verdade, um bom quinho da rela-
o de foras no mbito da negociao coletiva explica-se pela configu-
rao hostil do mercado de trabalho, do ponto de vista dos assalariados.
O que se refletir na capacidade desses ltimos de interpor obstculos
ou clusulas limitadoras ao desenvolta do patronato quanto s ino-
vaes em pauta.
Na primeira parte do captulo vai-se tecer algumas consideraes
bastante breves e gerais sobre as relaes industriais no Brasil dos lti-
mos anos, a fim de fornecer um pano de fundo mais abrangente para o
tema da reestruturao produtiva e seus impactos no trabalho. A segun-
da parte introduz propriamente o tema e discute comparativamente os
preceitos gerais dos modelos produtivos e as possibilidades e limitaes
de sua aplicao, com nfase na organizao do trabalho. Trs inovaes
extradas do novo modelo produtivo so discutidas em maior deta-
lhe, devido sua difuso nas empresas brasileiras: os Crculos de Con-
trole da Qualidade, o Controle Estatstico de Processo e o Just-in-Time.
Uma breve considerao acerca da relao interempresas tambm fei-
ta, a fim de realar os quesitos (importantes) da subcontratao e da
terceirizao. Finalmente a terceira e ltima parte tece algumas conclu-
ses tendo por inspirao a formao de um espao pblico e a luta
136 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
contra os vcios da privatizao da poltica, onde o trabalho desempe-
nha papel fundamental.
ll. O contcxto das rcIacs industriais
Se a negociao coletiva j difcil, a negociao por empresa, isto
, entre empregador e empregados, depende da influncia do sindicato.
As leis trabalhistas brasileiras prevem duas modalidades de ne-
gociao entre patres e empregados: as Convenes Coletivas e os Acor-
dos Coletivos
3
.
Convenes coletivas so aquelas institucionalizadas entre os sin-
dicatos de patres e de empregados de uma mesma categoria profissio-
nal, ou de um mesmo ramo de atividade: elas esto cobertas pela Con-
solidao das Leis do Trabalho. Sua periodicidade costuma ser de um
ou dois anos, em pocas determinadas, sendo que necessitam de ratifi-
cao mesmo quando no h desacordo quanto manuteno dos ter-
mos da conveno passada.
Os Acordos Coletivos so aqueles que se referem a empresas par-
ticulares e aos trabalhadores dessas mesmas empresas, devendo contu-
do ter o aval do sindicato correspondente da categoria ou do ramo, pelo
menos no que respeita aos assalariados. Os Acordos podem conter clu-
sulas mais abrangentes do que as Convenes, porm o contrrio ve-
dado, isto , os Acordos por empresa no podem cortar direitos que
esto previstos para vigorar para todos os trabalhadores daquele deter-
minado ramo de atividade ou categoria profissional.
As negociaes por local de trabalho, tais como so entendidas na
literatura sobre as relaes industriais no Brasil, so aquelas que desem-
bocam em Acordos Coletivos. Ou quando esto expressamente previs-
tas nas Convenes Coletivas, o que raro de acontecer. Pode acontecer
tambm de haver negociao direta sem formalizao por parte do
sindicato: no caso de instncias de representao dos empregados no
vinculadas ao aparelho sindical (comisses de empresa; comisses de
3. Consolldaao das Lols do 1rabalho, 1itulo Vl, artlgos 611 a 625.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 137
fbrica; associao de funcionrios, etc.), os acordos no so muitas ve-
zes conhecidos ou includos em qualquer levantamento sistemtico, de
tal maneira que muitas vezes permanecem invisveis ou se circunscre-
vem a uma realidade particular da empresa ou de um grupo econmico,
ou especfica de uma fbrica desse mesmo grupo ou, ainda, de uma
seo dentro de uma nica fbrica. Esses acordos, conquanto possam
existir e possurem at uma relevncia social no negligencivel para o
mbito no qual esto destinados a vigorar, se perdem na medida em
que no encontram nenhum potencial de publicizao. As negociaes
por local de trabalho que chamam o interesse dos pesquisadores no Bra-
sil so exatamente aquelas que promovem a articulao entre a realida-
de fabril, por um lado, e o interesse coletivo, por outro. Numa palavra,
seu interesse heurstico est imbricado na possibilidade de uma contra-
tao coletiva de trabalho.
Essa tem sido uma bandeira recorrente do movimento sindical. A
contratao coletiva seria a forma encontrada para superar a herana do
corporativismo trabalhista e ao mesmo tempo fugir da desregulao
flexibilizante que anima as propostas de reforma laboral com orientao
neoliberal. A contratao coletiva regulamentaria as negociaes no seu
nvel mais desagregado (empresa, setor ou subsetor de atividade), per-
mitindo uma real democratizao das instncias sindicais, na medida
em que expressaria o anseio das bases, que teriam ento canais pre-
vistos de influncia nas decises de cpula, sob pena de infligir um deficit
de legitimidade naquelas instncias. No toa, o clamor pela negocia-
o por local de trabalho esteve associado, na tradio dos movimentos
da classe trabalhadora no Brasil, a momentos de luta por democracia:
foi assim na redemocratizao de 1945; na greve dos 300 mil em So
Paulo (1953); nos movimentos de Contagem e Osasco (1968); e nas gre-
ves do ABC do final da dcada de 1970. A dificuldade de contratao,
que aparece com nomes e pautas diferenciados ao longo desses pero-
dos de nossa histria, demonstra a grande resistncia que impera entre
a elite empresarial a propsito da incorporao coletiva da classe traba-
lhadora como interlocutor poltico e ator social com direito de expresso
e participao na vida republicana.
Nos dias que correm, essa questo volta baila em virtude do for-
mato tomado pelas inovaes gerenciais propostas para a organizao
do trabalho em empresas sob o imperativo frreo da modernizao: elas
138 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
enfatizam principalmente a incorporao individual do trabalhador (o
reconhecimento de sua identidade cidad), porm mostram-se reticen-
tes, para dizer o mnimo, quanto s possibilidades de sua incorporao
coletiva, como classe. Nessa ciso imposta entre o individual e o coletivo
(no reconhecido), repousa boa parte dos paradoxos da recente vaga
empresarial baseada no envolvimento e participao do trabalha-
dor ou da trabalhadora.
O primeiro deles que as empresas performantes precisam dessa
fora de trabalho coletiva. Embora o movimento tendencial seja o de
substituio do trabalho vivo por trabalho morto, raramente essa subs-
tituio absoluta, e uma dialtica de negao e dependncia em rela-
o ao trabalho realmente existente persiste ao que parece mais do
que meramente como resduo. O conhecimento tcito, a memria das
panes e a antecipao provvel dos riscos, o saber sobre o processo de
trabalho que no se reduz ao funcionamento do sistema maqunico, tudo
isso tem sido recorrentemente trazido tona pela sociologia do traba-
lho, pela ergonomia, ou pela psicologia das situaes de trabalho. Ade-
mais, de um ponto de vista puramente econmico, aquela substituio
custosa e envolve trade-offs complexos, os quais muitas vezes explicam a
permanncia ou a convivncia de processos antigos com outros, moder-
nos, incluindo a o seu pessoal.
O segundo paradoxo que talvez estejamos atualmente vivencian-
do um momento, na trajetria do movimento sindical brasileiro, de in-
fluncia jamais alcanada na cena pblica do pas. o prprio presiden-
te da Repblica ele mesmo sado do meio sindical quem conclama os
trabalhadores a participarem ativamente da formulao de propostas
no mbito econmico e social, por meio de suas instncias de represen-
tao. Uma expresso corrente utilizada pelos conservadores no ambiente
pr-64 para caracterizar o governo de Joo Goulart, a Repblica de Sin-
dicalistas
4
, vem lembrar uma circunstncia emprica iniludvel: a de
que contingentes significativos do movimento sindical, outrora oposi-
cionista, hoje encontram-se apeados a postos governamentais de im-
portncia. Talvez a to temida Repblica de Sindicalistas esteja se efe-
4. O |staJo Je S. |au|o, 28 abr. 2003. Lula crla a ropubllca dos slndlcallstas. Marlana
arbosa o Conrado Corsalotto, A6.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 139
tivando de fato somente agora, quarenta anos depois, com o governo
Lula. No entanto, a influncia real das instituies de representao de
interesse de carter pblico
5
o sindicato e as centrais, federaes e
confederaes do trabalho so bem uma expresso disso sobre o coti-
diano fabril, em todas as suas formas, parece escapar a tentativas de
regulao razoavelmente constringentes.
Em termos sociais, isso significa uma perda de capacidade de inter-
veno dessas instituies sobre aspectos da organizao e do processo
de trabalho em empresas capitalistas, os quais permanecem sob a gide
do despotismo fabril sendo que esse ltimo pode-se manifestar no
apenas em sua forma autoritria e clssica
6
, mas, tambm, em outras
formas mais dissimuladas e fluidas de poder. Assim, enquanto a uma
diviso do trabalho que correspondia manufatura do sculo XIX e
que se consolidou no taylorismo e no fordismo no sculo XX estava
associada o exerccio do despotismo fabril predominantemente autori-
trio, estaramos assistindo hoje a um novo feitio de despotismo fabril,
adequado a uma nova diviso do trabalho devida aos tempos de produ-
o flexvel e do ps-fordismo.
A seguir, vai-se traar um breve relato da movimentao das em-
presas no sentido de aplicar mtodos de gesto e de organizao do
trabalho que estejam de acordo com o novo modelo produtivo. Esse
relato histrico cobre grosso modo os anos 80 e 90 do sculo XX, estenden-
do-se, em seus traos gerais, at o perodo atual.
lll. Mudanas organizacionais c tccnoIogicas nas cmprcsas
Desde os anos 80, o movimento de substituio de uma base tcni-
ca mecnica para uma base tcnica microeletrnica tem sido uma pre-
ocupao presente em empresas orientadas por uma viso estratgica,
seja de capital nacional, seja de capital estrangeiro. Considerando-se que
5. lubllco nao so rooro aqul, ovldontomonto, a ostatal.
6. Lxatamonto aquola da poca do Marx, quo cunhou o tormo roglmo abrll. Vo|a-so O
ca|ta|, Llvro 1 (O ocesso Je oJuao Jo ca|ta|), Soao lV (A produao da mals-valla rolatlva),
Capitulo \lll, ltom 4 (A brlca).
140 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
a incorporao dessa base tcnica est na raiz dos processos produtivos
automatizados, podemos afirmar que a automao entra na pauta das
relaes industriais mais ou menos por essa poca. De imediato, ela se
converte como que em um desafio para o movimento sindical
7
, ento
bastante fortalecido pela agitao operria que irradiou-se a partir do
ABC paulista. Uma interpretao militante via na vaga de automatizao
em empresas importantes da base dos metalrgicos uma clara ofensiva
capitalista para conter o mpeto reivindicativo da classe, que aparecia
naquele momento como um ator coletivo de relevo no desenrolar da
conjuntura poltica de decomposio do regime militar.
A fora de trabalho industrial partilhava das caractersticas fordistas
bsicas: relativa homogeneidade em termos de qualificao, padro de
escolaridade, salrio e estilo de vida. Mas as caractersticas exteriores
escondiam diferenas fundamentais, em dois aspectos. Em primeiro lu-
gar, em relao ao conjunto do mercado de trabalho: os trabalhadores
empregados em grandes empresas dos ramos de ponta da industriali-
zao brasileira constituam-se em verdadeiras ilhas em meio a um
mar de situaes atpicas, desiguais e informais, alimentando uma hete-
rogeneidade no mnimo problemtica para a estabilizao de uma nor-
ma salarial que se possa dizer nacional. Em segundo lugar, daquela par-
cela (que alguns mesmo chegaram a chamar de privilegiada ou aris-
tocracia operria) da fora de trabalho industrial no se poderia inferir
um modelo de desenvolvimento fordista que preenchesse todas as con-
dies necessrias para a correspondncia com uma regulao do tipo
da ocorrida nos principais pases do Centro: longe de promover um
desenvolvimento autocentrado da economia, avesso a convnios coleti-
vos de feitio neocorporatista, distante de um salrio nominal de refern-
cia que sustentasse os ganhos de produtividade do setor de produo
de bens de consumo por todos os lados, as dessemelhanas eram
mais salientes do que as possveis convergncias com as trajetrias de
regulao paradigmticas. O taylorismo vigente nesse perodo nas em-
presas brasileiras foi descrito antes como rotinizao
8
, isto , um siste-
7. Vor Nodor, klcardo 1olodo, Abramo, Lals Wondol, Souza, Nalr Hololsa lcalho do, Dlaz,
Alvaro, lalabolla, Conzalo, Sllva, koquo Aparocldo da. ^utonaao e no.|neoto s|oJ|ca| oo |a-
s||. Sao laulo. Hucltoc, 1988.
8. Aonso lloury, kotlnlzaao do trabalho. o caso das lndustrlas mocnlcas. ln. lloury, Aon-
so C. C., Vargas, Nllton (orgs.). Ogao|zaao Jo taoa||o. Sao laulo. Atlas, 1983, p. 84-106.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 141
ma de organizao do trabalho que aproveita o que h de pior naquele
mtodo: os elementos mais degradantes associados repetitividade da
realizao de tarefas especializadas, sem as contrapartidas (mtodos de
seleo e treinamento, prmios por produtividade, forma tima de
execuo do trabalho de acordo com os critrios do departamento de
organizao e mtodos).
A reestruturao produtiva em geral entendida por uma gama
ampla de fenmenos que, na verdade, no se referem apenas execuo
do trabalho direto mas que est relacionada tambm com outros aspec-
tos, tais como: a modalidade de relacionamento entre as firmas (cliente
fornecedor); a organizao logstica e econmica da prpria empresa
(desverticalizao, supresso e fuso de linhas, desaparecimento de fun-
es produtivas), e o impacto da introduo de inovaes tecnolgicas
no processo produtivo (o papel das inovaes radicais por oposio s
inovaes incrementais) e suas conseqncias em termos de racionali-
zao do trabalho e do ambiente fabril como um todo. Assim, termos
como terceirizao e automao podem estar a referir-se a aconteci-
mentos que se desenrolam em nveis diferentes: no processo de traba-
lho, a terceirizao designa a utilizao de trabalhadores sem vnculo
formal com a empresa onde realizam o seu trabalho, em geral de forma
intermitente e no contnua; quando referida firma, a terceirizao
designa a subcontratao de outras pequenas empresas para efetuar
partes do processo de trabalho original daquela firma, seja externa, seja
at mesmo internamente prpria firma.
Tambm a automao pode estar a referir-se ao fenmeno de eco-
nomia de tempo na produo, com o arranjo de mquinas e equipamen-
tos a fim de reduzir os perodos ditos em curso das matrias e dos
processos de transformao; ou pode estar a designar a supresso de
partes do trabalho humano por mquinas ou sistemas inteligentes ca-
pazes no apenas de substituir uma tarefa repetitiva realizada pela fora
de trabalho, mas de, em alguns casos, efetuar escolhas diante de deter-
minados parmetros pr-estabelecidos pela programao.
A dificuldade de distinguir os fenmenos contidos em termos como
terceirizao e automao, por exemplo, no nos parece um proble-
ma muito srio, na medida em que ela atesta na verdade um fato reco-
nhecido por muitos estudiosos, que o carter integrado dessas trans-
formaes produtivas. Noes como paradigmas ou modelos pro-
142 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
dutivos tentam dar conta dessa caracterstica integrada, onde o traba-
lho est relacionado com a economia, que por sua vez est relacionada
com a poltica e a sociedade. No caso brasileiro, a discusso sobre a emer-
gncia de novos paradigmas na produo e no trabalho ressaltou so-
bretudo a no correspondncia de configuraes societais de base entre
pases do centro do capitalismo e pases da periferia: o mercado de tra-
balho com alto contingente de mo-de-obra informal; os convnios cole-
tivos regulamentados pelo Estado; a crise de capacidade de financia-
mento interno so apenas algumas evidncias dessas diferenas. Desse
modo, o ressaltado no debate entre esses estudiosos foi o carter hbrido
e parcial na incorporao das modernidades gerenciais e organizacio-
nais associadas aos novos paradigmas. A literatura parecia indicar,
com base em farta pesquisa nos mais variados ramos de atividade, que
as empresas podiam conviver sem grandes problemas com a aplicao
de apenas parte desse conjunto integrado de mudanas, com isso acele-
rando ou agudizando certas tendncias nefastas (a utilizao de traba-
lho subcontratado acentuando mais ainda a informalidade endmica; a
racionalizao da produo intensificando mais o trabalho nas manufa-
turas e nos servios; as novas estratgias de envolvimento afastando
mais ainda os trabalhadores dos sindicatos) e mantendo, por outro lado,
o status quo relativamente ao padro de relacionamento chefias versus
subordinados, como o no-reconhecimento da interlocuo coletiva nas
negociaes. No mbito propriamente tecnolgico, esse hibridismo se
manifestava na persistncia de velhos processos ao lado de novo
maquinrio importado.
Tudo isso reforou um sentimento de que a difuso de princpios e
tcnicas de um novo modelo produtivo nas fbricas brasileiras obede-
cia a um gradualismo e a uma seletividade que impediam a sua consi-
derao como um todo coerente, tal como a literatura internacional pos-
tulava
9
. A bem da verdade, essa constatao no deveria significar um
grande achado terico, uma vez que a sociologia est acostumada a cri-
ticar os esquemas baseados em teorias da modernizao e suas deriva-
9. A obra mals lnluonto nosso dobato ol o rocolturlo da |eao-oJuct|oo produzldo polos
posqulsadoros (saidos da oscola do admlnlstraao do omprosas) Womack, }amos, }onos, Danlol,
koos, Danlol. !|e \ac||oe t|at c|aogeJ t|e uo|J. Now ork. kawson Assoclatos, 1990 |od.
rasllolra. A Mqulna quo mudou o mundo. klo do }anolro. Campus, 1992}.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 143
es em termos de esquemas dualistas de interpretao de atraso versus
moderno, quando incidindo em pases da periferia do capitalismo. O
desafio pareceria estar menos a e mais na nfase aos condicionantes
culturais (influindo fortemente nas culturas empresariais respectivas)
por oposio aos condicionantes globais de acumulao do capital quan-
do da avaliao do sucesso ou insucesso da aplicao de modelos pro-
dutivos. O debate sobre a transferibilidade ou no das tcnicas japone-
sas
10
acendeu essa discusso: ela contrastou uma viso mais perempt-
ria sobre a potncia homogeneizadora do novo movimento de reestru-
turao produtiva e da globalizao dos mercados a uma viso mais
ciosa das diferenas societais ao acolher aquela difuso global em pases
especficos, bem como das suas possibilidades de ser bem-sucedido nesse
transplante.
Dada a natureza integrada da reestruturao produtiva, fica desde
j suposto no texto que a nfase reestruturao, sobretudo dos proces-
sos de trabalho nas ltimas duas dcadas, obedecer a uma necessidade
de recorte analtico, uma vez que a conexo com os demais aspectos que
esto envolvidos nessas mudanas demandaria um outro investimento,
que foge s dimenses deste captulo.
Desse ponto de vista, passamos a listar a seguir algumas das ino-
vaes introduzidas em processos de trabalho em empresas instaladas
no Brasil, cobrindo ramos e setores de atividade, bem como porte (tama-
nho) e origem do capital dos mais variados. A maioria dos exemplos so
oriundos de So Paulo, no s pela grande concentrao industrial nesse
estado da federao, mas tambm pelo volume de casos estudados ali.
Os componentes de inovao organizacional considerados mais re-
presentativos so os Crculos de Controle da Qualidade (CCQs); o Con-
trole Estatstico de Processo (CEP); o sistema Just-in-Time (JIT), com a
marcao Kan-Ban que lhe associada; os sistemas de Qualidade Total,
entre os quais pode-se mencionar a Manuteno Produtiva Total (MPT),
o Controle de Qualidade Total (CQT) e o Material Requirement Planning
(MRP); e a manufatura celular. Tais componentes so associados ao
toyotismo ou modelo japons. Porm, outros formatos, como os gru-
10. Hlrata, Holona (org.). Sooe o noJe|o aooes. autonat|zaao, oo.as |onas Je ogao|-
zaao e e|aoes Je taoa||o. Sao laulo. Ldusp/Allana Cultural rasll }apao, 1993.
144 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
pos semi-autnomos ou a gesto participativa so bem anteriores
vaga japonesa, e estavam em funcionamento em empresas antes de esse
modismo se disseminar. O que distingue verdadeiramente a importn-
cia do modelo japons que a nfase na participao, no compromisso e
no envolvimento do assalariado com o trabalho menos um mero arti-
fcio para evitar conflitos com a gerncia e mais um arranjo de longo
prazo que se justifica pela meta de qualidade imposta pelo mercado -
numa palavra, trata-se de uma questo de produtividade, e no sim-
plesmente de circunstncia.
H uma relativa temporalidade na implantao daquelas tcnicas,
com os CCQs sendo pioneiros, entre o final da dcada de 1970 e incio
da 1980, seguidos pelos CEP, o JIT, e mais tarde o CQT, o MPT e a manu-
fatura celular. Relativa porque muitas dessas tcnicas no necessaria-
mente substituem-se umas s outras, convivendo em um mesmo pro-
cesso produtivo; do mesmo modo, uma nova onda de inovao no sig-
nifica forosamente incompatibilidade com um ou alguns dos compo-
nentes da onda anterior. Por exemplo, a tcnica do Just-in-Time per-
passa os programas de qualidade total assim como estava presente em
fbricas que no adotavam ainda aqueles programas, sendo muito mais
um instrumento geral de organizao da produo (a preocupao com
a manuteno mnima de estoques) do que propriamente um sistema
complexo envolvendo tecnologia e programao microeletrnica.
Os Crculos de Controle da Qualidade (CCQs) so bem anteriores
onda de inovaes baseada nos sistemas de qualidade, embora todas
tenham por inspirao o toyotismo ou modelo japons. Trata-se de
pequenos grupos formados por funcionrios de uma determinada em-
presa e que se dedicam a reunies peridicas para discutir o funciona-
mento do trabalho e propor solues para os pontos problemticos dele,
sendo que muitas vezes esses pontos so desconhecidos pela organiza-
o. Na Volkswagen de So Bernardo do Campo
11
eles existem desde
1971, por exemplo. No incio, o propsito era de disputar a influncia
com a representao sindical, que buscava implantar organizaes por
local de trabalho a fim de tornar mais fluido o fluxo entre as demandas
11. Slndlcato dos Motalurglcos do Sorocaba, CCQ. Hlstorla do poao quo chogou om casa
contando para a mulhor quo tlnha lcado lmportanto na brlca..., Coloao 1lro ao Alvo n 1,
malo 1988.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 14S
dos operrios do cho de fbrica e as polticas de classe. V-se logo que,
dessa forma restrita, o CCQ no podia ser compatvel com uma gesto
aberta participao dos empregados e ao seu comprometimento e en-
volvimento com as metas da empresa.
Muitas diferenas foram observadas entre os CCQs tais como eram
praticados no Japo e no Brasil
12
. Essas diferenas s podem ser enten-
didas quando colocadas na perspectiva das relaes industriais vigen-
tes nos dois pases, caso contrrio sua compreenso fica obscurecida. O
carter quase obrigatrio da participao nos crculos no Japo deve-se
ao emprego dito vitalcio predominante nas grandes empresas, bem
como contagem de pontos para promoo, que tem entre seus critrios
a freqncia nessas atividades. A no-remunerao pela participao nos
crculos compensada pela importncia da antigidade (tempo de ser-
vio) como critrio relevante para a obteno de bnus ou prmios in-
corporados ao salrio (que existem ao lado do bnus por desempenho e
tambm das horas-extras). A participao no apenas de trabalhadores
qualificados, mas tambm de tcnicos, supervisores e gerentes, est as-
sociada com a cultura do kaizen (melhoramento contnuo), que se encon-
tra espalhada entre a populao assalariada. Como se pode notar, as
dessemelhanas com o padro brasileiro so notrias (os exemplos po-
deriam ser estendidos): os empregos so altamente instveis (pois a ro-
tatividade da mo-de-obra grande); o tempo de servio no um crit-
rio automtico de promoo nas empresas privadas, como ocorre entre
os servidores pblicos; as horas-extras terminam por se constituir na
nica frmula de complementao salarial; e, finalmente, a prtica de
aproximao entre gerentes, tcnicos e operrios de fabricao esbarra
em uma cultura de relaes de trabalho autoritria e burocrtica, que
tem razes anteriores ao advento da modernidade capitalista.
Outra caracterstica importante para explicar a adeso aos CCQs
no Japo o sistema de emprego: os trabalhadores no so primeira-
mente contratados a partir de uma profisso especfica (um posto de
trabalho), definida socialmente, para ser ofertada e exercida em seguida
no mercado; eles so contratados antes de mais nada por uma empresa
12. Consultar Holona Hlrata, Mlchaol lroyssonot, Mudanas tocnologlcas o partlclpaao dos
trabalhadoros. os circulos do controlo da qualldado no }apao. k^| ke.|sta Je ^Jn|o|staao Je
|nesas, Sao laulo, kALpubllcaos, v. 25, n.- 3, 1985.
146 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
em particular, o que conforma um tipo de qualificao interna a essa l-
tima, onde a rotatividade relativamente baixa.
No Brasil, os temas das reunies dos crculos eram definidos pre-
viamente pela gerncia, o que aumentava o constrangimento do pessoal
de fbrica, alm de afastar qualquer veleidade de comprometer mais
seriamente aquele pessoal com o processo de trabalho
13
. As sugestes
sadas das reunies no pareciam ser efetivadas, o que causava uma
desmotivao generalizada entre o seu pblico-alvo (operrios e oper-
rias de produo). Quando isso acontecia, o reconhecimento salarial no
era compensador, gerando ressentimento; ou, ento, os resultados pr-
ticos advindos das sugestes no eram suficientemente valorizados, a
ponto de gerar um clima de confiana. Isso tudo dava margem lide-
rana sindical de denunciar o carter limitado e manipulativo dos CCQs,
como de fato aconteceu, a ponto de o experimento ficar associado a uma
estratgia dos patres.
Mas um dado da maior importncia nesse estgio de ensaio de im-
plantao mais sistemtico de estilos de gesto participativa a postura
contratualista do sindicato: ao invs da recusa simples, a tentativa de
negociar a implantao da organizao por local de trabalho, uma rei-
vindicao histrica do movimento sindical autntico (ao qual ficou
associado, depois, a CUT). Se a comisso de fbrica no era tolerada
ou tolerada apenas numa acepo empresarial , ento por que no
utilizar como moeda de troca as iniciativas do tipo CCQs ou seus asse-
melhados (como a Comisso de Representantes dos Empregados da
Volkswagen) para forar justamente a introduo de uma comisso com
estatuto negociado entre empresa e sindicato? Essa forma de fazer passar
direitos no transcorrer dos conflitos e dos embates de classe um aspec-
to pouco considerado nas anlises recentes sobre implantao de novos
modelos de gesto do trabalho na esteira da reestruturao produtiva.
No entanto, ele parece de suma importncia, pois significa, no fundo,
uma forma de regulamentao das relaes de trabalho. Embora tido
por alguns como uma atitude defensiva, trata-se de evitar o fato consu-
mado e tentar discutir as mudanas tcnicas e organizacionais de um
ponto de vista mais estratgico e menos circunstancial. Tal postura (co-
13. C rocolo do dologar rosponsabllldados, como um trao da cultura autorltrla ontro capltal
o trabalho quo mlna dosdo a baso qualquor protonsao do autonomla, sor dlscutldo logo a sogulr.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 147
nhecida como propositiva)
14
esbarra, no entanto, nas condies bas-
tante desfavorveis do mercado de trabalho, o que acaba dando mar-
gem aos seus crticos, denunciando-a como sendo de capitulao diante
do capitalismo, j que as vantagens materiais so muito tmidas.
Outra tcnica bastante difundida o Controle Estatstico de Proces-
so (CEP). Ele consiste em uma tcnica estatstica destinada a assistir ao
processamento de alguma pea no momento em que essa ltima est
sendo produzida, visando qualidade da mesma, pois os ndices de
conformidade da fabricao so comparados imediatamente com os
parmetros estabelecidos pela gerncia de produo. Permite um con-
trole em tempo real das condies de manufaturabilidade de alguma
pea, evitando que a deteco do erro ocorra somente aps a confeco
de um grande nmero delas, o que leva ao desperdcio. O operador ou
controlador fica diante de um painel ou marcador digital acoplado a
alguma mquina onde tenha sido implantado o CEP, registra os ndices
reais, efetua pequenos clculos, comparando os resultados com os par-
metros desejados, e em seguida encaminha um carto com os dados
obtidos para os escales tcnicos responsveis. Juntamente com outros
expedientes do modelo japons, o principal propsito dessa tcnica
efetuar o controle de qualidade no momento mesmo da manufatura,
isto , fazer certo da primeira vez, tanto quanto possvel evitando a
interveno de um departamento especializado de qualidade. Como
conseqncia, a responsabilidade do operador direto aumenta, pois, alm
das tarefas devidas ao seu posto de trabalho, ele deve adicionar a pre-
ocupao permanente com o resultado e a confiabilidade do produto
em processo.
Por um lado, isso pode fragilizar a ordem de produo e, por con-
seguinte, a direo da empresa, na medida em que o processo de traba-
lho fica mais dependente dos operadores diretos. Mas discutvel se o
mero acompanhamento de ndices e o preenchimento de cartes padro-
nizados envolveria uma qualificao realmente essencial para o bom
andamento do processo. Uma caracterstica importante dessa e de ou-
tras solicitaes da fora de trabalho nos modelos de trabalho mais sist-
14. Consultar Loonardo Mollo o Sllva, lorspoctlvas do acao slndlcal no rasll o om lortugal.
consldoraos prollmlnaros a partlr do oxomplos pontuals, O||c|oa Jo Ceoto Je |stuJos Soc|a|s,
Colmbra, n. 126, |ulho 1998, p. 19-23.
148 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
micos e menos segmentados a necessidade de qualificao, basicamente
de escolaridade que a forma mais elementar de aferir aquele quesi-
to. Ora, os nveis de escolaridade da fora de trabalho industrial no Bra-
sil sempre foram muito baixos, gravitando em torno da 4 srie do ensi-
no fundamental, sofrendo apenas recentemente (anos 90) um influxo no
sentido da elevao desses ndices, resultado simultneo tanto do esfor-
o de escolarizao efetuado pelas prprias empresas (contratando es-
colas para ministrar aulas de contedo universal dentro de seu prprio
espao fsico ou enviando seus trabalhadores com deficincia de forma-
o escolar para cursos fora da empresa, no ensino pblico ou privado)
quanto do simples ajuste do mercado de trabalho, expulsando o contin-
gente com baixa escolarizao e aproveitando a parcela mais bem pre-
parada. Assim, tanto menores os requisitos de qualificao, mais fcil
a substituio de operrios ou operrias por outros, por vezes com as
mesmas credenciais ou at mesmo superiores , para realizar tarefas
que no exijam maior complexidade. Tal pode ser o caso para o preen-
chimento de cartes de CEP.
Outro limitador para um real aumento da influncia do trabalho
sobre os processos produtivos baseados na qualidade, ao menos no Bra-
sil, refere-se necessidade de treinamento (para complementar a escola-
ridade). Tanto mais sofisticado, mais custoso, o que costuma afastar de
imediato muitas pequenas e mdias empresas do acesso a ele. Alm
disso, muitos autores insistem que vigora tambm, entre a elite empre-
sarial, alto grau de desconfiana no que concerne delegao de res-
ponsabilidade e conhecimento aos operadores de cho de fbrica, tanto
do ponto de vista tcnico (possibilidade de preparao de mquinas e
deciso sobre troca de ferramentas) quanto do ponto de vista econmi-
co-estratgico (informaes sobre metas da empresa, por exemplo). Como
os programas de qualidade (que incluem CEP, JIT, Kan-Ban, etc.), para
serem integralmente bem-sucedidos, baseiam-se fortemente no compro-
metimento do trabalhador, uma situao de desconfiana de parte a parte
pode minar o propsito original quando de sua implantao nas empre-
sas. Mesmo uma negociao do comprometimento (o que , at certo
ponto, uma contradio nos termos, pela dificuldade de se achar uma
medida para os graus de comprometimento) que desemboque em uma
via contratual tpica do tipo bnus ou prmios acrescidos aos salrios
de base parece estar fora de cogitao na maioria dos casos.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 149
Tudo indica que se est diante de um paradoxo: a radicalizao dos
mtodos de trabalho baseados na qualidade parece depender muito mais
da ao do patronato do que do lado trabalhista. Esse ltimo, ao contr-
rio, no parece ser hostil afora uma ou outra manifestao militante
introduo de sistemas de controle automatizado e a uma maior
carga de responsabilizao e portanto de trabalho nos processos
fabris. Basicamente pelo motivo de que eles representam, primeira
vista, para grande parte do pessoal de produo hoje empregado nas
indstrias, a possibilidade de treinamento e de acompanhamento de
cursos tcnicos e profissionalizantes que podero, a mdio e longo pra-
zo, levar a uma situao de menor exposio s oscilaes do mercado
de trabalho. H uma enorme expectativa quando treinamentos e cursos
de reciclagem so anunciados pelas empresas: o engajamento seguro e
a disputa pela incluso entre os contemplados quase certa, embora
possa no ser explcita
15
. O apelo mais sedutor, para essa parcela da
populao trabalhadora, no , portanto, o reconhecimento do seu sa-
ber, de maneira abstrata, mas antes a possibilidade muito concreta de
melhorar o seu estoque de habilidades e percias tecnicamente relevan-
tes para o jogo social que os impele a acrescer sempre mais um ponto na
qualificao de sua rea profissional, a fim de sobreviver no mercado do
emprego. Do ponto de vista do empregado, no tanto a permanncia
na empresa que visada mas a permanncia no emprego. Um treina-
mento ou um curso bem-feitos, acompanhados de uma percepo sub-
jetiva de que eles valem muito entre outras empresas no ramo, pode
fortalecer a posio de distanciamento ao invs de fidelizao em rela-
o empresa que os bancou inicialmente. As empresas e os respons-
veis diretos pela rea de formao dentro delas conhecem bem esse efei-
to indesejado e se queixam, com freqncia, de despender um alto custo
com treinamento para em seguida perder os seus melhores resulta-
dos para a concorrncia. Esse mais um motivo para encarar com des-
confiana os mtodos de gesto que oferecem uma margem maior de
qualificao, alm de um certo compartilhamento de decises com os
empregados.
15. Lssas lmprossos oram colhldas ao longo do vrlas ontrovlstas o dopolmontos do traba-
lhadoros duranto vlsltas a campo quo transcorroram a partlr dos moados da dcada do 1990.
1S0 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
A observao acima remete a uma concluso de carter mais geral
sobre o confronto dos paradigmas fordista e ps-fordista (ou toyotista) e
sua pertinncia para a realidade brasileira. Muito tem-se discutido na
sociologia do trabalho autctone sobre a oportunidade dessas caracteri-
zaes, que envolvem um conjunto razovel de variveis, todas contu-
do mantendo uma necessria coerncia entre si. A coerncia do modelo
japons, por exemplo, assenta-se em realidades que se auto-reforam,
tais como: a nfase na qualidade do produto ofertado, a prevalncia da
inovao incremental sobre a inovao radical, a fidelidade do trabalha-
dor empresa, o seu comprometimento com as metas, assim como o
protagonismo da grande empresa sobre uma rede de subcontratadas, o
carter de consrcio inclusive acionrio no interior dessa rede, e o
papel do sindicalismo de empresa, entre outros. Desse modo, uma das
dificuldades para se admitir uma difuso coerente do modelo japons
em nosso tecido industrial repousa exatamente no que foi dito antes
acerca do mercado de emprego, isto , por mais que os esforos empre-
sariais caminhem no sentido de pautar um comportamento menos inte-
ressado e mais baseado na parceria o que incluiria a relao no
apenas entre patro e empregado mas tambm entre cliente e fornece-
dor , a tnica da ao social orienta-se nitidamente para o padro do
interesse. Ou seja: podendo agir livremente, e sem constrangimentos
polticos excepcionais, os atores coletivos tendem para a reconstruo
de suas identidades de classe, no para modelos comunitrios.
Parece ser antes o recalque desse aspecto a ao social baseada
no interesse , por causa da prevalncia do autoritarismo e do corpora-
tivismo, o que vem causando um certo curto-circuito entre o padro
fordista e o padro ps-fordista no mbito das relaes de trabalho, no
Brasil. Quando o padro de relacionamento com a fora de trabalho fi-
nalmente atingiu um patamar moderno e contratual, os mtodos de ges-
to passaram a enfatizar o seu oposto, a substituio de uma identidade
de classe por uma identidade de empresa. A vitria do sindicalismo na
arena poltica, com a eleio de um ex-lder metalrgico para a Presi-
dncia da Repblica, assim como a investida das centrais sindicais (so-
bretudo a CUT e a Fora Sindical) nos assuntos de sociedade (progra-
mas de gerao de emprego e renda; polticas de financiamento pro-
duo; integrao regional; desenvolvimento local; cooperativismo etc.),
consagram um sindicalismo sensvel questo social, mas podem es-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 1S1
conder, por outro lado, a sua enorme incapacidade de se fazer presente ali
onde ele historicamente retirou a sua fora e sua razo de ser, isto , as
relaes de trabalho propriamente ditas, as lutas de classe na produo.
O terceiro componente de inovao na organizao do trabalho o
Just-in-Time, talvez aquele que melhor traduza o esprito da produo
enxuta (lean-production) que deriva do modelo de organizao adotado
pela Toyota, no Japo, desde a dcada de 1950. Como se sabe, o JIT pode
ser interno ou externo. No primeiro caso, ele se aplica no interior da
fbrica, e consiste basicamente na reduo de estoques intermedirios
entre cada posto ou estao de trabalho (que uma espcie de conjun-
to agregado de postos mais ou menos dedicados a uma mesma famlia
de produtos). Pode tambm ser estendido para unidades de fabricao
(sees ou departamentos) dentro de uma mesma empresa. No segun-
do caso, o mesmo princpio aplicado entre empresas, uma cliente e
outra fornecedora: essa relao pode-se estender em uma cadeia onde
uma mesma empresa pode funcionar como um elo, recebendo no tem-
po exato insumos e matrias-primas e entregando tambm no tempo
exato produtos acabados que se constituiro por sua vez em insumos
para uma prxima empresa, e assim sucessivamente. Trata-se de um
instrumento poderoso de racionalizao da produo, e tambm do tra-
balho, pela economia de tempo que acarreta.
Um outro instrumento que lhe complementar o Kan-Ban (carto
onde est indicada a especificao do produto ou do material que ser
entregue ou aquele que est sendo solicitado, a quantidade etc.), que
acaba funcionando como o meio de comunicao entre sees ou postos
em uma estao de trabalho, ativando a produo ou os eventuais esto-
ques que devero ser sempre mnimos.
As implicaes dessa forma, aparentemente simples, de organiza-
o da planta industrial so enormes: ela evita o custo representado pela
manuteno de estoques; contribui para a eliminao de desperdcios;
permite a deteco rpida dos pontos problemticos na linha; identifica
a origem de desbalanceamento do processo, uma vez que cada posto ou
estao s produz o que necessrio (nesse sentido, o processo anterior,
em linha de montagem, escondia esse desbalanceamento ao dilu-lo em
uma mdia); possibilita variaes mais freqentes no projeto do pro-
duto e por isso mais adequado a um mercado consumidor voltil e
exigente em termos de diferenciao e qualidade, gerando sempre no-
1S2 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
vos pedidos. Numa palavra, o JIT est estreitamente associado flexibi-
lidade da produo. Por outro lado, ele tem correspondncia tambm
com a flexibilidade do maquinrio, pois esse ltimo deve ser tecnica-
mente capaz de operar mudanas rpidas, se necessrio, e de produzir
lotes menores, evitando tambm o desperdcio e os custos elevados, seja
com ociosidade, seja com superproduo.
Mas entre as pr-condies mais importantes para a implantao de
programas de qualidade esto as condies macroeconmicas do pas:
isso afeta o ambiente produtivo, as empresas e, por conseguinte, as estra-
tgias de modernizao nas relaes entre capital e trabalho. As implica-
es so muitas, e podem se manifestar de maneira direta ou indireta.
De maneira indireta, poderamos identificar os seguintes condicio-
nantes:
1) um cenrio de retrao do investimento privado conduzindo a
demisses do contingente j empregado (portanto, dificuldade em re-
ter a fora de trabalho interna), e no-incorporao de pessoal de fora.
2) a fixao de alquotas de importao de determinados produtos
(o que muito importante no caso do Mercosul com a TEC
16
), podendo
definir a situao de ramos inteiros de atividade e piorando ali particular-
mente a sobrevivncia de pequenas e mdias empresas.
3) a guerra fiscal entre regies, podendo precipitar decises de
deslocamento de plantas industriais, e com isso desorganizar arranjos
sociais previamente estabelecidos (negociao com o sindicato, manu-
teno do contingente empregado e a confiana, de um modo geral,
entre os funcionrios).
4) uma relao dispersa e no-coordenada entre fornecedores, le-
vando a uma dificuldade de dispor, com presteza, escala e qualidade de
suprimentos necessrios para alimentar a cadeia produtiva.
De maneira direta, a inflao e a perspectiva de choques na econo-
mia podem minar o JIT, favorecendo estratgias de curto prazo tais como
a especulao com estoques, aquisio de matrias-primas em grande
quantidade por causa do fator preo, ou a reteno da diversificao de
pedidos em funo do temor das instabilidades de conjuntura.
16. 1arla Lxtorna Comum.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 1S3
importante mencionar ainda o peso de um outro fator de atuar
exogenamente mas que afeta tambm as polticas de flexibilidade das
empresas, o chamado custo Brasil: trata-se das condies de infra-
estrutura (transporte, impostos, excesso de burocracia etc.) que encare-
cem o produto e desestimulam a competitividade. Ora, se o esforo de
introduo dos programas de qualidade e produtividade est baseado
sobremaneira na busca por uma maior competitividade no mercado glo-
bal, ento esse no um quesito de importncia menor. Pensemos no
caso do JIT: se o sistema est fincado na entrega de um insumo no
tempo certo, o atraso causado por problemas na importao, ou devi-
do s ms condies das vias de escoamento de produtos, conspiram
para que a organizao produtiva no possa ser to magra (lean) quanto
se desejaria. Por outro lado, se o sistema tem sido bem-sucedido na for-
matao de uma rede de fornecedores e de clientes, pode-se supor o que
significa instabilidade e imprevisibilidade do contexto econmico, alia-
das s ms condies de infra-estrutura: impossibilidade de planejamento
e nus recaindo no elo mais fraco, isto , as empresas fornecedoras de
ltima linha (em geral, firmas pequenas, com poucas condies de fazer
face a oscilaes muito abruptas). O JIT, portanto e curiosamente, embo-
ra repouse em uma noo de flexibilidade, no deixa de prescindir mini-
mamente de planejamento.
Por fim, caberia mencionar o papel preponderante da empresa no
sistema industrial japons. No mercado de trabalho, essa prepondern-
cia tem efeitos imediatos, na medida em que o trabalhador se encontra
em uma posio de dependncia em relao ao empregador, o qual de-
veria ser o nico empregador de sua vida: se ele muda de empresa, ele
tem de recomear do zero. Como j mencionado, isso explica em boa
parte o comprometimento com as metas. No Brasil, o tipo de industria-
lizao induzido pelo Estado e o padro de constituio da questo so-
cial tem sido o de aprofundamento de direitos coletivos, com a incorpo-
rao de parcelas ento no reconhecidas como interlocutores pblicos.
Isso envolve uma correspondncia funcional entre o espao do mercado
como esfera do interesse e o espao da sociedade como esfera de exerc-
cio da cidadania, e portanto da pluralidade. Ora, a dependncia para
com a empresa cancela essa possibilidade de pluralismo, do ponto de
vista do assalariado. A subordinao empresa, no fundo, afeta a pr-
pria noo de um direito do trabalho de carter coletivo.
1S4 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
dentro desse contexto que se pode entender o pleito do movi-
mento sindical quanto formao profissional e treinamento: para ele,
a qualificao no deve ser um assunto interno s empresas (priva-
do), mas sim encarado como um assunto pblico, passvel de negocia-
o. Tambm dentro desse contexto que se deve entender a queixa
generalizada sobre o no pagamento de bnus de produtividade: ele
deveria vigorar para marcar os esforos individuais mas tambm as
diferenas com respeito empresa, na medida em que no se trata de
uma relao de parceria mas de clculo e interesse. Mesmo que, no
fim, uma postura como essa acabe levando emulao entre os pr-
prios trabalhadores.
|||.1. ^s cooseq0eoc|as Ja noJeo|zaao oJut|.a aa o taoa||o
Do ponto de vista do trabalho, os efeitos das mudanas tcnicas e
organizacionais que as empresas vm empreendendo no so de menor
monta. Contrariamente a uma viso idlica da modernizao industrial,
convm frisar algumas conseqncias que se impem. Em primeiro lu-
gar, uma maior responsabilizao dos prprios operrios e operrias,
acarretando uma carga mental que sentida objetiva (acidentes,
absentesmo) e subjetivamente (queixas de intensificao). A ateno
contnua com a operao automatizada substitui o esforo muscular
despendido anteriormente, quando o ritmo da mquina dependia do
acionamento do trabalhador. Aparece um tipo de insuportabilidade que
de difcil enunciao, porque carece de uma medida objetiva como
antes havia, os tempos desperdiados e as peas defeituosas em funo
de uma mecnica de gestos repetitivos. Para alcanar os mesmos objeti-
vos (tempos eficientes e peas no defeituosas) so mobilizadas quali-
dades cuja concretizao em uma pauta de negociao no tranqila,
dado que no so imediatamente visveis. Tais qualidades solicitam uma
vigilncia permanente do aparelho mental, alm de uma relativa subli-
mao do uso dos sentidos por exemplo: o tato para certificar-se de
que a pea est sendo satisfatoriamente usinada; a viso para acompa-
nhar o fluxo da produo; o olfato, no caso de indstrias qumicas ou de
processo; a audio para identificar o rudo das mquinas e o andamen-
to delas , o que corresponde a um movimento de transformao das
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 1SS
caractersticas dos processos de trabalho, que se tornam mais abstra-
tos
17
. O resultado uma percepo de maior desgaste por parte dos ope-
rrios de produo. No entanto, difcil estabelecer uma conexo direta
entre agravo mental e condies de trabalho. Os sindicatos dispem de
poucos instrumentos nesse mbito, a no ser a simpatia eventual de
profissionais de sade pblica. Para piorar, seu encaminhamento, pela
ausncia de um reconhecimento estatal do problema, acaba encontran-
do muitos obstculos, reduzindo-se ao caso a caso e, portanto, a uma
relao desigual entre capital e trabalho.
Em segundo lugar, o presentesmo (vigilncia permanente)
diante da mquina automatizada acarreta uma situao nova do pon-
to de vista ergonmico, onde j no so mais apenas os aspectos at
ento tradicionais da relao homem-mquina que devem ser consi-
derados (altura, postura corporal, curvatura dos membros superiores,
iluminao etc.) mas a mobilizao de uma disposio de viglia que
afeta, como se viu acima, a sade do trabalhador. Concretamente, os
operrios se queixam da falta de tempo e da supresso das margens
de evaso que davam ensejo a experincias coletivas. Nesses tempos
mortos, e cada vez mais comprimidos, escondiam-se formas de so-
ciabilidade, como as conversas. Alm disso, o desafio de superar uma
dificuldade imposta pelo mecanismo, ou ento pela prpria organiza-
o na forma de metas de produo, leva a um tipo de mobilizao da
inteligncia que tambm desgasta. No a monotonia mas, inversa-
mente, um desafio permanente que sentido como carga. No es-
panta que as reaes a tais estmulos sejam sobretudo individualizadas.
O apagamento das referncias coletivas do grupo operrio solapa as
prticas de resistncia, que extraam a sua fora da percepo social,
quer de uma relativa indiferenciao do trabalho (todos so iguais e com-
panheiros), quer de uma localizao bem estabelecida de lugares hie-
rrquicos, onde os operadores se comparavam uns com os outros. Hoje,
ao contrrio, a polivalncia permite que um trabalhador qualificado efe-
tue o trabalho de um no-qualificado, e vice-versa, o que desorganiza
aqueles lugares sociais e, por conseguinte, transfere o fardo da recusa
para o sujeito.
17. C oporador nao mals v a transormaao da matrla mas aponas o sou rosultado.
1S6 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Quanto ao controle disciplinar, ele deveria em tese ser mais objeti-
vo e no-arbitrrio, o que est estreitamente relacionado com o aspecto
da transparncia do mtodo, a depender menos das variaes humanas
e mais da prescrio dos instrumentos. No entanto, ele no prescinde de
altas doses de arbitrariedade, dessa vez oriunda do prprio grupo, e
no de cima para baixo, como antigamente. a gesto pelo grupo,
comum nas frmulas organizativas do tipo trabalho em grupo ou clu-
las de produo. Uma das pedras de toque desse formato a polivalncia
(ou multifuncionalidade), que apresentada no discurso gerencial como
uma oportunidade de formao para os operrios. Ora, o que se observa
que ela muitas vezes experimentada como espoliao operar mais
de uma mquina diferente seria, nesse sentido, efetuar trabalho a mais
e tambm como uma intensificao prpria. No caso dos operadores
mais especializados, essa oportunidade de fato uma maneira de ter
minado o seu poder de barganha diante da organizao.
A resultante bvia de todas essas movimentaes da empresa so-
bre o volume de emprego no se d apenas pela destruio de determi-
nados postos de trabalho, cujas operaes passam a ser efetuadas auto-
maticamente, mas tambm (1) pelo deslocamento dessas funes ou
operaes para outros, como se viu acima, e (2) pela maior preciso das
mquinas automatizadas (as MFCN
18
fornecem o ngulo privilegiado
para essas observaes), o que termina por suprimir funes auxiliares
que estavam relacionadas com as mquinas de tipo convencional (caso
exemplar: controle de qualidade)
19
.
|||.2. ^s e|aoes |oteenesas e a tece||zaao
Saindo do mbito da organizao do trabalho e entrando na esfera
das relaes interempresas, a comparao entre o modelo japons e a
prtica desse modelo no Brasil ressalta diferenas de monta. No Japo, a
relao entre empresa cliente e fornecedora baseia-se na participao
18. Mqulnas-lorramonta do Comando Numrlco.
19. Um ostudo sobro omprosas motal-mocnlcas quo lntroduzlram as MlCN podo sor oncon-
trado om Lolto, Mrcla do l. O |utuo Jo taoa||o. No.as tecoo|og|as e suoet|.|JaJe oe|a. Sao
laulo. Scrltta, 1994.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 1S7
acionria, na mobilidade de pessoal sobretudo tcnico e de engenha-
ria entre elas (chamada de shukko), e no emprstimo, de uma empresa
para outra, de equipamento e de capital (alm, como foi mencionado
acima, de pessoal). No Brasil, o mais comum encontrar a focalizao
convivendo com a terceirizao, como dois lados de uma mesma moe-
da: a empresa-me focaliza a produo (isto , concentra-se no negcio
principal dela) e ao mesmo tempo joga partes da produo que no
so o seu core para terceiros. Nesse ltimo caso, as grandes empresas
transferem o custo do ajuste, em caso de crise, para as subcontratadas
da cadeia so essas ltimas que devem arcar com a reestruturao,
reduzindo a margem de lucro ou demitindo. O que prevalece um ce-
nrio precarizante e no qualificante, conhecido na literatura sobre o
tema como sendo de flexibilidade externa. Ou, dizendo de outro modo: a
competio sobrepe-se cooperao como prtica dominante, e uma
relao de subordinao transparece por sobre a noo de consrcio ou
rede.
O cenrio positivo suporia, por exemplo, o compartilhamento, por
parte das PMEs, do uso de equipamentos caros e sofisticados, tais quais
o CAD (Computer Aided Design) e o CAM (Computer Aided Manufacturing),
como uma estratgia deliberada de capacitao de fornecedores. Nesse
ponto, a necessidade de compatibilizao dos mecanismos de controle e
aferio da qualidade entre aquele que adquire os servios e aquele que
os fornece levaria a uma propagao das inovaes tecnolgicas em sen-
tido vertical. No limite, assistir-se-ia criao de clubes ou associaes
de fornecedores onde prevaleceriam a circulao de saberes e a troca de
informaes e competncias, tanto entre as PMEs entre si quanto entre
essas ltimas e as grandes empresas (que funcionariam como adminis-
tradoras desses clubes), observando-se a participao das primeiras no
desenvolvimento do produto junto s segundas.
Mas constrangimentos de tempo, especificao e qualidade podem-
se tornar tambm mais cerrados, reduzindo as margens de escolha das
PMEs: perder um cliente poderoso, representado por uma grande em-
presa, pode significar a bancarrota econmica para elas. Isso permite
relativizar a noo de interdependncia ou parceria. Na verdade, o pro-
cesso de capacitao de fornecedores pode ser tambm simultaneamen-
te um processo de seleo de fornecedores, excluindo os menos aptos.
Um tal esquema darwiniano entre fornecedores s permanece quem
1S8 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
sobrevive s exigncias de preo e qualidade tem repercusses evi-
dentes sobre a fora de trabalho dessas empresas: a precarizao vai
sendo mais pronunciada quanto mais se desce na cadeia produtiva
em direo ao fornecedor (terceirizado) da ponta.
Na verdade, o vnculo interempresas no Japo (prevendo os em-
prstimos de trabalhadores e a transferncia de competncias) no obe-
dece a uma estrutura econmica exclusivamente competitiva, pois pres-
supe uma rede que inclui a participao de capital e a complementari-
dade industrial com a empresa-me. Existem vrios estatutos, como as
empresas filiais, coligadas, cooperadas, e aquelas que fazem parte do
mesmo grupo financeiro, sendo que as vinculaes e trocas variam de
acordo com esses estatutos. Tal estrutura estranha organizao in-
dustrial prevalecente no Brasil, ainda bastante verticalizada e muitas
vezes baseada em uma gesto dos negcios que obedece a uma cultura
empresarial pouco profissional, alm dos problemas de pulverizao do
financiamento. Alm disso, a ideologia que permeia as PMEs no Brasil
a do empreendedor quase herico, com ntida matiz individualista, ao
invs da pequena empresa como uma parte integrada de um grupo in-
dustrial maior, com quem mantm relaes ao mesmo tempo de coope-
rao e de dependncia.
No entanto, o aspecto decisivo desse novo desenho do tipo consr-
cio de empresas o desafio que ele coloca ao movimento dos trabalha-
dores e suas organizaes representativas, uma vez que exige que se
encare a empresa no mais como uma unidade de produo definida de
maneira estanque, mas, ao contrrio, como uma estrutura difusa que se
estende para aqum e para alm dela. Nada disso ainda foi capaz de
dissolver o horizonte da contratao coletiva na forma como ela posta
majoritariamente, orientando-se pelo padro da grande empresa. No
entendimento de uma parcela importante do movimento sindical, os
benefcios oriundos do estatuto do trabalhador assalariado devem-se
propagar para as empresas menores, segundo o padro bsico da in-
dustrializao fordista
20
.
20. As unlcas novldados nosso campo tm vlndo do um pu|anto movlmonto do cooporatlvls-
mo quo tom so dosonvolvldo do balxo para clma. Mas ai, nosso caso, | nao a ostrutura
lndustrlal sonao a proprla ldontldado da proprlodado capltallsta quo posta om quostao.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 1S9
Por fim, cabe ressaltar que h uma discusso entre pesquisadores
sobre como interpretar o impulso subcontratao entre empresas e o
expediente de terceirizao da mo-de-obra industrial e que envolve
tambm os servios, como limpeza, segurana, contabilidade, alimenta-
o etc., isto , as atividades chamadas no-nucleares, essas ltimas,
alis, pioneiras na externalizao do emprego nas grandes firmas. Essa
discusso acompanha, em linhas gerais, o debate internacional: de um
lado, os que enfatizam os elementos positivos (qualificao de fornecedo-
res, transferncia de tecnologia, capacitao da fora de trabalho), seguin-
do os entusiastas do modelo da especializao flexvel
21
; de outro, aqueles
que chamam a ateno para os efeitos em termos de precarizao do tra-
balho, perda de direitos e desestruturao dos coletivos operrios.
Enquanto exemplos de externalizao do trabalho com o propsito
nico de corte de custos podem ser encontrados mo-cheia, especialmen-
te nos ramos tradicionais como calados e confeces
22
, os casos virtuosos
todavia so mais difceis de serem desagregados de seus elementos nega-
tivos: por mais que esse no seja um efeito desejado, a subcontratao de
outras empresas no lugar de atividades que antes eram realizadas pela
empresa contratante sempre acaba conduzindo supresso de postos de
trabalho
23
e racionalizao daqueles restantes. Sem negar, portanto, as
virtudes do modelo, o mnimo que se pode dizer a seu respeito que ele
contraditrio em sua prpria natureza: por um lado qualifica, por outro
precariza. Por isso aqui, como ademais em outros temas da agenda da
reestruturao produtiva, os sindicatos brasileiros mais importantes tm
procurado negociar as mudanas, j que elas parecem inevitveis.
|||.3. O .e||o e o oo.o oa gestao e|a qua||JaJe
Uma das questes que percorrem a considerao dos novos mto-
dos de organizao e gesto do trabalho associados aos programas de
21. lloro, Mlchaol }., Sabol, Charlos. !|e SecooJ |oJust|a| ||.|Je. Now ork. aslc ooks,
1984.
22. Vor Abrou, Allco k. l., Sor|, . (orgs.). O taoa||o |o.|s|.e|. |stuJos sooe taoa||aJoes a
Jon|c|||o oo |as||. klo do }anolro. klo lundo, 1993.
23.Cs novos postos crlados nas omprosas contratadas quando lsso ocorro parocom sor
do plor qualldado o com salrlo mals balxo.
160 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
qualidade at que ponto eles so, de fato, novos, isto , se j no
faziam parte do estoque convencional de estratgias de aproximao
entre patres e empregados que povoam a rea de recursos humanos
das empresas. Pode-se encontrar entre essas ltimas, j h bastante tem-
po, expedientes tais como: preocupao com o clima interno das ses-
ses, programa portas abertas (as famlias dos operrios visitam a f-
brica onde trabalha o pai ou a me), caf da manh com o chefe, entre
outros. Os nomes so muito sugestivos e alguns so achados de uma
empresa especfica, no se encontrando em nenhuma outra, embora tam-
bm nesses casos exista um padro modelar (os nomes variam entre
Mesa Redonda, Livre Acesso, Trs Pontas, Gesto Participati-
va, alm dos j mencionados). Todos esses expedientes compartilham
no entanto a idia da necessidade de distenso entre os trabalhadores
de produo e os escales intermedirios e gerenciais, a fim de conjurar
conflitos potenciais no cho de fbrica. Esse movimento em direo a
um maior dilogo entre capital e trabalho desenvolveu-se nitidamen-
te entre a elite empresarial a partir da emergncia do sindicalismo com-
bativo do final da dcada de 1970, chacoalhando a antiga ordem autori-
tria. Desde ento, no incomum detectar isso que o movimento sindi-
cal de pronto nomeou como cooptao do capital para ganhar o as-
sentimento do peo. Quando os CCQs comearam a circular de uma
maneira mais definida, no incio dos anos 80, configurando-se como um
movimento que tendia a se espalhar pela indstria e servios, a identifi-
cao com as antigas estratgias de cooptao logo veio tona. As dife-
renas daquelas estratgias em relao aos programas da qualidade oriun-
dos do toyotismo, contudo, so relevantes: os mtodos japonesa tm
um carter sistmico, isto , dependem da mudana de outros aspectos
da organizao, desde o relacionamento externo (com os fornecedores,
com o crdito bancrio), at o relacionamento interno, entre a fora de
trabalho e os quadros de controle. Ademais, os mtodos de trabalho
baseados na qualidade dependem de uma reorganizao produtiva do
processo (o fluxo puxado pelo fim da linha, ou seja, pela demanda), no
sendo compatvel com processos de produo muito rgidos. Mas exter-
namente, do ponto de vista de quem sofria os seus efeitos, ou seja, o
trabalhador, o resultado no parecia muito diferente.
Alm do aspecto dos recursos humanos, outra dimenso das rela-
es de trabalho tambm mostrava mais continuidade do que ruptura
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 161
com o passado recente: os benefcios e vantagens incorporados ao que
se costuma designar como salrio-indireto: os auxlios de transporte,
de alimentao, os subsdios na compra de medicamentos
24
, a cesta b-
sica, at mesmo emprstimos pessoais em alguns casos. Esses expedien-
tes de welfare privado tambm tinham o propsito explcito de persua-
so como os do cardpio de hoje , convivendo com o controle dire-
to da linha e o poder hierrquico das chefias de ento.
Mas o dbil contraste entre os expedientes de um passado no to
distante, no Brasil, e os dos novos paradigmas organizativos ps-anos
80 nos conduz a uma segunda questo, posta alis por estudiosos inter-
nacionais do tema, que a seguinte: o que h, afinal, de japons no
modelo japons? Dito de outra forma: at que ponto o que o discurso
sobre o modelo diz o que de fato pode ser encontrado na realidade da
organizao do trabalho em fbricas do Japo? Essa pergunta tem uma
certa importncia na medida em que, se uma tal no-correspondncia
entre discurso e prtica existe no corao do sistema, ento no h razo
para se cobrar uma coerncia do mesmo alhures, isto , em seus trans-
plantes em outros pases do globo. Desse ngulo, no faria muito senti-
do cobrar, por exemplo, os bnus de produtividade, ou o enxuga-
mento dos escales hierrquicos com a conseqente simplificao das
classificaes profissionais e reduo da disperso salarial, a reteno
da fora de trabalho na empresa, bem como outros traos distintivos, no
Brasil, pela simples razo de que eles j no estariam mais em vigncia
com tanta fora no prprio Japo, devido crise por que vem passando
a sua economia nos ltimos anos
25
.
Outros mtodos utilizados como formas de racionalizao do tra-
balho dentro dos novos modelos de organizao industrial que pode-
riam ser citados so a Manuteno Produtiva Total (Total Productive
Maintenance)
26
; o MRP; a Anlise de Causa e Efeito do Padro de Falha;
24. No caso das lndustrlas armacutlcas, lsso acontoco na orma do dosconto na compra do
modlcamontos da marca da omprosa.
25. Consultar Machlko Csawa, 1ransormaao ostrutural o rolaos lndustrlals no morcado
do trabalho |apons. ln. Hlrata, Holona, op. clt., 1993.
26. 1rata-so do procodlmontos (chocagons, tostos) quo buscam antoclpar a ocorrncla do
parallsaao do maqulnrlo dovldo a alhas, podo-so caractorlz-la como uma manutonao corro-
tlva e\-aote.
162 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
os sistemas de informao baseados no princpio da retroinformao,
permitindo a identificao de dados de fabricao, tais como: data de
fabricao, nmero de lote do produto, mquinas e pessoal exato utili-
zados em sua confeco, e os responsveis pela qualidade; a Manufatu-
ra Celular; e tantos outros. difcil inclusive definir os contornos de
cada um desses mtodos, de tal maneira a precisar o que especfico a
um e no a outro. Por exemplo: a retroinformao pode ser encontrada
na manufatura celular; j a polivalncia condio para essa ltima,
assim como para o MPT, e em certa medida para todos os programas de
qualidade.
Outro problema estabelecer a amplitude real de cada princpio ou
mtodo. No caso da polivalncia, essa dificuldade bem presente: algu-
mas empresas podem considerar como polivalente a mera rotao (ro-
dzio) de postos de trabalho efetuado por um nico trabalhador, ao in-
vs de um compartilhamento de conhecimentos produtivos diversos
dentro de uma mesma atividade de trabalho. A definio do objeto mes-
mo da mudana (quando se trata de implantar um mtodo novo de
trabalho) um aspecto problemtico, sujeito a interpretaes que tradu-
zem expectativas diferentes o caso da polivalncia encaixa-se bem a
propsito. Quando os sindicatos ou outra representao do trabalho
procuram estabelecer alguns parmetros mnimos de definio, eles
buscam aproxim-la de suas expectativas do que seja polivalncia, o
que em geral deplorado como uma tentativa de rigidificar demasia-
damente o programa.
Boa parte das frices (sem desembocar, portanto, em conflitos aber-
tos) nas relaes internas produo diz respeito a estar de acordo sobre
o que cada parte efetivamente entende por produtividade, qualidade,
polivalncia, envolvimento, automao etc. Trata-se de uma luta pelo
sentido que no aparece exatamente porque muito difcil de se con-
verter em um tema de regulamentao nas pautas de negociao sin-
dicais. A automao, mesmo desejada e no recusada pelos trabalhado-
res, como muitas pesquisas demonstraram
27
, carece de um entendimen-
to compartilhado sobre o seu significado: as tarefas que so substitudas,
27. Nodor ot al., op. clt., 1988, Mrcla Lolto, lnovaao tocnologlca o rolaos do trabalho.
a oxporlncla brasllolra a luz do quadro lntornaclonal. ln. Castro, Nadya Arau|o (org.). ^ nqu|oa
e o equ|||o|sta. |oo.aoes oa |oJst|a autonoo|||st|ca oas||e|a. Sao laulo. laz o 1orra, 1995.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 163
as que permanecem, as razes para a manuteno de umas e a supres-
so de outras, o tipo de interveno a ser efetuada nos sistemas automa-
tizados, a superviso montona de processos que desenrolam-se por si
ss ou a responsabilidade sobre o seu andamento e ritmo, levando a
certas margens de escolhas etc. Alguns autores interpretaram tal fluidez
na definio precisa das competncias do trabalho nos novos processos
automatizados como um incremento da intensificao, que j era gran-
de no fordismo. Ao automatizar uma seo da fbrica, mantendo a ou-
tra manual, a resultante o ritmo da segunda se adaptar ao ritmo da
primeira, o que leva a um aumento da carga para os operadores que no
tiveram suas tarefas transferidas para o mecanismo
28
. Alm disso, di-
fcil justificar socialmente a convivncia de duas idades tecnolgicas
em uma mesma unidade de produo, qui para uma mesma funo
(por exemplo, usinagem em indstrias metal-mecnicas): so duas ge-
raes de trabalhadores que se confrontam na certa, uma vai perma-
necer, enquanto que a outra tem a indicao visvel que est com os seus
dias contados.
Por outro lado, o quadro regulatrio conspira contra as mudanas,
como ocorre com o impedimento legal de se efetuar trabalho diferente
para o qual o assalariado foi contratado. Nesse caso, a lei protege a qua-
lificao, erigindo um obstculo rotao de tarefas. Os lderes sindicais
ficam na berlinda, pois aferrar-se defesa da lei eventualmente traz como
resultado o afastamento da base, a qual pode almejar a perseguio da
qualificao por meio exatamente das mudanas de tarefas, com isso pre-
parando-se inclusive para um mercado de trabalho bastante exigente.
Na medida em que a negociao coletiva inclusive quanto a sa-
lrios, como pode ser atestado pela implementao da Participao nos
Lucros e Resultados vai tomando uma feio menos abrangente, o
padro normativo das mudanas organizacionais vai deixando de ser
associado ao ramo ou profisso e passando a ser associado cada vez
mais empresa. O resultado aparente que os temas da reestruturao
produtiva, no limite, seriam flexveis tanto quanto as empresas so irre-
dutveis entre si, o que desorienta bastante as formas tradicionais de
ao sindical.
28. kul Quadros Carvalho, Hubort Schmltz, C ordlsmo ost vlvo no rasll, No.os |stuJos
Ceoa, Sao laulo, n. 27, p. 148-56, |ul. 1990.
164 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
lV. ConcIuso
Nesse ponto, o modo como a reestruturao produtiva tem sido
implementada dentro das empresas, no Brasil, reproduz a forma
antipblica de formao da sociabilidade ps-abertura poltica. Pblico
e privado ainda se misturam onde no deveriam, e o poder de regula-
mentao coletiva do trabalho procura, tambm nesse tema, fazer as
vezes de elemento modernizador. A diferena que a pauta da reestru-
turao industrial baseada nos novos paradigmas ela tambm privati-
zante, e isso em dois sentidos.
Primeiro, no acento familialista das polticas de comprometimento
e persuaso da fora de trabalho: ganhar o trabalhador ou trabalhadora
e sua famlia inteira para a ordem fabril e para os imperativos de quali-
dade e produtividade faa em sua casa o que voc faz na fbrica,
diz a propaganda sobre (a eliminao do) desperdcio; ou, ainda, privi-
legiar a contratao do cnjuge para recompor um ambiente de reforo
dos valores de franqueza, transparncia e confiana
29
.
Segundo, na medida em que coloca o acento na flexibilizao e no
na regulao. Ora, nossa cultura sindical est baseada na noo de direi-
tos: no apenas como arma para sustentar as condies de trabalho m-
nimas de um regime fabril moderno, mas em uma outra acepo, como
acesso a uma identidade coletiva, de dignidade e de orgulho de fazer
parte de um grupo social (uma classe) relevante para a construo da
nacionalidade. Uma leitura retrospectiva sobre a nossa histria republi-
cana vai demonstrar isso sem dificuldade
30
.
O movimento sindical e trabalhador como um todo tem assim diante
de si um duplo desafio: recuperar o atraso histrico em termos de uma
regulao fordista do salrio e das normas de contratao coletiva, por
um lado, e lutar contra a investida privatizante dos novos mtodos de
organizao do trabalho, por outro, o que, quanto a esse ltimo aspecto,
29. Lssa ol a roalldado oncontrada om uma grando omprosa multlnaclonal da roa do cos-
mtlcos. Vor a proposlto a posqulsa 1rabalho o qualllcaao no comploxo quimlco paullsta,
Clbolo S. klzok o Loonardo Mollo o Sllva, Codos-CNlq/llnop, 1997.
30. laoll, M. Clla. Cs dlroltos do trabalho o sua |ustla. om busca das roornclas domocr-
tlcas. ke.|sta LS|, Sao laulo, Ldusp, n. 21, p. 100-15, 1994.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 16S
conecta o desafio local com o desafio global de cada movimento de tra-
balhadores em cada espao nacional.
Embora com tradies de relaes industriais distintas e temporali-
dades tambm diversas quanto institucionalizao e papel poltico do
sindicalismo, Brasil e Portugal experimentam hoje pontos de conver-
gncia quando se leva em considerao os requisitos de qualidade e
produtividade que acicatam as empresas aqui como l, tendo em vista
as exigncias oriundas das normas internacionais de produo. O qua-
dro torna-se mais problemtico quando os marcos de regulao nesse
mbito, tidos como adquiridos, vo sendo desmontados em Portu-
gal, com o novo Cdigo do Trabalho em discusso atualmente; no Brasil,
com as Reformas que instabilizam os parcos recursos de proteo e as-
sistncia que, devidos a uma era anterior ao novo sindicalismo, per-
manecem ainda, paradoxalmente, como as balizas de um frgil sistema
de bem-estar.
Rcfcrncias bibIiogrficas
AkLU, Allco k. l. o SCk}, . (orgs.). O taoa||o |o.|s|.e|. |stuJos sooe taoa||a-
Joes a Jon|c|||o oo |as||. klo do }anolro. klo lundo, 1993.
CAkVALHC, kul Quadros o SCHMl1Z, Hubort. C ordlsmo ost vlvo no rasll,
No.os |stuJos Ceoa, Sao laulo, n. 27, p. 148-56, |ul. 1990.
lLLUk, Aonso. kotlnlzaao do trabalho. o caso das lndustrlas mocnlcas. ln.
lLLUk, Aonso C. C. o VAkCAS, Nllton (orgs.). Ogao|zaao Jo taoa||o.
Sao laulo. Atlas, 1983.
HlkA1A, Holona (org.). Sooe o noJe|o aooes. autonat|zaao, oo.as |onas Je
ogao|zaao e e|aoes Je taoa||o. Sao laulo. Ldusp/Allana Cultural rasll
}apao, 1993.
HlkA1A, Holona o lkLSSLNL1, Mlchaol. Mudanas tocnologlcas o partlclpaao
dos trabalhadoros. os circulos do controlo da qualldado no }apao. k^|
ke.|sta Je ^Jn|o|staao Je |nesas, Sao laulo, kALpubllcaos, v. 25,
n. 3, 1985.
LLl1L, Mrcla do l. O |utuo Jo taoa||o. No.as tecoo|og|as e suoet|.|JaJe oe-
|a. Sao laulo. Scrltta, 1994.
LLl1L, Mrcla. lnovaao tocnologlca o rolaos do trabalho. a oxporlncla brasl-
lolra a luz do quadro lntornaclonal. ln. CAS1kC, Nadya Arau|o (org.). ^
166 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
nqu|oa e o equ|||o|sta. |oo.aoes oa |oJst|a autonoo|||st|ca oas||e|a.
Sao laulo. laz o 1orra, 1995.
MLLLC L SlLVA, Loonardo. lorspoctlvas do acao slndlcal no rasll o om lortugal.
consldoraos prollmlnaros a partlr do oxomplos pontuals, O||c|oa Jo Ceo-
to Je |stuJos Soc|a|s, Colmbra, n. 126, |ulho 1998, 25p.
NLDLk, klcardo 1olodo, AkAMC, Lals Wondol, SCUZA, Nalr Hololsa lcalho
do, DlAZ, Alvaro, lALALLLA, Conzalo, SlLVA, koquo Aparocldo da.
^utonaao e no.|neoto s|oJ|ca| oo |as||. Sao laulo. Hucltoc, 1988.
CSAWA, Machlko. 1ransormaao ostrutural o rolaos lndustrlals no morcado do
trabalho |apons. ln. HlkA1A, Holona (org.). Sooe o noJe|o aooes.
autonat|zaao, oo.as |onas Je ogao|zaao e e|aoes Je taoa||o. Sao lau-
lo. Ldusp/Allana Cultural rasll }apao, 1993.
lACLl, M. Clla. Cs dlroltos do trabalho o sua |ustla. om busca das roornclas
domocrtlcas. ke.|sta LS|, Sao laulo, Ldusp, n. 21, p. 100-15, 1994.
llCkL, Mlchaol }., SALL, Charlos. !|e SecooJ |oJust|a| ||.|Je. Now ork. aslc
ooks, 1984.
SAN1CS, oavontura do Sousa. C Lstado, as rolaos laborals o o om-Lstar
Soclal na somlporlorla. o caso portugus. ln. SAN1CS, oavontura do Sou-
za (org.). |otuga|. un etato s|ogu|a. lorto. Arontamonto, 1993.
SlNDlCA1C DCS ML1ALUkClCCS DL SCkCCAA. CCQ. Hlstorla do poao quo
chogou om casa contando para a mulhor quo tlnha lcado lmportanto na
brlca..., Coloao 1lro ao Alvo n. 1.
WCMACK, }amos, }CNLS, Danlol, kCCS, Danlol. !|e \ac||oe t|at c|aogeJ t|e
uo|J. Now ork. kawson Assoclatos, 1990 |od. brasllolra da Ldltora Campus,
klo do }anolro, 1992}.
167
7
1osos para a ronovaao do slndlcallsmo
om lortugal, soguldas do um apolo'
|oa.eotua Je Sousa Saotos
1. O futuro do sindicalismo to incerto, como tudo o resto
nas sociedades capitalistas do fim do sculo. Nem mais nem
menos.
H quem preveja que o movimento sindical, como qualquer outro
movimento, tem um ciclo vital, infncia, maturidade, velhice e morte. A
verdade que o ciclo vital do sindicalismo est muito ligado ao do capi-
talismo. Enquanto no se descortinar a morte do capitalismo no parece
provvel que se possa assistir morte do sindicalismo. Isto no impede
que, entretanto, quer o capitalismo, quer o sindicalismo se transformem
profundamente.
A crise do sindicalismo , contudo, uma evidncia e a enorme difi-
culdade em levar a cabo uma discusso sria sobre o estado do sindica-
lismo talvez a prova maior da existncia dessa crise.
' Comunlcaao aprosontada no Coloqulo Slndlcallsmo, os Novos Camlnhos da Soclodado,
organlzado pola CC1l-lN o roallzado om Llsboa no dla 15 do Maro do 1995.
168 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
2. Os problemas com que se debate entre ns o movimento sindi-
cal no so especficos da sociedade portuguesa. Tendo causas e
caractersticas comuns com as do movimento sindical interna-
cional, assumem, no entanto, na nossa sociedade alguns traos
prprios.
costume dividir o movimento sindical nos pases europeus mais
desenvolvidos depois da segunda guerra mundial nos seguintes pero-
dos: O primeiro perodo, finais da dcada de sessenta, princpios da dca-
da de setenta, foi de grande mobilizao colectiva dos trabalhadores e
seus sindicatos. Foi, alis, um perodo de grande mobilizao social em
geral do qual emergiram novos movimentos sociais com propostas social
e politicamente muito mais avanadas que as dos sindicatos, pressionan-
do estes a abandonar o status quo sindical do ps-guerra. Neste perodo,
a grande questo para os sindicatos foi a da sua capacidade para repre-
sentar adequadamente reivindicaes operrias por vezes radicais e
insusceptveis de acomodar nas estruturas organizativas dos sindicatos.
O segundo perodo, que corresponde grosso modo dcada de
setenta, foi o perodo da concertao social. Perante a forte mobilizao
colectiva e sem melhores alternativas, o empresariado aceitou uma maior
participao dos trabalhadores e dos seus sindicatos na gesto das em-
presas e da poltica macro-econmica. medida que a mobilizao
colectiva se institucionalizou, o Estado assumiu um papel mais central
nas negociaes colectivas tripartidas.
O terceiro perodo, que se inicia no princpio da dcada de oitenta e
vem at aos nossos dias, a crise da macro-concertao social. Novos
conceitos de produo ps-fordista reclamam a flexibilizao da relao
salarial, a segmentao, a fragmentao e diversificao da fora do tra-
balho, e a consequente deslocao do centro de gravidade das relaes
capital-trabalho da macro-concertao para a micro-negociao da em-
presa. O Estado procura retirar-se e os empresrios e gestores ganham
poder de iniciativa na gesto da produo.
hoje reconhecido que, nos pases centrais, o movimento sindical
emergiu da dcada de oitenta no meio de trs crises distintas ainda que
interligadas. A crise da capacidade de agregao de interesses em face da
crescente desagregao da classe operria, da descentralizao da produ-
o, da precarizao da relao salarial e da segmentao dos mercados
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 169
de trabalho; a crise da lealdade dos seus militantes em face da emergncia
contraditria, do individualismo e de sentimentos de pertena muito mais
amplos que os sindicais que levou ao desinteresse pela aco sindical, a
reduo drstica do nmero de filiados, ao enfraquecimento da autorida-
de das lideranas sindicais; e, finalmente, a crise de representatividade
resultante, afinal, dos processos que originaram as duas outras crises.
A descrio desta periodizao mostra bem que ela se adequa mal ao
movimento sindical portugus. O primeiro perodo foi vivido na sua maior
parte pelo movimento sindical portugus em clandestinidade. Lembrar
as condies difceis em que tiveram lugar as grandes mobilizaes ope-
rrias, sobretudo a partir de 1969, a melhor maneira de homenagearmos
hoje a Intersindical na celebrao nos seus vinte cinco anos.
No momento em que nos pases europeus se iniciava o perodo da
concertao social ocorreu entre ns o 25 de Abril que transformou pro-
fundamente as relaes entre o capital e o trabalho. Grande mobilizao
colectiva, por vezes contra as directivas sindicais, o capital em fuga, os
gestores remetidos gesto do medo, a nacionalizao da grande inds-
tria. banca e seguros, um Estado paralisado na sua capacidade repressi-
va e aparentemente mais prximo do trabalho do que do capital, tudo
isto criou momentaneamente a vertigem do socialismo. Este perodo
vincou uma das marcas mais distintivas do sindicalismo portugus: o
facto de a sua fora ser indissocivel da influncia que pode exercer so-
bre o poder do Estado.
A segunda metade da dcada de setenta foi, por isso, particular-
mente difcil para o movimento. Perante um tecido empresarial drama-
ticamente heterogneo tendo, de um lado, um patro demasiado pode-
roso, o Estado, ou as multinacionais, e, do outro, uma imensido de
pequenos e mdios empresrios sem prtica nem cultura capitalista, o
movimento sindical, saturado de ingerncias partidrias, teve de convi-
ver com a frustrao de um sonho socialista cada vez mais distante e
com uma prtica de reconstruo capitalista segundo as receitas do pri-
meiro acordo com o FMI.
j no fim da dcada de setenta que se inicia entre ns o perodo
da concertao social. A criao da UGT com forte interveno do Esta-
do e igualmente saturadas ingerncias partidrias, marca o incio desse
perodo que tem na criao do Conselho Permanente de Concertao
170 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Social em 1984 o seu segundo momento significativo, tendo lugar o ter-
ceiro momento j no final da dcada de oitenta quando a CGTP assume
o seu lugar no Conselho. Isto significa que, entre ns, a concertao so-
cial se institucionaliza no momento em que h muito estava em crise
nos pases europeus mais desenvolvidos, ento j em plena fase de fle-
xibilizao da relao salarial.
No prazo de pouco mais de vinte anos, Portugal viveu em curto
circuito histrico a sobreposio de diferentes momentos de relaes en-
tre o capital e o trabalho que noutros pases tiveram um desenvolvi-
mento orgnico e sequencial. E para mais viveu-os em dessincronia com
o que sucedia em sociedades europeias a que entretanto nos fomos li-
gando mais e mais em termos econmicos e polticos. Quando a houve
mobilizao colectiva, tivemos represso, quando a houve concertao
tivemos mobilizao e nacionalizaes, quando a houve crise da
concertao e flexibilizao aqui tivemos um discurso de concertao e
uma prtica de flexibilizao.
No admira, pois, que a vida sindical esteja hoje mergulhada numa
crise de identidade. Num pas com legislao laboral relativamente avan-
ada, os direitos dos trabalhadores so macia e impunemente violados.
Os nossos empresrios e gestores contam-se entre os mais arrogantes e
hostis de toda a Europa para com a actividade sindical. Nalgumas em-
presas, os mesmos gestores de h vinte anos confrontam hoje os mes-
mos dirigentes sindicais de h vinte anos com uma arrogncia tal que
choca at ao absurdo com o medo que h vinte anos os levava a consul-
tar os trabalhadores por tudo e por nada.
3. A dessincronia entre o movimento sindical portugus e o euro-
peu no resolvel a curto prazo. Enquanto na Europa hoje
comum dizer-se que a reestruturao industrial e nova
terciarizao da economia esto completadas e que o enfraque-
cimento que ela provocou no movimento sindical j atingiu o
seu ponto mais fundo, em Portugal nada nos garante que isto j
tenha sucedido.
A reestruturao est em curso ainda, as presses sobre o movi-
mento sindical so sobretudo negativas, no sentido da desregulamenta-
o da economia e da diviso do movimento sindical, da degradao
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 171
dos salrios reais e do trabalho precrio, e no se vislumbra ainda um
padro civilizado e consistente de relaes entre trabalhadores e empre-
srios, um padro adequado s novas condies de continuada reorga-
nizao da produo, cada vez mais dominada pela qualidade e pela
competio e concorrncia internacionais. Sabemos que estas novas con-
dies funcionam como restries: o importante saber como se pode-
ro converter em oportunidades para o movimento operrio e sindical.
O movimento sindical portugus est na contingncia de viver os
prximos anos em clima de grande insegurana e incerteza que, por
vezes, atingir a prpria identidade do interlocutor (vai haver indstria
portuguesa ou indstria em Portugal? H uma classe empresarial por-
tuguesa ou uma classe empresarial em Portugal, ou nem uma coisa nem
outra? H um Estado Portugus ou um Estado em Portugal que executa
no nosso pas as directivas da Unio Europeia?).
Nestas condies o sindicalismo portugus ser certamente solici-
tado em direces opostas. Por um lado, pretender-se- que navegue
vista, assumindo uma estratgia defensiva dominada pela lgica da
guerra de posio. Por outro lado, pretender-se- que atente para alm
do que est prximo e visvel, que seja agressivo e criativo nas suas
propostas e que, aproveitando as inseguranas presentes, que tambm
atingem o empresariado, assuma uma estratgia dominada pela lgica
da guerra de movimento.
Dada a volatilidade das condies presentes, no possvel decidir
com segurana se uma ou outra postura a mais correcta. A minha in-
tuio e o meu senso comum de socilogo diz-me que a segunda, sendo
a mais difcil, a mais promissora. Perfilho-a, no entanto, com um qua-
lificativo importante. que, em meu entender, para ter xito, uma estra-
tgia de longo alcance, agressiva e criativa tem de comear por aplicar-se
ao prprio movimento sindical, questionando-o de alto a baixo na con-
vico que a co-participao na construo de um futuro melhor s
possvel se assentar na co-responsabilizao nos erros do passado que
desembocaram no presente.
Em meu entender, prefervel que seja o movimento sindical a ques-
tionar-se a si prprio e por sua iniciativa, at porque, se o no fizer,
acabar por ser questionado a partir de fora, como j est a suceder, e
por foras sociais e polticas que lhe so hostis.
172 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Por assim entender, centro as minhas teses e o meu apelo nas tare-
fas de autoquestionamento do sindicalismo portugus convicto de que
por esta via se obter a prazo uma maior dignificao do trabalho e do
sindicalismo.
4. O movimento sindical foi moldado e consolidado ao nvel das
sociedades nacionais. Hoje est sob uma dupla e contraditria
presso desestruturadora: a presso das exigncias locais e
localizantes, por um lado, e a presso das exigncias transnacio-
nais e transnacionalizantes, por outro.
Tanto as presses locais como as transnacionais conduziro a um
processo de reconstruo institucional do sindicalismo que ser longo e
difcil mas o nico susceptvel de transformar as dificuldades em opor-
tunidades.
Em ltima instncia, as dificuldades decorrem do estreito e desi-
gual quadro em que opera a funo histrica primacial dos sindicatos: a
luta e a negociao colectivas. O patronato e os governos nacionais par-
tem para a negociao colectiva ancorados em polticas econmicas in-
ternacionais. As suas propostas reflectem a mundializao dos capitais,
obedecem a lgicas de regulao mundial ou de espaos econmicos
integrados e a quadros de concorrncia sectorial definidos escala glo-
bal. Ao contrrio, os trabalhadores discutem, no essencial, em estrito
quadro nacional, reflectindo a imperfeio do fenmeno de mundializa-
o, isto , o facto de a fora de trabalho ser ainda essencialmente local.
A desproporo de foras , assim, abissal: todos os governos (se-
jam eles liberais, conservadores ou socialistas) apresentam mesa das
negociaes, grosso modo, as mesmas solues: conteno ou reduo
salarial; segmentao e flexibilizao do mercado de trabalho; desman-
telamento das aquisies do Estado-Providncia (onde exista); e impul-
so aos programas privatizadores. Com os dois primeiros objectivos, os
governos querem evitar a queda dos lucros na expectativa da retoma
dos investimentos. Com os dois ltimos, o objectivo manter em nveis
tolerveis o dfice oramental. A opo estratgica da actual ordem
econmica o controlo nacional das tenses inflaccionrias e no do
emprego.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 173
Esta talvez a principal dificuldade prtica da funo sindical e
uma das causas mais fortes da descrena na fora do sindicalismo. As-
sim sendo, os dirigentes sindicais no podem adiar por mais tempo a
extraco de consequncias. Estamos em presena de uma contradio
no passageira e que exige respostas altura do que est em jogo. H
um problema de lugar para o sindicalismo no contexto da mudana de
espao e de escala em que operam as polticas econmicas luz das
transformaes em curso nos sistemas produtivos.
5. A globalizao da economia e as transformaes nos sistemas
produtivos esto a alterar profundamente as relaes no espao
da produo. Estas relaes so de dois tipos: as relaes de pro-
duo contratualmente estabelecidas entre o trabalho e o capital
e que constituem no seu conjunto a relao salarial, e as relaes
na produo que governam o trabalho concreto realizado pelos
trabalhadores durante o dia de trabalho, relaes entre trabalha-
dores, destes com supervisores, com gestores, segundo as nor-
mas e regulamentos da empresa, s vezes fixadas por escrito,
outras vezes no escritas e transmitidas oralmente segundo a
cultura de empresa.
Estes dois tipos de relaes, sendo indissociveis, tm lgicas dife-
rentes e igualmente diferente o impacto das transformaes recentes em
cada um deles. Assim, a flexibilizao das relaes de produo significa
invariavelmente a precarizao da relao salarial, enquanto a flexibiliza-
o das relaes na produo pode significar enriquecimento e maior au-
tonomia do processo de trabalho, ou seja, diminuio da alienao no
trabalho. Historicamente o movimento sindical tendeu a privilegiar as
relaes de produo, negligenciando as relaes na produo. Quanto
mais contestatrio o sindicalismo, mais vincada foi essa tendncia.
Este facto esteve na origem de uma das debilidades do sindicalis-
mo. Ao centrar-se prioritariamente nas questes do emprego e do sal-
rio, os sindicatos tenderam a desinteressar-se dos desempregados, das
mulheres, dos reformados e dos jovens procura do primeiro emprego,
e, ao faz-lo, descuraram um campo imenso de solidariedade potencial.
Mas, por outro lado, em relao aos trabalhadores com emprego em que
sempre se interessaram, interessaram-se sempre e apenas por uma pe-
174 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
quena fraco das suas preocupaes. De facto, os trabalhadores que
esto empregados e recebem um salrio confrontam-se no seu quotidia-
no com muitos problemas que afectam decisivamente a sua qualidade
de vida e a sua dignidade enquanto cidados para os quais os sindicatos
que os representam no tm resposta adequada. Tais problemas, por
relevarem das relaes na produo, so considerados menos importan-
tes e so deixados para comisses de trabalhadores que hoje, na maioria
dos casos, ou no existem ou esto desactivadas, ou, quando existem,
so quase sempre olhadas com suspeita pelas estruturas sindicais.
6. As transformaes recentes do capitalismo mundial esto a al-
terar profundamente, tanto as relaes de produo, como as
relaes na produo e, sobretudo, as relaes entre umas e ou-
tras. O impacto destas alteraes nas organizaes dos trabalha-
dores difcil de prever mas no ser demasiadamente ousado
pensar que ele ser muito significativo. So as seguintes as prin-
cipais transformaes:
a transnacionalizao da economia protagonizada por em-
presas multinacionais que convertem as economias nacionais
em economias locais e dificultam se no mesmo inviabilizam
os mecanismos de regulao nacional, sejam eles predomi-
nantemente estatais, sindicais ou patronais;
a descida vertiginosa na quantidade de trabalho vivo neces-
srio produo das mercadorias, fazendo com que seja pos-
svel algum crescimento sem aumento de emprego;
o aumento do desemprego estrutural gerador de processos de
excluso social agravados pela crise do Estado-Providncia;
a enorme mobilidade e consequente deslocalizao dos pro-
cessos produtivos tornadas possveis pela revoluo tecno-
lgica e imperativas pela predominncia crescente dos mer-
cados financeiros sobre os mercados produtivos que tende a
criar uma relao salarial global, internamente muito dife-
renciada mas globalmente precria;
o aumento da segmentao dos mercados de trabalho e de
tal modo que nos segmentos degradados os trabalhadores
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 17S
empregados permanecem, apesar do salrio, abaixo do nvel
de pobreza, enquanto nos segmentos protegidos a identifica-
o como trabalhador desaparece dado o nvel de vida e a
autonomia de trabalho e o facto de os ciclos de trabalho e de
formao se sobreporem inteiramente;
a saturao da procura de muitos dos bens de consumo de
massa que caracterizaram a civilizao industrial, de par com
a queda vertical da oferta pblica de bens colectivos, tais como
a sade, o ensino e a habitao.
a destruio ecolgica que paradoxalmente alimenta as no-
vas indstrias e servios ecolgicos ao mesmo tempo que
degrada a qualidade de vida dos cidados em geral;
o desenvolvimento de uma cultura de massas dominada pela
ideologia consumista e pelo crdito ao consumo que aprisio-
nam as famlias prtica ou, pelo menos, ao desejo da prti-
ca do consumo;
as alteraes constantes nos processos produtivos que para
vastas camadas de trabalhadores tornam o trabalho mais
duro, penoso e fragmentado e, por isso, insusceptvel de ser
motivo de auto-estima ou gerador de identidade operria ou
de lealdade empresarial;
o aumento considervel dos riscos contra os quais os segu-
ros adequados so inacessveis grande maioria dos traba-
lhadores.
Entre outras, estas so transformaes vastssimas e muito hetero-
gneas, que ora se potenciam umas s outras, ora se neutralizam, sen-
do, pois, impossvel prever o seu impacto global nas relaes de produ-
o ou nas relaes na produo. Mas as seguintes ocorrncias parecem
mais provveis que improvveis.
Em primeiro lugar, as relaes de produo sero em geral cada
vez mais instveis, precrias, e insusceptveis de ser reguladas a nvel
nacional e muito menos homogeneamente. Sero, pelo contrrio, cada
vez mais importantes as regulaes locais e transnacionais e todo o pro-
blema reside na possibilidade de incorporar nesta realidade o princpio
da solidariedade. Ao contrrio do que pretende o credo neo-liberal, a
176 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
estabilidade mnima da vida de vastas camadas das classes trabalhado-
ras ter de ser obtida por mecanismo polticos directos (como, por exem-
plo, rendimento familiar mnimo garantido) em que os trabalhadores
contam como cidados e em que os sindicatos intervm a par de outras
organizaes sociais e polticas.
Em segundo lugar, quanto mais instveis e precrias forem as rela-
es de produo, mais intensamente a experincia laboral ser domi-
nada pelas relaes na produo. Por outras palavras, quanto mais dif-
cil se torna defender a relao salarial, mais importante se torna lutar
pela qualidade das relaes sociais no processo de trabalho concreto,
ainda que os dois combates sejam estrategicamente um s. Se assim for,
as funes assumidas pelas comisses de trabalhadores ao nvel do lo-
cal de trabalho tendero a ter um papel cada vez mais importante. Por
outro lado, quanto mais a produo de bens e servios for dominada
por multinacionais, maior ser a necessidade de articular as reivindica-
es locais com as reinvindicaes transnacionais e de o fazer muitas
vezes ao nvel da empresa. As comisses de trabalhadores, funcionando
em rede transnacional, esto em melhores condies para realizar tal
articulao.
Uma terceira ocorrncia que a experincia de trabalho, sendo cada
vez mais presente e premente enquanto prtica de vida, ser cada vez
mais desvalorizada enquanto cultura e ideologia. Ser cada vez mais
cercada e relativizada por experincias culturalmente mais valorizadas
tais como a experincia da cidadania contra a excluso social, da partici-
pao contra a alienao, da democracia contra os fascismos privados,
dos direitos do consumidor contra um consumo degradado, dos direi-
tos ecolgicos e culturais contra a perda da qualidade de vida. Por esta
via, far-se- uma transferncia progressiva da identidade operria para
identidade cidad. Isto significa valorizar o que de melhor a cultura
operria produziu: uma ambio de cidadania partilhvel por toda a
sociedade. Esta transferncia ter duas consequncias principais. Por
um lado, a cidadania no espao da produo convoca de novo as comis-
ses de trabalhadores a um papel mais central, a uma relao mais equili-
brada entre sindicatos e comisses de trabalhadores e, sobretudo, a que
uns e outros estejam mais dependentes do universo dos trabalhadores no
espao da produo. S isso poder impedir que os patres ou os seus
gestores continuem a tentar usar as comisses de trabalhadores para en-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 177
fraquecer os sindicatos, afastando-os dos processos de negociao. Por
outro lado, a cidadania fora do espao da produo convoca o movimento
sindical a articular-se com outros movimentos sociais progressistas, mo-
vimentos de consumidores, ecolgicos, antiracistas, feministas, etc. Mui-
tas das energias contestatrias contidas no movimento sindical devem ser
deslocadas para a articulao com estes outros movimentos.
Estas ocorrncias criam assim oportunidades novas de reforar a
democracia sindical e de, atravs delas, construir, a partir da base, a
unidade sindical. Quando eleitas pelo universo dos trabalhadores, as
comisses de trabalhadores cumprem essa exigncia democrtica. sa-
bido, contudo, que tais comisses s sobrevivem nalgumas empresas,
quase sempre grandes empresas, e que so inmeras as dificuldades
para formar e manter quadros sindicais ao nvel da empresa.
Deve defender-se que onde no existam comisses de trabalhado-
res estas sejam criadas ou ento sejam as comisses sindicais a absorver
as funes das comisses de trabalhadores. Mas, para isso, indispen-
svel que as comisses sindicais deixem de ser eleitas pela via sindical e
passem a ser eleitas pelo universo de trabalhadores, a partir de listas
compostas por sindicalistas, independentemente da central a que per-
tenam. Por esta via, conferir-se- uma nova legitimidade aco sindi-
cal transformando-a em factor de unidade dos trabalhadores, uma uni-
dade construda a partir da base e bem colada aos interesses, s aspira-
es e s escolhas dos trabalhadores.
Esta participao tambm uma responsabilizao. Perante a vola-
tilidade das decises, dos acordos e dos conflitos, a responsabilizao
tem de ser cada vez mais transparente. As eleies para as comisses de
trabalhadores e para as comisses sindicais so um meio fundamental
para conseguir tal transparncia, mas no certamente o nico. H, por
exemplo, que revalorizar o referendo como forma de sustentar as boas
decises e os bons acordos, mas tambm como forma de responsabilizar
os trabalhadores por eventuais ms decises ou maus acordos.
A exigncia da cidadania uma exigncia de democracia e de par-
ticipao. S a podem fazer genuinamente face s outras foras sociais
as comisses de trabalhadores e os sindicatos que as cumprirem inter-
namente. Sem democracia interna o apelo democracia externa uma
mistificao que j no engana nem quem o faz.
178 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
7. As relaes entre partidos e sindicatos tm razes histricas pro-
fundas que, de resto, variam significativamente de pas para pas.
No perodo de refundao do movimento sindical que
comemos a atravessar, tais relaes e razes tm de ser
reavaliadas radical e criticamente.
Os partidos democrticos continuam a entender o movimento sin-
dical como correia de transmisso. O espao de interveno que este
lhes faculta no est sujeito s regras do espao pblico e , por isso,
vulnervel criao de privilgios oligrquicos e substituio das fon-
tes de legitimidade.
Longe de mim contestar o direito dos militantes partidrios inter-
veno sindical, mas facto que as condies antidemocrticas em que
se gerou, na clandestinidade, o movimento sindical portugus, favore-
ceram a influncia do PCP na Intersindical. As condies antidemocrti-
cas em que se travaram, na clandestinidade, as rivalidades entre o PCP
e o PS e as condies revolucionrias em que essas rivalidades continua-
ram no imediato ps-25 de Abril, favoreceram a influncia do PS na
constituio e consolidao da UGT. Estas influncias que, no raro,
se transformaram em ingerncias qualquer que tenha sido a sua jus-
tificao no passado, so hoje um dos factores da crise de confiana de
muitos trabalhadores nas suas organizaes de classe.
A influncia na CGTP, por vir de um partido obrigado, na prtica, a
uma postura de contra-poder, privilegiou exageradamente um sindica-
lismo de contestao. A influncia na UGT, por vir de um partido sem
vocao para partido de oposio, privilegiou exageradamente um sin-
dicalismo de participao. Os exageros de um sindicalismo de contesta-
o, que no produz resultados palpveis, e de um sindicalismo de par-
ticipao, que confunde participao com consentimento aos critrios
arbitrrios da gesto, contribuiram para criar um vazio onde prosperou
o sindicalismo defensivo, num quadro geral de dessindicalizao.
Esta situao tanto mais grave quanto certo que nem o sindica-
lismo contestatrio nem o sindicalismo participativo tm condies para
continuar a actuar entre ns nas formas em que o tm feito at agora.
Assim, o sindicalismo contestatrio corre o risco de desaparecer, no
por falta de energia ou motivao dos dirigentes sindicais, mas pura e
simplesmente por encerrarem as empresas onde ele era mais forte e
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 179
tinha tradio. Por seu lado, o sindicalismo de participao, que entre
ns muito mais uma aspirao que uma vivncia, corre o risco de se
desacreditar pela trivialidade dos acordos em que se afirma.
As dificuldades dos dois tipos de sindicalismo residem ainda numa
caracterstica comum, que os une para alm de tudo o que os divide.
que, quer um quer outro tipo de sindicalismo, assenta entre ns num
sentimento de fragilidade e na ideia de que o que quer que se consiga de
benefcio para os trabalhadores s se consegue quando o Estado inter-
vm. Ora, o Estado tende intervir cada vez menos e quando intervm
tende faz-lo cada vez mais contra os interesses dos trabalhadores.
O fim das relaes privilegiadas entre as organizaes sindicais e
os partidos urgente e quanto mais tarde ocorrer pior para os sindica-
tos. O fim dessas relaes exigido pelas novas condies da luta sindi-
cal que separam, como nunca antes, o objectivo de civilizar o capitalis-
mo e o objectivo de construir um socialismo civilizacional.
Na medida em que o objectivo civilizar o capitalismo, os sindi-
catos continuaro a ser uma organizao privilegiada mas, para isto,
tero de agir com total autonomia em relao aos partidos e de ser
totalmente indiferentes s preferncias partidrias dos trabalhadores
ou dos patres.
Na medida em que o objectivo seja construir um socialismo civili-
zacional, os sindicatos no tm quaisquer privilgios organizacionais e,
portanto, no esto em condies de ditar nenhumas relaes privile-
giadas com quaisquer partidos ou outras organizaes. Por isso, sem-
pre que houver relaes privilegiadas, eles sero sempre mais vitimizados
do que beneficiados por elas. Devero, ao contrrio, articular-se com
todos os movimentos apostados na constituio do socialismo civiliza-
cional. A influncia que cada uma destas perspectivas vier a disfrutar
entre os trabalhadores deve resultar da vontade destes democraticamente
expressa.
Tal como as organizaes sindicais, os partidos polticos formaram-se
tendo em vista a sociedade nacional e, portanto, tal como eles esto hoje
sujeitos s presses tanto locais e localizantes como transnacionais e
transnacionalizantes. As crises que tais presses provocam nos sindica-
tos e nos partidos tm algumas semelhanas, mas so estruturalmente
180 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
distintas. Tal como aconteceu no passado, natural que os partidos ten-
tem resolver as suas crises custa dos sindicatos e vice-versa, que os
sindicatos tentem resolver as suas crises custa dos partidos. Porque a
refundao sindical tem de ser mais profunda que a refundao partid-
ria, a confuso entre as crises dos partidos e a crise dos sindicatos mais
prejudicial para os sindicatos do que para os partidos. E o mesmo suce-
de com a confuso entre os modos de resolver tais crises. Assim, se
mau para os sindicatos que estes tentem resolver as suas crises custa
dos partidos, ainda pior para os sindicatos que os partidos tentem
resolver as suas crises custa dos sindicatos.
8. O novo sindicalismo receber do velho sindicalismo as tradi-
es opostas da contestao e da participao mas recebe-as trans-
formando a oposio entre elas em complementaridade. A com-
plementaridade entre as duas tradies pressupe a unio ope-
racional do movimento sindical.
O novo sindicalismo tem de ser pragmaticamente de contestao e
de participao. A opo entre uma outra estratgia ser ditada pelos
seguintes trs critrios, dispostos por ordem decrescente de valncia: (1)
a opo que melhor evita a dessindicalizao e o sindicalismo defensi-
vo; (2) a opo que mais eficazmente divide os patres em termos de
adeso ao capitalismo civilizado, (3) a opo que garante a maior neu-
tralidade possvel de um Estado que nunca neutral.
Na grande maioria das situaes, a melhor estratgia a que mis-
tura em doses diferentes a contestao e a participao. Consoante os
casos, teremos uma contestao participativa ou uma participao
contestatria. Nas novas condies de desenvolvimento do capitalismo,
o movimento sindical consolidar-se- tanto mais quanto melhor calibrar
as doses necessrias de participao e de contestao na sua estratgia.
F-lo- tanto melhor quanto mais flexvel e atenta s condies concre-
tas for a calibragem das doses e quanto mais criativas forem as misturas
entre elas.
9. O compromisso poltico dos sindicatos com os trabalhadores e
a democracia. um compromisso duplamente exigente. Porque
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 181
os trabalhadores so menos cidados da sua empresa do que
so do seu pas, a democracia representativa sempre para eles
uma experincia limitada e frustrante. Os limites e as frustra-
es desta experincia s podem ser superados, por via pro-
gressista, na medida em que a democracia representativa for
complementada pela democracia participativa tanto no espao
pblico como no espao da produo. Os sindicatos actuam no
espao pblico enquanto movimento social e parceiro social e
actuam no espao da produo enquanto representantes dos tra-
balhadores.
O que mais profundamente distingue os sindicatos dos partidos
que os sindicatos, ao contrrio dos partidos, tm de praticar simultanea-
mente a democracia representativa e a democracia participativa e em
termos tais que a primeira s possvel na medida em que sustentada
pela segunda. As dificuldades da democraticidade interna dos sindica-
tos , assim, dupla e traduz-se num paradoxo: a experincia da demo-
cracia representativa foi sempre para os trabalhadores uma experincia
limitada e frustrante; mas o movimento sindical nunca disps de uma
cultura organizacional que desse prioridade democracia participativa,
salvo em momentos e processos episdicos.
Porque os trabalhadores so sempre cidados de segunda classe
nas suas empresas, o dfice de democracia face ao patro facilita
subrepticiamente a reproduo de um dfice de democracia face s es-
truturas sindicais. Em situaes extremas, os dois dfices so to seme-
lhantes que os trabalhadores tm dificuldade em os distinguir. Quando
uma estrutura sindical organiza um plenrio sindical dispondo na sala
os seus dirigentes e planeando as suas intervenes de modo a abafar, a
desautorizar ou desencorajar todas as vozes discordantes em relao
estratgia sindical definida de antemo pela estrutura, quando procede
assim est a perfilhar uma concepo de participao dos trabalhadores
muito semelhante do patro que considera que envolve participativa-
mente os trabalhadores na vida da empresa quando os consulta sobre se
o piso da fbrica est ou no escorregadio.
182 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
10. Em concluso, o movimento sindical est perante um desafio
global e as oportunidades para o vencer no so menores que as
de ser vencido por ele. Este desafio coloca-se a diferentes nveis.
Os mais importantes so os seguintes:
O desafio da solidariedade. O movimento sindical tem de
revalorizar e de reinventar a sua tradio solidarista de modo
a desenhar um novo, mais amplo e mais arrojado arco de so-
lidariedade adequado s novas condies de excluso social.
antes de mais necessrio uma nova solidariedade entre tra-
balho com emprego e trabalho sem emprego e luz dela
que, em parte, se deve discutir a questo da reduo nacional
internacional do horrio de trabalho e do trabalho entre ido-
sos. desde logo tambm necessrio uma nova solidariedade
entre homens e mulheres trabalhadores. Os estudos de socio-
logia do trabalho demonstram saciedade as mltiplas dis-
criminaes de que so vtimas as mulheres no processo de
seleco e nas carreiras, no modo como so sujeitas a exames
mdicos discriminatrios e a questionrios sobre a vida nti-
ma, indiscretos quando no mesmo indecentes. E tudo isto
ocorre muitas vezes perante o silncio e seno mesmo com a
conivncia do sindicato ou da comisso de trabalhadores.
Acima de tudo, necessrio reconstruir as polticas de anta-
gonismo social que confiram ao sindicalismo um papel acres-
cido na sociedade e o transformem num factor de esperana
na possibilidade de uma outra forma de organizao social.
Um sindicalismo menos partidrio e mais poltico, menos
sectorial e mais solidrio. Um sindicalismo de mensagem
integrada e alternativa civilizacional, onde tudo liga com
tudo: trabalho e meio ambiente; trabalho e sistema educati-
vo; trabalho e feminismo; trabalho e necessidades sociais e
culturais de ordem colectiva; trabalho e Estado-Providncia;
trabalho e terceira idade; etc.
Para isto, o sindicalismo tem de saber beber inovadoramen-
te nas suas melhores razes e tradies. O sindicalismo tem
de voltar a ser parte integrante da sociedade-providncia,
capaz de absorver funes tradicionais do Estado em vrios
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 183
domnios da assistncia e susceptvel de recuperar o que
de melhor existia na tradio comunitria e auto-educativa
do sindicalismo do fim do sc. XIX e incio do sculo XX
um sindicalismo no simplesmente prestador de servios,
de reparties de horrio normal, mas dinamizador de es-
paos comunitrios. Esta actividade social conferir uma
nova acuidade questo do financiamento dos sindicatos.
exigvel que o Estado transfira para os sindicatos os recur-
sos necessrios ao desempenho adequado destas actividades,
semelhana do que fez em relao a outras instituies da
sociedade civil. Por outro lado, necessrio repensar a ques-
to dos fundos de solidariedade para iniciativas de
reconverso da actividade profissional, de apoio aos jovens,
aos idosos, aos desempregados. recomendvel que uma
parte das receitas sindicais seja obrigatoriamente afectada a
tais fundos de solidariedade.
O desafio da unidade. Nas sociedades capitalistas, a luta
entre os sindicatos e os empresrios sempre desigual e o
Estado no soluo para essa desigualdade. No entanto,
os desequilbrios so dinmicos e mutveis. Assim, se fcil
ao capital e ao Estado dividir o movimento sindical, este no
deve desistir de (1) manter a unidade, (2) dividir o capital e
o Estado de modo a tirar proveito da diviso.
As razes que levaram diviso do movimento sindical j
no se mantm hoje. Na luta por um capitalismo civilizado
no h qualquer justificao para um movimento sindical
dividido. Na luta pelo socialismo civilizacional, o movimen-
to sindical apenas um entre muitos outros movimentos, e
no ser sequer o mais importante.
Foi historicamente mais fcil dividir o movimento sindical
do que ser voltar a uni-lo. Ser um processo mais ou menos
longo, em vrias etapas, algumas delas s possveis com a
sucesso das geraes. Se a concertao da aco sindical
um imperativo da presente gerao de sindicalistas, a fuso
s ser possvel com a prxima gerao. E nessa altura ser
imperativa, se no for entretanto tarde demais.
184 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
A unidade no um valor em si mesma. S faz sentido onde
o capital quer ver os trabalhadores divididos, ou seja, na
concertao social e na negociao colectiva. Para alm dis-
so, quer ao nvel nacional, quer ao nvel transnacional e so-
bretudo local, a diversidade das situaes e das expectativas
no deve ser escamoteada em nome de pretensas unidades
que quase sempre escondem a preponderncia dos interes-
ses de algum grupo sindical. A inovao e a criatividade
das iniciativas de base deve ser sempre promovida como
fonte de novas possibilidades de unidade e de solidarieda-
de. Um bom caminho para a unidade e para a solidarieda-
de construdas a partir da base a eleio pelo universo
dos trabalhadores das comisses sindicais, tal como das
comisses de trabalhadores, a realizao de referendos so-
bre decises importantes.
O desafio da escala organizativa. Contrariamente s aspira-
es do movimento operrio do sc. XIX, foram os capitalis-
tas de todo o mundo que se uniram e no os operrios. Pelo
contrrio, enquanto o capital se globalizou, o operariado lo-
calizou-se e segmentou-se. H que tirar as lies deste facto.
O capital desembaraou-se muito mais facilmente da escala
nacional que o movimento sindical. Na fase que se avizinha
o movimento sindical ter de se reestruturar profundamen-
te de modo a apropriar-se da escala local e da escala transna-
cional pelo menos com a mesma eficcia com que no passa-
do se apropriou da escala nacional. Da revalorizao das
comisses de trabalhadores e de comisses sindicais com
funes alargadas transnacionalizao do movimento sin-
dical desenha-se todo um processo de destruio institucio-
nal e de construo institucional.
O desafio da lgica organizativa. Apesar da experincia
do trabalho ser cada vez mais absorvente, quer quando se
tem essa experincia, quer quando se est privado dela, o
colectivo dos trabalhadores est social e culturalmente iso-
lado. Quanto maior o isolamento social, maior a predis-
posio para criar sentimentos de desconfiana e de res-
sentimento em relao a todos os que no partilham o quo-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 18S
tidiano do trabalho e entre eles esto os prprios dirigentes
sindicais. A actual lgica organizativa dos sindicatos pode
assim contribuir para aprofundar o isolamento social do
colectivo do trabalho.
Da lgica do controle e do aparelho lgica da participao
e do movimento, o movimento sindical deve reorganizar-se
de modo a estar simultaneamente mais prximo do quoti-
diano dos trabalhadores enquanto trabalhadores e das aspi-
raes e direitos legtimos dos trabalhadores enquanto cida-
dos. Para isso, preciso desenhar estratgias para premiar
os sindicalistas mais activos em vez dos sindicalistas mais
dceis perante directivas centrais; para fazer assentar a for-
mao dos sindicalistas na ideia da solidariedade concreta
para com trabalhadores concretos e no na ideia abstracta
do patro como inimigo, uma ideia invivel na prtica e psi-
cologicamente inibidora; e, finalmente, estratgias para evi-
tar a burocratizao dos dirigentes e para permitir que eles
enriqueam os seus lugares de trabalho com a experincia
de dirigentes atravs da rotao frequente e de mandatos
no renovveis ou s restritamente renovveis.
Em suma, necessrio um sindicalismo de base, radical-
mente democrtico onde o peso dos aparelhos nos proces-
sos de deciso seja drasticamente limitado e os processos
de deciso colectiva usem todas as formas de democracia,
nomeadamente as que diminuam as suspeitas de instru-
mentalizao.
Esta transformao da lgica organizativa interna dever,
para ter xito, ser complementada por uma transformao
da lgica organizativa externa. O movimento sindical tem
de procurar articulaes com outros movimentos sociais e
tem de reivindicar o direito de estar presente, enquanto tal,
em lutas no especificamente sindicais. Mas a solidariedade
para fora no pode ser imposta para dentro. A solidariedade
para fora ou nasce de dentro ou manipulao poltica.
O desafio da lgica reivindicativa. A fragmentao do pro-
cesso produtivo acarreta a da fora de trabalho, mas tam-
186 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
bm, de algum modo, a da actividade empresarial pelo me-
nos ao nvel local e regional. Embora as foras sejam muito
desiguais, o trabalho deve tentar diferenciar e segmentar o
capital no prprio processo em que diferenciado e segmen-
tado por este. A flexibilizao uma via de dois sentidos e
os sindicatos tm de ser to selectivos face aos empresrios e
gestores, tal como estes o so em relao aos trabalhadores.
Da, a necessidade de um cada vez maior pragmatismo na
opo entre contestao e participao, nas muitas combina-
es possveis entre ambas e nas mudanas entre elas de um
momento para outro, de uma empresa para outra, de um
sector para outro. O importante que em cada opo cada
uma das estratgias seja a adoptada ou reivindicada com
autenticidade: contestao genuna em vez de contestao
simblica; participao em assuntos importantes em vez de
participao em assuntos triviais.
Para alm de pragmticas e de autnticas, as formas de luta
tm de ser inovadoras e criativas. Numa sociedade mediati-
zada, preciso ir alm da greve de 24 horas e da manifesta-
o ainda que se reconhea que a luta pela presena da co-
municao social possa introduzir factores de combate es-
tranhos ao conflito.
Por outro lado, a aco reinvindicativa no pode deixar de
fora nada do que afecte a vida dos trabalhadores. No se
trata apenas do desenvolvimento regional, da formao pro-
fissional, da reestruturao dos sectores. Trata-se tambm
dos transportes, da educao, da sade, da qualidade do meio
ambiente e do consumo. O sindicalismo j foi mais movi-
mento que instituio. Hoje mais instituio que movimen-
to. No perodo de reconstituio institucional que se avizi-
nha, o sindicalismo corre o risco de se esvaziar se entretanto
no se reforar como movimento. A concertao social tem
de ser um palco de discusso e de luta pela qualidade e a
dignidade da vida e no incidir meramente sobre rendimen-
tos e preos.
O desafio da cultural sindical. O desafio cultural talvez o
maior com que se confronta o movimento sindical. Histori-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 187
camente os trabalhadores comearam por ser trabalhadores
e s custa de muitas lutas em que os sindicatos tiveram
um papel preponderante conquistaram o estatuto de demo-
crtico da cidadania. Essa histria, rica e nobre, continua a
pesar no movimento sindical. Hoje, porm, os tempos mu-
daram. O trabalhador est hoje menos interessado em elimi-
nar o patro do que for-lo a agir de modo a que dignifique
o trabalho e o trabalhador e que conceda igualdade de con-
dies quando no h nenhum motivo razovel ou justo para
a desigualdade. Os trabalhadores so cidados que traba-
lham e os sindicatos s faro justia s suas preocupaes e
aspiraes se os reconhecerem acima de tudo pelo seu esta-
tuto de cidados. Para isso, a cultura sindical ter de mudar.
Sem renunciar histria, sem a qual no estaramos onde
estamos hoje, preciso substituir uma cultura obreirista, que
associa progresso a crescimento do PIB, por uma cultura
democrtica de cidadania activa para alm da fbrica.
A sociedade est a mudar. Seria absurdo pensar que o sindi-
calismo poderia manter-se inalterado ou apenas mudar o
necessrio para permanecer como est. Nos tempos que se
avizinham, a vitalidade do sindicalismo aferir-se- pela ca-
pacidade para se auto-transformar, por iniciativa prpria e
no a reboque da iniciativa dos outros, antecipando as opor-
tunidades em vez de reagir beira do desespero, acarinhando
a crtica e respeitando a rebeldia quando ela vem de sindica-
listas dedicados e com provas dadas. Se assim fizer, evitar
a desero dos melhores, atrair as geraes mais novas e
barrar o caminho ao sindicalismo defensivo. Democracia
interna construda a partir da base, criatividade na solues
desde que assentes na participao e no risco calculado, uni-
dade descomplexada entre as diferentes organizaes sindi-
cais, articulao entre o movimento sindical e todos os ou-
tros movimentos sociais que lutam pela qualidade da cida-
dania, da democracia e, afinal, pela qualidade da vida: estas
parecem ser as receitas para o xito nos momentos difceis
que se avizinham.
188 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Um apcIo
Aproveitando a honra que a CGTP me concede de festejar com ela
os 25 anos da sua fundao, lano aqui um apelo s duas centrais para
que o primeiro de maio deste ano seja comemorado em conjunto, vinte
e um ano depois da primeira e nica vez em que tal sucedeu. Ser um
acto simblico que por si no significa unidade efectiva, mas ser um
sinal com a fora prpria dos smbolos, um sinal de que os dirigentes
sindicais, no seu conjunto, esto conscientes de que nos anos que se
avizinham a dignificao do trabalho e dos trabalhadores exigir que se
potencie tudo o que pode unir os trabalhadores e desincentivar tudo o
que os pode dividir. No haver, assim, entre os promotores de tal ini-
ciativa, vencedores ou vencidos. Vencidos sero os que apostam na
modernizao neoliberal do nosso pas, assente num capitalismo to
pouco civilizado que facilmente se confunde com o capitalismo selva-
gem. Vencedores sero os trabalhadores portugueses no seu conjunto e
a democracia portuguesa.
189
8
C slndlcallsmo na UL o MLkCCSUL.
otapas o camlnhos om aborto'
|enes ^ugusto Costa
lntroduo
Uma constatao mais ou menos bvia a respeito quer da Unio
Europeia (UE), quer do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), a de
que as organizaes sindicais no estiveram na linha da frente da nego-
ciao de tais projectos de integrao regional (Costa, 2003: 111). No
obstante a UE e o MERCOSUL evidenciarem hoje distintos graus de
consolidao institucional e no obstante o nascimento do sindicalismo
europeu ter sido mais precoce do que o surgimento do sindicalismo sul
americano, vrios problemas comuns ao sindicalismo dos dois quadran-
tes podem ser identificados, para alm da referida secundarizao dos
actores sindicais em ambos os blocos.
No que concerne ao caso europeu, alguns autores defendem que a
crescente europeizao das relaes laborais no significa a sua desna-
cionalizao (Traxler e Schmitter, 1995; Streeck e Schmitter, 1998; Streeck,
' Nosto toxto rotomo o actuallzo a argumontaao avanada noutro lugar (Costa, 2002).
190 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
1998). Este argumento faz supor que tambm o sindicalismo se v con-
frontado com um conjunto de dificuldades sua transnacionalizao, a
saber: razes sindicais predominantemente nacionais; diferenas entre
pases em matria legislativa; escassa teorizao sobre a transnacionali-
zao sindical; interferncia de actores patronais e estatais nas actividades
sindicais; incorporao de lgicas competitivas nas estratgias de actua-
o sindical transnacional; insuficiente apoio de instituies regionais
de regulao laboral; fraca capacidade de dilogo com outras organiza-
es da sociedade civil (Costa, 2001: 121-122; Santos e Costa, 2004). In-
clusive ao funcionamento da maior organizao sindical europeia a
Confederao Europeia de Sindicatos (CES) podem apontar-se tam-
bm algumas limitaes: muitos sindicatos filiados na CES permane-
cem vinculados a perspectivas e objectivos nacionais; a ausncia de um
suporte financeiro adequado proveniente das organizaes filiadas fez
com que esta organizao ficasse muito dependente dos apoios prove-
nientes da Comisso Europeia, tornando-se vulnervel s mutaes
polticas ocorridas dentro desta e, consequentemente, suscitando dvi-
das sobre a independncia da poltica seguida pela CES; incapacidade
de promover uma identidade transnacional entre trabalhadores
(Waddington, Hoffman e Lind, 1997: 485; Waddington, 1999: 14, Gallin,
2002: 239). Assim sendo, num contexto generalizado de mutao das iden-
tidades sindicais (Hyman, 1996; 1999), onde porventura ser prefervel
falar de uma identidade sindical europeia difusa (Costa, 2000: 174), pen-
sar alternativas identitrias
1
torna-se recomendvel pois nem sempre as
iniciativas sindicais so convergentes com a ideia de integrao regional.
Por outro lado, escala do MERCOSUL os obstculos transnacio-
nalizao do sindicalismo no so menores nem muito distintos dos iden-
tificados no espao europeu. De entre os obstculos que se colocam a
uma aco sindical no MERCOSUL, destacam-se: os de ordem histrica,
dada a preponderncia do espao de actuao sindical nacional; os de
ordem material, pois so necessrios grandes recursos financeiros para
suportar uma aco transnacional; os de ordem poltica, traduzidos na
necessidade de lidar com distintos interesses sindicais consolidados na-
cionalmente; os de ordem cultural, pois a actuao sindical est muitas
1. Nomoadamonto nos tormos propostos por Hyman (1996. 70-73, 1999. 128-130).
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 191
vezes orientada para uma lgica imediatista, assente em reivindicaes
salariais, o que, no fundo, significa a necessidade de substituir uma vi-
so de curto prazo por orientaes de longo prazo; obstculos que se
prendem com os ritmos de integrao regional, pois a criao de direitos
iguais entre os quatro pases membros do MERCOSUL est dependente
da progresso deste a caminho de um verdadeiro mercado comum;
obstculos de ordem legal, resultantes da inexistncia de sistemas legais
uniformes; obstculos relacionados com a vinculao s normas internacio-
nais de trabalho, pois no existe uniformidade na adeso s convenes
da Organizao Internacional do Trabalho (OIT); ou ainda, obstculos asso-
ciados aplicao de tais normas, pois a ratificao de convenes nem sem-
pre se traduz no seu cumprimento (Vigevani, 1998: 291; CUT, 2000:1).
Diante deste cenrio algo convergente de adversidades, que espa-
o ficou, afinal, reservado para a actuao sindical transnacional? Qual
o papel dos sindicatos na edificao de uma dimenso social nos dois
blocos? Quais as principais etapas dessa dimenso? Que caminhos em
aberto se colocam aos sindicatos na UE e no MERCOSUL? sobre estas
questes que me ocuparei neste texto.
As ctapas sociais c sindicais na UI c MIRCOSUt
Como referi acima, o levantamento de algumas dificuldades de ac-
tuao sindical escala europeia e escala do MERCOSUL permite de-
limitar uma agenda comum de problemas em ambos os espaos, sem
que isso deva ser visto como um elemento obscurecedor das diferenas
entre eles. Na verdade, ao procurar assinalar, em seguida, as principais
etapas da participao social e sindical na UE e no MERCOSUL, saltam
de novo vista tempos diferenciados.
No contexto da UE, alguns avanos importantes deram forma
ideia de Europa Social:
2
i) o Tratado de Roma (1957), que, apesar de conter
2. kolro aponas as otapas quo consldoro mals lmportantos. lara uma oxposlao cronologlca
mals oxaustlva dos actos comunltrlos om matrla soclal, bom como da oxocuao da agonda do
politlca soclal, c., ontro outros, Sllva (2000. 76-92) o Comlssao das Comunldados Luropolas (2001,
2002, 2003).
192 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
poucas disposies no domnio social e de perspectivar o social como
projecto nacional, lanou as bases para uma poltica social europeia; ii) o
Comit Econmico e Social, institudo pelo Tratado e representando os
parceiros sociais tradicionais (patres e sindicatos), bem como diversos
grupos de interesses da Comunidade, discutindo uma pluralidade de
polticas; iii) o Acto nico Europeu (1987), que consagrou o conceito de
mercado interno, acrescentando ao Tratado de Roma disposies rela-
tivas melhoria do ambiente no trabalho, ao dilogo social e coeso
econmica e social; iv) a Carta Comunitria dos Direitos Sociais Fundamen-
tais dos Trabalhadores (1989), que veio consagrar, no plano comunitrio,
um conjunto de princpios aplicveis proteco dos trabalhadores e
estabelecer os grandes princpios do modelo europeu de direito do tra-
balho; v) o Tratado de Maastricht (1992), que abriu caminho para um maior
aprofundamento e integrao da ento Comunidade Europeia e que
incidiu tanto na consolidao dos direitos sociais fundamentais dos tra-
balhadores (na forma como eles estavam expressos na Carta Comunit-
ria), como no desenvolvimento de aces em domnios como a excluso
social, os deficientes, a pobreza ou a integrao dos migrantes de pa-
ses terceiros; vi) na sequncia de Maastricht, seria aprovado um Proto-
colo a Doze autorizando um Acordo a Onze sobre a Poltica Social devido
inteno de excluso manifestada pelo Reino Unido, que no se associa-
ra Carta por pretender que todas as disposies deviam ser aprovadas
por unanimidade. O Protocolo trouxe consigo algumas alteraes im-
portantes tais como: uma competncia legal mais alargada de interven-
o no domnio da poltica social da UE; um maior espao para a vota-
o por maioria qualificada; um reforo do papel dos parceiros sociais
europeus, reconhecendo-lhes a possibilidade de negociarem acordos
colectivos europeus; vii) a Directiva 94/45/CE que, em 1994, implemen-
tou os Conselhos de Empresa Europeus (CEEs), destinados a instituir
mecanismos de informao e consulta dos trabalhadores nas empresas
ou grupos de empresa de dimenso comunitria; viii) o Tratado de
Amsterdo (1997), que, entre outros pontos: recuperou o texto do Acordo
sobre a poltica social do Tratado de Maastricht, integrando-o no arti-
culado do novo tratado; definiu os objectivos da UE no domnio da po-
ltica social, fazendo explicitamente referncia Carta Comunitria dos
Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, de 1989; fixou as ma-
trias sociais que carecem de aprovao por maioria qualificada; definiu
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 193
as condies de interveno dos parceiros sociais nos processos de deci-
so da Comunidade no domnio social; incluiu um captulo sobre o
emprego, advogando que a responsabilidade no domnio do emprego
cabe aos Estados-membros, embora estes a inscrevessem no quadro de
uma estratgia coordenada a nvel da Comunidade. Consequentemen-
te, o domnio social ficou associado ao econmico, a promoo de um
nvel elevado de emprego consagrou-se como um dos grandes objec-
tivos de todas as polticas e actividades da UE, e ficou prevista desde
logo a criao de um Comit de Emprego encarregado de observar a
evoluo da poltica de emprego na UE.
No final do ano 2000, a aprovao de uma Carta dos Direitos Fun-
damentais da UE (no quadro da Cimeira Europeia de Nice) era vista
como mais uma oportunidade de melhorar os contedos quer do Trata-
do de Amsterdo, quer da Carta dos Direitos Sociais Fundamentais dos
Trabalhadores. Todavia, o facto de apenas ter recebido aprovao en-
quanto declarao poltica e no ser juridicamente vinculante deixou
antever, desde logo, mais motivos de reivindicao para os sindicatos,
tanto mais que as suas implicaes se aplicam aos novos Estados mem-
bros da UE. H, por isso, muito terreno a desbravar pelos sindicatos
europeus, pelo que os sinais de satisfao que possam depreender-se
daquelas etapas da Europa Social so apenas parciais.
Tal como as etapas da construo de uma Europa Social, tambm a
histria dos ltimos 30 anos do sindicalismo europeu foi marcada por
processos de afirmao progressiva, que, em todo o caso, estiveram lon-
ge de ser o garante de uma identidade sindical europeia coesa. Sem
dvida que quando a CES se constituiu, em 1973, representou uma im-
portante conquista para o sindicalismo europeu, mesmo que as organi-
zaes que a fundaram no fossem apenas provenientes do espao que
hoje a UE. A CES assumia-se, para alm de mais forte representante
dos trabalhadores europeus, como grupo de presso e actor poltico
(Goetschy, 1996: 258; 264). Mas enquanto herana directa da Confedera-
o Internacional dos Sindicatos Livres (CISL), ainda que no organiza-
o regional desta, a CES constitua-se inicialmente num espao de reu-
nio das principais centrais sindicais europeias que se opunham ao sin-
dicalismo comunista dos pases de Leste. Ou seja, foram sobretudo dife-
renas ideolgicas que dificultaram a criao de uma famlia sindical
194 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
europeia comum e que permitiram que o protagonismo sindical em re-
dor da CES fosse conduzido por organizaes como os Trade Unions
Congress (TUC) britnicos ou a Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) ale-
m, que combateram activamente o modelo de sindicalismo comunista
reunido na Federao Sindical Mundial (FSM).
Apenas no final dos anos 80 esta construo selectiva da europei-
zao do sindicalismo conheceria grandes transformaes, com a queda
do Bloco de Leste. Este acontecimento mundial iniciava uma nova fase
da participao do sindicalismo europeu na UE. A CES, organizao sin-
dical mais representativa
3
na Europa, passava a assumir, por via do es-
vaziamento progressivo da FSM, um discurso e uma atitude cada vez
mais plurais. O 7 Congresso da CES, em 1991, constituiu mesmo uma
Perestroika a partir de cima, envolvendo profundas mudanas orga-
nizacionais
4
com o objectivo de transformar a CES numa confederao
sindical genuna capaz de conduzir a negociao colectiva europeia
(Dlvik, 2000: 63). Por seu lado, os congressos seguintes da CES (sobre-
tudo o 8 e 9 congressos, realizados respectivamente em 1995 e 1999)
confirmariam a abertura a novas organizaes com fortes tradies de
ligao a partidos comunistas. Refiro-me filiao na CES de duas orga-
nizaes de inegvel representatividade: a Confederao Geral dos Tra-
balhadores Portugueses (CGTP), em Dezembro de 1994, e a Confdration
Gnrale du Travail (CGT) francesa, em Maro de 1999.
Tal como na UE, tambm no MERCOSUL algumas etapas de rele-
vo no domnio social merecem ser referenciadas, sendo igualmente pos-
svel, em consonncia com elas, fazer o elenco das prticas sindicais a
estabelecidas. que, apesar dos ritmos distintos de integrao regio-
nal entre UE e MERCOSUL atrs referidos, este pretende avanar na
direco de um mercado comum pleno e seguir o caminho, ainda que
de forma sui generis, da EU, distinguindo-se quer da integrao nor-
3. Composta por 78 conodoraos slndlcals naclonals provonlontos do 34 paisos ouropous,
bom como por 11 odoraos slndlcals ouropolas, a CLS possul ho|o um total do 60 mllhos do
mombros lllados (L1UC, 2003a. 1).
4. A lnclusao dos Comlts Slndlcals Luropous (actuals lodoraos Slndlcals Luropolas, lSLs)
ostruturas soctorlals do roprosontaao slndlcal onquanto mombros da CLS ol, ontro outras,
uma das mudanas doclslvas dosso Congrosso, vo|a-so tambm a anllso quo }anlno Cootschy
(1996) az dos prlnclpals momontos da hlstorla da CLS.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 19S
te-americana, via Acordo de Livre Comrcio da Amrica do Norte
(NAFTA), quer da integrao continental, via rea de Livre Comrcio
das Amricas (ALCA),
5
pois estas formas de integrao visam essen-
cialmente a constituio de zonas de livre comrcio (Chaloult e Almeida,
1999: 9).
Atendendo ao facto de que o Protocolo de Ouro Preto (1994) veio
conferir personalidade jurdica internacional ao MERCOSUL e definir
uma nova estrutura institucional, podem indicar-se, tambm resumida-
mente, os seguintes passos sociais no MERCOSUL: desde 1995, o
Subgrupo 10 (Assuntos trabalhistas, emprego e segurana social, ante-
riormente designado de Subgrupo 11, de Assuntos Trabalhistas); a sua
Comisso Ad Hoc sobre a dimenso social do MERCOSUL; o Frum
Consultivo Econmico-Social (FCES), orgo de carcter consultivo com-
posto, a partir de 1996, por empresrios, centrais sindicais, bem como
por outras entidades da sociedade civil, e destinado a atender s consul-
tas feitas por organismos inter-gorvernamentais; o Observatrio Sobre o
Mercado de Trabalho do MERCOSUL (1997) que, de forma articulada com
o SGT 10 (Subgrupo 10), busca um acompanhamento dos mercados de
trabalho nacionais e de cerca de dez sectores seleccionados, para conhe-
cimento e difuso de informaes sobre emprego, migraes trabalhis-
tas, formao profissional, seguridade social, normas regulatrias do
mercado de trabalho e as polticas e programas pblicos sobre essas te-
mticas (Castro, 2000: 117); a Declarao Sciolaboral do MERCOSUL
(1998), que estabelece a criao de um orgo tripartido, a Comisso
Sciolaboral, e se torna num instrumento de proteco dos direitos labo-
rais bsicos; as negociaes colectivas do MERCOSUL, exemplificadas pelo
5. A ALCA a doslgnaao do procosso lnlclado na Clmolra do Mlaml (proposta pola Adml-
nlstraao Cllnton), om Dozombro do 1994, dostlnado a nogoclar, at 2005, uma ampla zona do
llvro comrclo no homlsrlo amorlcano, dosdo o Alasca at a 1orra do logo (koott, 1999. 2-3).
Mas, na prtlca, sogundo as vozos mals critlcas, trata-so do uma oxtonsao do NAl1A ao rosto do
Contlnonto, pols nom soquor so salvaguardam as doslgualdados oconomlcas dos 34 paisos quo
partlclpam nas nogoclaos da ALCA, uma voz quo so os trs paisos quo constltuom o NAl1A
(LUA, Canad o Mxlco) roprosontam 80 do ll do Contlnonto, ao passo quo o MLkCCSUL
rosponsvol por 8 do ll o os outros 29 paisos por 12 (}akobson, 1999. 241). lor sou lado,
Dupas (1999. 133) acontua alnda mals ossa Jeca|age, atrlbulndo ao NAl1A 88 do ll do Con-
tlnonto, sondo lgualmonto possivol asslnalar quo dossos valoros a rondar os 90 so os LUA sao
rosponsvols por corca do 78 (luo||eu 2000, 2001. 5).
196 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
contrato colectivo da Volkswagen (Abril de 1999), que envolveu a parti-
cipao de sindicatos metalrgicos do Brasil e Argentina.
6
Todas estas instncias e exemplos que concorreram para edificar
um MERCOSUL social foram-se consolidando em especial nos anos
90. No entanto, justo que se mencione tambm, desde meados da d-
cada de 80, a aco da Coordenadora das Centrais Sindicais do Cone Sul
(CCSCS),
7
organizao sindical transnacional que foi criando condies
para que tais instncias pudessem ver a luz do dia. Na verdade, a cons-
tituio de um frum unitrio e pluralista nos moldes da Coordenadora
representa uma iniciativa indita do movimento sindical latino-ameri-
cano, historicamente caracterizado pela debilidade estrutural e por uma
profunda diviso, originada na diversidade de concepes e culturas
sindicais predominante nos pases da regio (Veiga, 1993: 200). preci-
samente esse contexto de meados dos anos 80 que nos reconduz, em
concreto, s principais etapas da participao sindical do MERCOSUL.
Segundo alguns autores (Vigevani, 1998: 78-82; Vigevani e Mariano, 1998:
86), a participao sindical no MERCOSUL passou por trs fases:
A primeira fase, entre 1986 e 1991, vai desde os acordos entre os
governos de Alfonsin e Sarney destinados a estreitar relaes bilate-
rais entre a Argentina e o Brasil em matria de integrao, cooperao e
desenvolvimento at assinatura do Tratado de Assuno (26.03.1991).
Nesta fase, o sindicalismo atribuiu pouca importncia ao processo de
integrao por entender que este no seria vivel em face dos contextos
macro-econmicos desfavorveis sobretudo do Brasil e da Argentina.
Assim sendo, a aco da CCSCS foi orientada inicialmente para o com-
6. lara uma anllso mals atonta o contoxtuallzada das lnstnclas soclals do MLkCCSUL, con-
sultom-so vrlos dos artlgos publlcados om Chaloult o Almolda (orgs., 1999), bom como as anllsos
do Castro (1999a. 46-67), da CU1/CSN (2000. 46-73) ou do Marlano (2001), ontro outras.
7. A CCSCS um organlsmo do coordonaao o actuaao das organlzaos slndlcals dos
paisos do Cono Sul. lol constltuida om 1986, com o apolo da Crganlzaao koglonal lntoramorlca-
na dos 1rabalhadoros (Ckl1), sondo composta por contrals slndlcals dos quatro paisos do
MLkCCSUL, mas lgualmonto do Chllo o da olivla (mombros assoclados do MLkCCSUL). Aposar
do tanto na UL como no MLkCCSUL as organlzaos slndlcals torom sldo claramonto rologadas
para um sogundo plano quanto a sua capacldado para lnluonclarom os procossos do lntograao
roglonal, nao dolxa do sor curloso quo a CCSCS tonha antocodldo a crlaao do MLkCCSUL, ao
passo quo a sua oqulvalonto unclonal na Luropa, a CLS, ol constltuida quaso duas dcadas
apos o nasclmonto da ontao Comunldado Lconomlca Luropola, o quo podor sor vlsto como um
slnal do vltalldado do slndlcallsmo sul-amorlcano.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 197
bate dvida externa dos pases do Cone Sul e para uma srie de aces
de solidariedade laboral pautadas por objectivos como a defesa da de-
mocracia e dos direitos humanos ou a luta contra os regimes autorit-
rios que ainda subsistiam na regio, como eram os casos do Chile e do
Paraguai (CCSCS, 2000a: 1). Nestes termos, o tema da integrao regio-
nal aparecia em segundo plano.
A segunda fase situou-se entre 1991 e 1992. A data da constituio
do MERCOSUL com a assinatura do Tratado de Assuno repre-
sentou o ponto de viragem para um reconhecimento do tema da inte-
grao regional enquanto elemento de coordenao entre as centrais sin-
dicais da CCSCS. Nesta fase iniciou-se de forma progressiva a participa-
o institucional das centrais sindicais nas instncias sociais do
MERCOSUL, na altura sobretudo por via da actuao junto do Subgrupo
11. Alm disso, a CCSCS foi-se batendo pela constituio de uma Carta
Social para o MERCOSUL, baseada quer nas convenes da OIT, quer
nalguns aspectos da Carta Social Europeia, e composta por um conjun-
to de normas laborais e sociais que garantisse iguais direitos e condies
de trabalho a todos os trabalhadores dos quatro pases (CUT/CSN,
2000: 52).
A terceira fase, entre 1993 e 1998, ficou marcada por um maior di-
namismo das centrais sindicais. Neste perodo, a aco sindical condu-
zida sobretudo pela CUT brasileira e pelo Plenrio Intersindical de Tra-
balhadores- Central Nacional de Trabalhadores (PIT-CNT) do Uruguai,
revelou-se mais activa, tendo as centrais sindicais dos quatro pases do
MERCOSUL passado a disputar abertamente espaos no processo de
negociao (Vigevani e Mariano, 1998: 86). Nos anos de 1993 e 1994,
por exemplo, as centrais sindicais da CCSCS passaram a ocupar-se de
novos temas at ento marginais sua agenda: anlise do papel das
polticas industrial e comercial no s em cada um dos pases como no
prprio bloco. Foi tambm incentivada a criao de Comisses Sindicais
Sectoriais (destinadas a criar condies ao tratamento de temas especfi-
cos e a abrir caminho para futuras negociaes colectivas por sector ou
empresa) e foram feitas reivindicaes: adopo imediata de uma Carta
dos Direitos Fundamentais dos Trabalhadores; a regulao das negocia-
es por empresa ou sector a uma escala regional; a criao de comis-
ses de empresa multinacionais e o direito de organizao e filiao sin-
dical; a realizao de diagnsticos destinados a avaliar o grau de inte-
198 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
grao propiciado pelo emprego e a qualificao da mo de obra, etc.
Nos anos de 1997 e 1998, atravs da realizao de encontros dos traba-
lhadores da indstria do MERCOSUL, a CCSCS estimulou de novo o
funcionamento das referidas Comisses Sindicais Sectoriais, tendo apoia-
do ainda a formao de uma Comisso de Mulheres destinada a discutir
temas relacionados com o MERCOSUL (CUT/CSN, 2000: 54-57).
Desde 1999 iniciou-se, em minha opinio, uma quarta fase da par-
ticipao sindical no MERCOSUL. Trata-se de uma fase que comeou no
incio desse ano, com um perodo de instabilidade econmica e de des-
valorizao do Real, de resto j latente nos modelos de estabilizao
e reestruturao econmica especialmente de Brasil e Argentina (CUT/
CSN, 2000: 6). Este cenrio adverso acabaria por afectar tambm as ini-
ciativas sindicais. Segundo a CUT (2000: 1; 2001: 10-11), a debilidade
crescente das representaes nacionais afectada quer pela intensifica-
o da reestruturao produtiva, quer pela flexibilizao das normas la-
borais, quer pelo crescimento do desemprego, quer ainda pela diminui-
o da capacidade negocial dos governos permite observar no
MERCOSUL, depois de uma fase inicial mais promissora, um perodo
de refluxo. No entanto, algumas mobilizaes colectivas como o Pri-
meiro de Maio de 1999 (na fronteira entre Brasil e Uruguai, em Santana
do Livramento e Rivera), assim como os Encontros Sindicais do
MERCOSUL em Montevideu (Dezembro de 1999), Florianpolis (De-
zembro de 2000), Buenos Aires (Dezembro de 2001), Braslia (Dezem-
bro de 2002) e de novo em Montevideu (Dezembro de 2003) reuni-
ram milhares de sindicalistas de diferentes sectores profissionais, pelo
que ser exagerado, pelo menos do ponto de vista sindical, falar-se em
refluxo.
Numa declarao apresentada no II Encontro Sindical do
MERCOSUL, a CCSCS apelava aos governos do MERCOSUL para
adoptarem medidas visando a promoo do emprego, a melhoria dos
salrios e a proteco social: Ns estamos cada vez mais conscientes
que para solucionar o problema da excluso social preciso mudar radi-
calmente as orientaes dos modelos econmicos que hoje dirigem nos-
sos pases. E para estabelecer bases soberanas de insero internacional
exigncia fortalecer o MERCOSUL atravs da adopo de polticas de
desenvolvimento produtivo e social (CCSCS, 2000b: 2). Uma orienta-
o neste sentido seria reiterada no III Encontro Sindical do MERCOSUL,
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 199
no qual a CCSCS defendeu a criao de um outro MERCOSUL com
empregos para todos (CCSCS, 2001). Ao faz-lo, criou em seu redor
um verdadeiro espao pblico de crtica ao MERCOSUL (Barbiero e
Chaloult, 2001: 10) e reuniu propostas concretas para a superao do
seu impasse. De igual modo, no IV Encontro Sindical do MERCOSUL
(Dezembro de 2002) manteve-se o mesmo mote do Encontro anterior,
ou seja, a defesa de outro MERCOSUL com empregos para todos.
Nesse Encontro, a CCSCS reafirmou, por isso, a necessidade de apoiar o
MERCOSUL enquanto projecto que, para alm de estratgico para a
regio, continua sendo um projecto apoiado pela grande maioria da
sociedade dos pases que o integram (CCSCS, 2002: 1). Seguindo a
mesma lgica, o V Encontro Sindical do MERCOSUL (Dezembro de 2003)
teve como lema principal No ALCA, Sim ao MERCOSUL!, em nome
de uma verdadeira integrao dos povos da Amrica (Correio Sindical
Mercosul, 2003: 1).
Assim sendo, no obstante o momento de grande instabilidade por
que passa o MERCOSUL, agravado pela crise poltica, econmica e so-
cial vivida pela Argentina desde Dezembro de 2001, considero prefer-
vel, em vez de refluxo, falar numa fase de ambiguidade. Esta fase , em
meu entender, o reflexo de uma atitude sindical perante a integrao
regional que se caracteriza por um misto de crtica e de aceitao e que
foi patente no s no perodo mais recente de agravamento da instabili-
dade do MERCOSUL, como tambm na fase em que a unio aduaneira
mais avanos logrou alcanar (na segunda metade dos anos 90). Como
defendem Barbiero e Chaloult, as centrais sindicais do Cone Sul reve-
lam uma posio sindical ambgua face regionalizao, pois apesar de
alertarem para os perigos que lhes esto associados (nomeadamente, a
perda de direitos laborais e de nveis de emprego), acabam por ter como
poltica defender o MERCOSUL (1999: 7), o que tambm revelador
de que h sinais de esperana na construo de um processo mais de-
mocrtico. Como, de resto, se podia ler no documento final do IV En-
contro Sindical do MERCOSUL (Dezembro de 2002):
Lm todo o procosso do construao do MLkCCSUL, a CCSCS (...) manlos-
tou sompro a convlcao quo o MLkCCSUL sorla um lnstrumonto valloso para
a (...) lnsorao dos paisos da roglao no morcado global o construao do um
novo modolo do dosonvolvlmonto. (...). Sabomos tambm quo a opao por
200 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
um morcado comum gorarla pordas do soboranla naclonal o onraquocorla o
controlo soclal sobro as doclsos do Lstado naclonal, mas ossa porda podorla
sor componsada com a crlaao do organlsmos do roprosontaao politlca o
soclal comunltrlos, quo garantlrlam um procosso mals domocrtlco porquo
sob controlo soclal (CCSCS, 2002. 2).
Ou seja, embora se reafirme que a conduo do processo de inte-
grao inaceitvel para os trabalhadores por privilegiar os interesses
empresariais, o movimento sindical no MERCOSUL no assumiu uma
posio de repdio e desconsiderao ao processo em andamento (Veiga,
1999: 189). Um factor que ter reforado esta ideia foi o facto de a cons-
truo institucional gizada neste espao regional ter permitido s cen-
trais sindicais brasileiras, argentinas, uruguaias e paraguaias compen-
sarem transnacionalmente muitas das suas posies distintas defendi-
das escala nacional, em nome de uma estratgia transnacional de ne-
gociao flexvel (Barbiero e Chaloult, 1999: 11; 4).
A inclinao das centrais sindicais do Cone Sul (reunidas na CCSCS)
no sentido de reforar a componente social que tem faltado ao
MERCOSUL. Da que, para alm dos temas econmicos e produtivos, a
CCSCS venha apostando nos temas sociais e laborais, apresentando pro-
postas como: a reinstalao do debate sobre a Carta dos Direitos Sociais
do MERCOSUL, tendo em conta que a Declarao Scio-laboral no tem
garantido iguais condies de trabalho e de direitos laborais nos pases
do MERCOSUL; o combate a problemas tpicos das regies de fronteira
(como o desemprego e o elevado grau de informalidade das relaes
de trabalho), atravs da implementao de projectos especficos para
essas regies ou da elaborao de um estatuto trabalhista especfico
para os trabalhadores das regies fronteirias a incorporar na Declara-
o Scio-laboral; a criao de condies para que a Comisso Scio-
laboral do MERCOSUL fiscalize de forma efectiva o problema do traba-
lho infantil; a institucionalizao da prtica de inspeces do trabalho
conjuntas realizadas por fiscais do trabalho e representantes sindicais e
patronais dos pases do MERCOSUL; a criao de condies efectivas
de funcionamento do Observatrio do Mercado de Trabalho do
MERCOSUL, de modo a que este possa gerar indicadores prprios e
fiveis sobre os diferentes impactos dos processos de integrao sobre
o mercado de trabalho (CCSCS, 2002: 2-3); o fortalecimento do FCES,
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 201
nomeadamente disponibilizando quele organismo o acesso a todo o
tipo de documentos, inclusive aos de acesso reservado, de modo a que
possa definir-se uma agenda de trabalho sistemtica que envolva traba-
lhadores, empresrios e outros segmentos da sociedade; uma maior har-
monizao legislativa em matria social; a defesa de um MERCOSUL
que, mais de que uma unio aduaneira, promova reais mecanismos de
integrao, permitindo a livre circulao de trabalhadores entre pases
do bloco; a criao de um Instituto Social do MERCOSUL, capaz de coor-
denar a execuo de programas e iniciativas sociais onde os temas da
integrao social, da melhoria do acesso educao, da sade, da vio-
lncia e da prostituio infantil, da igualdade de oportunidades, etc., pos-
sam ser estudados e analisados (Correio Sindical Mercosul, 2003: 2; 4-5).
Um bom acolhimento destas e de outras propostas seria uma for-
ma de superar o misto de denncia e aceitao que, como disse acima,
caracteriza em meu entender a fase presente da participao sindical no
MERCOSUL. Os novos ventos trazidos pela vitria de Lula nas elei-
es presidenciais podero, nesse sentido, constituir tambm um sinal
de esperana no s para o movimento sindical brasileiro, como para o
movimento sindical do MERCOSUL em geral. Mas independentemente
da eventual predisposio do governo Lula para no deixar cair o
MERCOSUL quando confrontado com a ALCA (embora Lula tambm
no feche as portas ALCA), o futuro do primeiro continuar certamen-
te dependente da multiplicao de aces sindicais transnacionais con-
juntas, da assuno de posies reivindicativas comuns perante a evo-
luo da ALCA e, sobretudo, do reforo da discusso/confronto nacio-
nal/local com outros actores, nomeadamente governos, empresrios e
organizaes da sociedade civil a esse respeito. Como refere Slvia Portella
de Castro, a capacidade de aco e interveno conjuntas nos fora inter-
governamentais regionais (na rea laboral, das polticas produtivas e do
aprofundamento da estrutura institucional) carece de ser complementa-
da no plano local, onde existem pouqussimas aces polticas capazes
de pressionar as empresas a compensarem ou negociarem as mudanas
resultantes dos impactos directos do MERCOSUL (Castro, 1999a: 69;
2000: 134).
Tendo presentes estes desequilbrios, o dilema entre o alargamento
da rea geogrfica do MERCOSUL e o aprofundamento da convergncia
202 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
das matrias e polticas colectivas entre pases membros encontra-se na
ordem do dia (Pea, 1999). Este dilema condiciona tambm a evoluo
das prticas sindicais, estando estas colocadas perante a necessidade de
encontrar um equilbrio entre as duas opes para que aquele dilema
aponta. De momento, o aprofundamento afigura-se como a opo mais
prioritria para o MERCOSUL, pois a sua consolidao enquanto bloco
encontra-se dependente da implementao de polticas macro-econ-
micas comuns entre os seus pases membros e do reforo da sua estrutu-
ra institucional, a carecer de superar o estatuto de unio aduaneira (Mello,
2002: 3). Isso mesmo ficou patente, alis, no decorrer do III Encontro
Sindical do MERCOSUL (Dezembro de 2001). Nesse Encontro, o apro-
fundamento do processo de integrao, o fortalecimento da sua estrutu-
ra institucional e a adopo de medidas imediatas que contemplem o
desenvolvimento produtivo e social (CCSCS, 2001: 1) foi a nota domi-
nante. Na mesma linha, no IV Encontro Sindical do MERCOSUL (De-
zembro de 2002), a CCSCS considerou fundamental que o MERCOSUL
aprofunde a sua estrutura institucional e principalmente reestruture seus
diferentes organismos e espaos de negociao (CCSCS, 2002: 4). Esta
necessidade de reforar a lgica da integrao sindical e apelar ao envol-
vimento de organizaes sindicais nesse processo tem vindo, inclusive,
a ser objecto de actuao sindical conjunta entre o MERCOSUL e a Co-
munidade Andina (CAN, constituda em 1996, e composta pela Bolvia,
Colmbia, Equador, Peru e Venezuela).
8
8. Lxomplo dossa acao con|unta ol a Doclaraao Slndlcal ontro o MLkCCSUL o a CAN,
subscrlta om 31 do Agosto do 2000 polas contrals slndlcals do ambos os blocos, o vlsando o
aproundamonto da lntograao o ormaao do um bloco para a doosa dos dlroltos o do doson-
volvlmonto soclal (CCSCS et a|., 2000. 1). Dlscordando da politlca oxcosslvamonto subordlnada
a loglca do llvro morcado quo tom gulado as nogoclaos no MLkCCSUL o na CAN o ontro ambas
as sub-roglos, as contrals slndlcals batom-so pola lntograao islca das vlas do comunlcaao, do
onorgla o toloonla, o quo slgnllca a adopao do politlcas comuns do promoao produtlva, do
trlbutaao o taxas lscals (lmpodlr quo as grandos omprosas multlnaclonals utlllzom a guorra lscal
como arma do chantagom como vm azondo) o prlnclpalmonto a doclsao do adoptar como
prlorldado o tratamonto da dlmonsao soclal do quo osto procosso so rovosto (CCSCS et a|., 2000.
2). C dllogo slndlcal ontro MLkCCSUL o CA tom, ontrotanto, vlndo a prossogulr, como lcou
oxprosso, por oxomplo, no lll Lncontro Slndlcal ontro ambos os blocos roallzado om Sotombro do
2001 (Coe|o S|oJ|ca| \ecosu|, 2001c. 1). Alm dlsso, um dos ob|octlvos ostratglcos dollnoados
polo V Lncontro Slndlcal do MLkCCSUL (Dozombro do 2003) ol a dolnlao do uma politlca
oxtorlor para o MLkCCSUL, vlsando sobrotudo um acordo ontro o MLkCCSUL o a CAN (Coe|o
S|oJ|ca| \ecosu|, 2003. 4).
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 203
Parece inquestionvel que a realizao de aces conjuntas entre
organizaes sindicais de blocos regionais distintos refora a necessida-
de de aprofundamento dos respectivos blocos em que elas se inserem.
Porm, as questes referentes ao alargamento tambm no podem igual-
mente ser descuradas. Da a necessidade, como dizia acima, de ir ao
encontro de um equilbrio entre o aprofundamento e o alargamento.
Ainda no caso do MERCOSUL, questes que directamente apenas pare-
am dizer respeito ao alargamento da sua rea geogrfica, como a entra-
da de novos pases para o bloco, no podero ser equacionadas tambm
sem uma percepo do tipo de polticas macro-econmicas defendidas
por esses pases, o que significa ir ao encontro da discusso de estrat-
gias de aproximao entre pases membros e pases que pretendam ser
membros futuros do bloco.
Caminbos cm abcrto para a aco sindicaI na UI c MIRCOSUt
Ainda que nem sempre sejam fceis de percorrer, so vrios os ca-
minhos que se abrem ao sindicalismo na UE e no MERCOSUL. Come-
ando pelo sindicalismo europeu, destaco dois possveis caminhos em
aberto:
Um primeiro caminho traduz-se na necessidade de apelar ao refor-
o de uma maior convergncia de interesses entre organizaes sindi-
cais de diferentes provenincias geogrficas, polticas e ideolgicas. Para
tal, crucial que a partir da maior organizao sindical europeia, a CES,
se produza e estimule uma gesto mais eficaz das diversidades inter-
nas, desde logo daquelas que perpassam a prpria CES. Como assinala
Jon Erik Dlvik (2000: 60; 64; 74), as relaes de poder desiguais entre
organizaes membros da CES como as confederaes sindicais na-
cionais e as federaes sindicais europeias (responsveis pela actuao
sindical sectorial) , para alm de constiturem um foco de tenso inter-
na, tm dificultado a intermediao de interesses. Tal apelo ainda tan-
to mais necessrio quanto se sabe que persistem no contexto europeu
diversidades entre o Sul e o Norte sindicais: o Sul, historicamente mar-
cado pela presena de confrontos ideolgicos e modelos de sindicalismo
mais pluralistas/competitivos; o Norte, caracterizado grosso modo por
204 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
estruturas sindicais nacionais que agregam em seu redor os interesses
sindicais de um modo mais uniforme.
Inerente a esse apelo convergncia de interesses sindicais na Eu-
ropa est a questo do alargamento sindical a organizaes provenien-
tes dos pases de Leste. Parece claro que a questo do alargamento faz,
de momento, mais sentido na UE do que no MERCOSUL, pois naquela,
apesar de persistirem os obstculos a uma Unio Social, muito maior o
amadurecimento (ou seja, o aprofundamento de que falava atrs) poltico
das instituies. No entanto, esse desafio requer igualmente uma refor-
ma das instituies, precisamente com o objectivo de aumentar a sua
eficcia e democracia (CES, 1999: 45-48). E ainda que a paz, os direitos
sociais e humanos e a solidariedade sejam, segundo a CES, palavras-
chave para legitimar a ideia de alargamento da UE no plano sindical, o
desafio da gesto das diversidades entre sindicatos permanece na or-
dem do dia. Afinal, o mais recente alargamento da UE transportou con-
sigo importantes diferenas qualitativas e quantitativas relativamente a
todos os quatro alargamentos anteriores ocorridos entre 1973 e 1995:
nunca se haviam perfilado tantos candidatos adeso e nunca as dife-
renas entre os pases membros da UE e os pases candidatos adeso
tinham sido to evidentes. Alm disso, nunca as diferenas entre os pr-
prios pases que se candidataram adeso haviam sido to grandes
(Langewiesche, 2000: 364).
9
Um segundo caminho em aberto para o sindicalismo europeu pren-
de-se igualmente com uma outra necessidade, a meu ver no menos
importante do que a anterior: a necessidade de expanso da cooperao
sindical europeia para alm da prpria UE. Neste caso, o desafio reside
em superar uma postura eurocentrista (Linden, 2000: 538), mesmo reco-
nhecendo a distintividade da UE e a sua importncia enquanto actor
que serve de referncia para o mundo, sobretudo pelas maiores possibi-
lidades de cooperao entre sindicatos que propicia (Visser, 1998: 234-
236; Jacobi, 2000: 12, 21, 23; Dlvik, 2000: 73-74; Seideneck, 2002: 417;
9. lara uma sintoso dos alargamontos lntornos da CLS, c. Homann (2000. 631), para uma
dlscussao da quostao do alargamonto da UL sogundo uma vortonto slndlcal, c. o numoro tomtlco
da rovlsta !aos|e, v. 6, n. 3 (2000). Consulto-so tambm, para um acompanhamonto das rolvln-
dlcaos o dosalos mals lmportantos para o uturo da Luropa Soclal, o documonto acadmlco A
Manlosto or Soclal Luropo 2000 olaborado por orcusson et a|. (2000).
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 20S
ETUC, 2003b: 32-33; 38; 2003c: 15). Ou seja, o discurso europeizante
ou a ideologia europesta como lhe chama Dan Gallin (2002: 239)
protagonizado pela CES e assente na ideia de consolidao do poder
sindical europeu deveria ser usado mais como confronto face s estrat-
gias patronais e menos como argumento que pode suscitar coliso com
estratgias sindicais de outros blocos regionais.
Com efeito, um discurso centrado na valorizao da dimenso so-
cial da integrao europeia e na distino entre integrao europeia e
globalizao, apesar de legtimo, parece por vezes excessivo, visto que
a CES fala num modelo social de referncia europeu como sen-
do o nico passvel de dar resposta aos problemas causados aos cida-
dos pela globalizao (CES, 1999: 19-20). No seu 10 Congresso (reali-
zado em Praga, entre 26 e 29 de Maio de 2003), a CES reconheceu, no
entanto, a necessidade de as suas aces e as suas polticas se inscreve-
rem num contexto mais vasto, situado para alm da prpria UE. A coo-
perao com organizaes sindicais do sudeste da Europa, ou o envolvi-
mento activo quer no Frum Euro-Mediterrnico, quer no Frum UE-
MERCOSUL so, entre outros, alguns dos exemplos mencionados pela
CES (ETUC, 2003b: 38). Mesmo que tais exemplos estejam longe de pr
em causa o papel da UE enquanto actor mundial, eles parecem apon-
tar, todavia, para uma certa flexibilizao da postura europesta da CES.
Considero, de resto, que uma flexibilizao dos discursos e das prticas
por parte do sindicalismo europeu reunido na CES seria uma condio
importante para que os blocos econmicos regionais pudessem desem-
penhar uma funo de intermediao entre razes sindicais nacionais e
opes laborais globais (Costa, 2002: 71; 84). Afinal, a UE e o MERCOSUL
aqui em anlise situam-se algures entre a utpica sociedade global e o
renascimento do Estado Nao (Jacobi, 2000: 22), o que permite confi-
gurar a integrao sindical regional como uma luta pela justia social
situada entre os nveis global e nacional (Dlvik, 2000: 59).
Quanto ao sindicalismo do MERCOSUL, identifico de seguida trs
caminhos em aberto que se lhe colocam. Um primeiro caminho prende-
se com a convenincia em prestar ateno evoluo das relaes co-
merciais no interior no prprio MERCOSUL. Ou seja, uma vigilncia,
simultaneamente crtica e construtiva, das trocas comerciais poder
servir de pretexto para o reforo das trocas sociais, i.e., para chamar a
ateno para a urgncia em conferir s questes sociais uma importn-
206 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
cia pblica acrescida. Quando comparados com a UE, os nmeros do
comrcio intra-bloco podem considerar-se modestos, situando-se na casa
dos 16%. Em 1999 assistiu-se mesmo a uma quebra de 30% no comrcio
intra-MERCOSUL (CUT/CSN, 2000: 7), ainda que no ano 2000 se tenha
verificado uma recuperao na ordem dos 15% (Correio Sindical Mercosul,
2001a: 8-9). Em todo o caso, dados posteriores indicam que o comrcio
entre os dois principais pases do bloco (Brasil e Argentina) caiu inclusi-
ve para os nveis do perodo pr-Fernando Henrique Cardoso, tendo as
exportaes brasileiras para a Argentina cado 66,2% (Correio Sindical
Mercosul, 2002: 4). Na linha do sindicalismo europeu protagonizado pela
CES, que valoriza o facto de na Europa se consumir cerca de 90% do que
l se produz, apostar no fortalecimento do MERCOSUL poder consti-
tuir um importante factor de fora negocial para o movimento sindical
reunido na CCSCS.
O segundo caminho em aberto, embora possa ser visto com com-
plementar do primeiro, consiste em estimular a Organizao Regional
Interamericana de Trabalhadores (ORIT)
10
a conceder uma maior aten-
o ao MERCOSUL.
11
Neste sentido, indispensvel um grande traba-
lho de cooperao entre as centrais sindicais do Cone Sul e a ORIT. A
CUT brasileira, conjuntamente com outras estruturas sindicais (como a
CLC do Canad e a AFL-CIO dos EUA), tm vindo a desempenhar um
papel importante de descentralizao da ORIT, tendo mesmo proposto
no XIV Congresso desta organizao, em 1997, a criao de secretrios-
gerais adjuntos com capacidades de interveno temtica. Como me di-
zia um ex-assessor de poltica internacional da CUT, antes a figura do
secretrio-geral estava isolada, e essa uma mudana que descentraliza
[] e permite ter uma presena mais regional, sendo tambm esses se-
10. A Ckl1, undada om 1951, constltul uma organlzaao roglonal da ClSL para as Amrlcas.
Hlstorlcamonto, ol lnstrumontallzada polo slndlcallsmo amorlcano protagonlzado pola ^ne|cao
|eJeat|oo o| |aoo-Coogess o| |oJust|a| Ogao|zat|oos (AlL-ClC) (Stovls, 1998. 14, }akobson,
1998. 307), sobrotudo porquo osta organlzaao protondla lmpodlr o avano do comunlsmo no
homlsrlo amorlcano o, om ospoclal, na Amrlca Latlna.
11. Sogundo apurol nalgumas ontrovlstas quo roallzol om Sao laulo |unto do slndlcallstas da
CU1 brasllolra o do ll1-CN1 do Urugual, a Ckl1, nao obstanto tor apolado a constltulao da
CCSCS, tom prostado pouca atonao a ovoluao do MLkCCSUL, o quo podo sor vlsto como um
actor lnlbldor do protagonlsmo slndlcal transnaclonal. lara uma anllso do algumas sugostos
quanto a actuaao utura da Ckl1, c. }akobson (1998. 315-317, 2001. 73-77).
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 207
cretrios oriundos de distintas regies do Continente (entrevista, So
Paulo, Junho de 2000). Com o intuito de reavivar as afinidades inter-
sindicais em redor da integrao sindical, seria, pois, desejvel a promo-
o, atravs da CCSCS e da ORIT, do intercmbio com centrais e confe-
deraes do Nafta, do Caribe, do Pacto Andino e da Amrica Central
sobre os temas da integrao e envolvendo as nossas estruturas verti-
cais (CUT, 1997: 5). Estender o leque de relaes do movimento sindi-
cal do MERCOSUL a outras organizaes situadas fora desse bloco seria
tambm uma forma de sensibiliz-las para a defesa dos interesses do
Sul.
Para alm dos dois caminhos em aberto anteriormente identifica-
dos (o primeiro mais virado para dentro e o segundo mais direccionado
para fora do MERCOSUL), um terceiro caminho que poderia reforar
a aco sindical no MERCOSUL o que passa pelo dilogo e cooperao
entre o sindicalismo e outras organizaes da sociedade civil. Ao mes-
mo tempo que se trata de uma orientao para fora, traduzida no
incentivo superao das fronteiras da prpria classe trabalhadora,
constitui tambm um recado para dentro do movimento sindical, pois
apela s capacidades de adaptao deste a novas alianas e coligaes. A
primeira resoluo conjunta, celebrada em 1997, entre a ORIT e organi-
zaes da sociedade civil visando a constituio de uma Aliana Social
Continental (ASC) face ao livre comrcio deve, a esse respeito, ser vista
como uma referncia inicial importante para a percepo da relao en-
tre o sindicalismo e outras organizaes no sindicais da sociedade civil.
Este desafio da articulao entre sindicatos e outras organizaes
da sociedade civil no um desafio fcil. No entanto, e precisamente
pelo facto de no ser fcil, ele no deve perder importncia no seio de
organizaes sindicais como a CCSCS. No se trata de substituir os
papis do movimento sindical pelos de outras organizaes sociais e
vice-versa, mas to-s de incentivar o sindicalismo do MERCOSUL a
proceder a uma renovada viso do mundo e dos seus problemas que
no esteja exclusivamente assente em interesses sindicais. Talvez por
historicamente os sindicatos terem estado refns de um registo de
actuao demasiado formal (por vezes mesmo burocrtico), devessem
ser eles mesmos a tomar a iniciativa de dialogar com as organizaes da
sociedade civil. Em detrimento de uma atitude meramente reactiva,
reclama-se uma atitude propositiva, na linha das iniciativas da Rede
208 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Brasileira pela Integrao dos Povos (REBRIP). Criada em 1999, a REBRIP
uma articulao de ONGs, movimentos sociais, entidades sindicais e
associaes profissionais autnomas e pluralistas que procuram al-
ternativas de integrao hemisfrica opostas lgica da liberalizao
comercial e financeira predominante nos acordos econmicos
actualmente em curso (REBRIP, 2002: 1), com o propsito de consolidar
a ASC. O seu papel deve ser, por isso, tido como referncia obrigatria
por parte do movimento sindical, tanto mais que a sua riqueza reside
precisamente na diversidade de temas e enfoques para tratar das ques-
tes excludas dos acordos oficiais (CUT/CFTD, 1999: 2). Alis, por
ocasio do II Encontro Sindical do MERCOSUL (Dezembro de 2000), o
apelo ao dilogo com as organizaes mais representativas da socieda-
de civil e ao fortalecimento das organizaes sociais no FCES do
MERCOSUL no deixou tambm de ser lembrado (CCSCS, 2000b: 2).
Este ltimo caminho em aberto para o sindicalismo do MERCOSUL
assente na articulao e actuao conjunta entre sindicatos e outras
organizaes que lutam pela emancipao social , afinal, um cami-
nho em aberto para o mundo inteiro. As cinco edies do Frum Social
Mundial j realizadas (em Porto Alegre, respectivamente em Janeiro de
2001, 2002, 2003 e 2005, e em Mumbai ndia , em Janeiro de 2004)
so reveladoras de que as alianas sociais de mbito mundial vo ga-
nhando forma de dia para dia e de que o movimento sindical jamais as
pode ignorar enquanto vector estratgico para o reforo das suas lutas.
Diante destes vrios caminhos em aberto para o movimento sindi-
cal na UE e MERCOSUL, so, pois, amplas as possibilidades de aco
sindical em cada um dos blocos. Alm disso, nos desafios de cooperao
conjunta entre organizaes sindicais dos dois blocos regionais residem
tambm novas esperanas de interveno escala regional. O Comuni-
cado Conjunto (redigido em 6 de Setembro de 2001) pela CES, CCSCS e
pelo Consejo de Trabajadores del Cono Sur (CTCS),
12
destinado a acompa-
nhar as negociaes que desde 1999 se desenvolvem entre a UE e o
MERCOSUL para a obteno de um acordo de livre comrcio entre os
dois blocos disso exemplo, estendendo-se mesmo ao contexto da Am-
12. Do mosmo modo quo a CCSCS apolada pola ClSL o pola Ckl1, o C1CS uma ostrutura
slndlcal portonconto a Conodoraao Mundlal do 1rabalho (CM1) o a sua ostrutura roglonal para a
Amrlca Latlna, a Contral Latlno-Amorlcana do 1rabalhadoros (CLA1).
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 209
rica Latina e no apenas ao MERCOSUL. Nessa declarao conjunta, a
CES, CCSCS e CTCS acordaram, entre outros pontos: fazer assentar as
relaes entre as estruturas sindicais do Cone Sul e da UE em princ-
pios de reciprocidade, autonomia, cooperao e solidariedade; no fa-
zer restries quando discusso de sectores econmicos; incluir nesse
acordo um captulo especfico sobre a defesa e respeito dos direitos
laborais (CES/CTCS/CCSCS, 2001: 1).
Na sequncia desse Comunicado Conjunto, um Seminrio sobre a
participao sindical nas negociaes entre UE e MERCOSUL seria or-
ganizado pelas mesmas organizaes (Buenos Aires, 9 e 10 de Abril de
2002). Nele, CES, CTCS e CCSCS reiteraram a necessidade salvaguardar
a dimenso social num futuro acordo de associao bi-regional entre os
dois blocos. A aprovao das propostas de incluso de um captulo
scio-laboral especfico de proteco dos direitos laborais, de constitui-
o de um Frum Sindical UE-MERCOSUL ( semelhana do j existen-
te Frum Empresarial), ou da salvaguarda das negociaes colectivas, no-
meadamente atravs da criao de Conselhos de Empresa bi-regionais,
foram as principais linhas de fora sadas desse Seminrio (CES/CTCS/
CCSCS: 2002: 2-3).
Em Maro de 2003, a propsito do 9 Encontro do Comit de Ne-
gociao Bi-Regional relativo s negociaes entre a UE e o MERCOSUL,
as mesmas trs organizaes sindicais consideraram fundamental que
o Frum Sindical UE-MERCOSUL sirva no futuro para melhorar a
formao dos sindicalistas face aos processos de integrao regional
e sub-regional, assim como para fomentar um dilogo constante com o
Frum Empresarial. Trata-se de um importante desafio quer no plano
organizativo, quer formativo: os mecanismos de participao da socie-
dade civil devem concretizar-se para que esta participao seja efectiva.
Os sindicatos, diferentemente dos grandes grupos econmicos, tm (so-
bretudo no MERCOSUL), grandes dificuldades para pr em marcha este
importante esforo organizativo e formativo, para o qual esperamos
contar com o necessrio apoio das autoridades da UE e do MERCOSUL
(CCSCS/CTCS/CES, 2003: 3).
Alm destas iniciativas, encontros e declaraes conjuntas da
CCSCS, CTCS e CES (sem dvida reveladores de uma vontade de con-
tribuir para aproximar a UE e o MERCOSUL sobretudo no domnio
210 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
social),
13
outros exemplos de convergncia entre os dois blocos envol-
vendo no apenas organizaes sindicais podem tambm resultar de
iniciativas por pas. O acordo de cooperao que, em Setembro de 2000,
a seco brasileira do Frum Consultivo Econmico e Social (FCES) e o
Conselho Econmico e Social Portugus (CES-P) celebraram nos ter-
mos do qual se previu um intercmbio de informaes e experincias
sobre vrios aspectos dos processos de integrao e uma iniciativa con-
junta dos dois organismos para o desenvolvimento de um programa
de cooperao com os pases africanos de lngua portuguesa (Correio
Sindical Mercosul, 2000b: 7) um exemplo desse tipo de iniciativas.
Outro exemplo foi o acordo de cooperao firmado em Julho de 2003
entre o Conselho de Desenvolvimento Econmico e Social (CDES)
criado pelo governo Lula e destinado a assessorar o Presidente da Re-
pblica na formulao de polticas especficas orientadas para a cons-
truo de um novo contrato social
14
e o Comit Econmico e Social
da UE (CES-UE). O objectivo do acordo foi o de estabelecer um inter-
cmbio com vista partilha de experincias de concertao poltica
(Correio Sindical Mercosul-UE, 2003: 8).
ConcIuso
Melhor do que a UE, o MERCOSUL exemplifica bem as dificulda-
des da integrao regional, no obstante as organizaes sindicais dos
dois blocos regionais se confrontarem com obstculos transnacionali-
zao das suas actividades no muito distintos. S que no caso do
13. Asslnalo-so tambm o surglmonto, om Abrll do 2003, da publlcaao oloctronlca monsal
lntltulada Coe|o S|oJ|ca| \ecosu|-L| (dlsponlblllzada polo ena|| lnormoalcauol.com.br) odl-
tada pola Consultorla Lconomlca o Soclal lntograda o apolada pola lundaao lrlodrlch Lbort o
pola CCSCS. Na llnha do outras publlcaos do mosmo tlpo como o Coe|o S|oJ|ca| \ecosu|,
publlcado dosdo Agosto do 1999, o |o|one ^|ca, publlcado dosdo Agosto do 2002, ou alnda do
slto www.slndlcatomorcosul.com.br, constltuido om Agosto do 2000, o no qual constam lnorma-
os slndlcals do actuallzaao dlrla , o Coe|o S|oJ|ca| \ecosu|-L|, coordonado por Sllvla
lortolla do Castro, ol crlado com o ob|octlvo ornocor lnormaos sobro o andamonto das nogo-
claos com vlsta a um acordo comorclal o do cooporaao oconomlca ontro o MLkCCSUL o a UL.
1rata-so do uma publlcaao ossonclalmonto voltada para as organlzaos slndlcals, soclals o poli-
tlcas, asslm para todos os lntorossados no toma da lntograao roglonal ontro as duas roglos.
14. A osto rospolto, vo|a-so o capitulo do koborto Vras nosto llvro.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 211
MERCOSUL, mais de uma dcada aps a sua constituio, aquele con-
seguiu aumentar o comrcio intra-regional e criar complementaridades
entre os pases membros, mas falhou redondamente no sentido de esta-
belecer estruturas institucionais (Brito e Migueis, 2002: 28). No espan-
tar, pois, que o caminho a percorrer pelo sindicalismo do MERCOSUL
seja tambm mais longo do que aquele que os sindicatos europeus tm
pela frente. Para os mais pessimistas, depois de George W. Bush ter vis-
to aprovada no Congresso norte-americano a Trade Promotion Authority
(que o autoriza a negociar acordos comerciais) e depois de vrias cimei-
ras e encontros de chefes de Estado do hemisfrio americano realizados
nos ltimos anos parecerem confirmar a criao da ALCA para o ano de
2005, o MERCOSUL estar mesmo num beco sem sada e condenado a
ser engolido pela ALCA. No entanto, para os mais optimistas a ALCA
no ser incompatvel como o MERCOSUL, pois uma zona de livre-
comrcio hemisfrica, em vez de eliminar, tender a estimular o desen-
volvimento de outras vertentes integrativas entre os pases-membros e
associados do MERCOSUL. Este tem um capital poltico e uma cultura
prpria que jamais sero alcanados no plano hemisfrico, por mais
poderosa e abrangente que venha a ser a ALCA no domnio econmico
e comercial (Almeida, 2002: 11-12).
Para os sindicatos do MERCOSUL, o cenrio pessimista parece ser
o mais provvel e contra ele que mobilizam as suas foras. Com efeito,
os receios de perda de soberania nacional resultantes de uma extenso
do NAFTA a todo o Continente tm levado muitas organizaes sindi-
cais do Cone Sul a reforar a sua unidade escala regional, nomeada-
mente no quadro da ASC.
Os caminhos em aberto para a actuao sindical na UE e
MERCOSUL que aqui foram sugeridos remetem tanto para um apro-
fundamento das formas de convergncia sindical nesses blocos, como
para um alargamento dos horizontes de interveno do sindicalismo,
indo ao encontro de debates e problemas mais amplos que, inclusive,
no passam exclusivamente por preocupaes sindicais. igualmente
de admitir que a eficcia de tais propostas de actuao sindical no qua-
dro da integrao regional possa sair reforada com uma maior aproxi-
mao entre as organizaes sindicais mais representativas dos dois blo-
cos regionais, de resto na linha de algumas posies conjuntas j assu-
midas. Mesmo no omitindo a existncia de diferenas de interesses entre
212 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
as organizaes sindicais do MERCOSUL e da UE, seria desejvel: uma
multiplicao de aces de solidariedade para com as principais lutas
sindicais em cada regio; um acompanhamento sindical atento das ne-
gociaes econmicas, comerciais e polticas entre a UE e o MERCOSUL/
Amrica Latina; uma articulao entre sindicatos e representantes sindi-
cais de ambos os blocos em empresas multinacionais situadas nas duas
regies; etc. (Castro, 1999b: 27). Experincias como a dos Conselhos de
Empresa Europeus constitudos, desde 1994, por uma directiva co-
munitria e orientados para criao de mecanismos de informao e
consulta dos trabalhadores nas multinacionais , ou como o primeiro
Contrato Colectivo do MERCOSUL celebrado em Maro de 1999 en-
tre a Volkswagen do Brasil Ltda. e a Volkswagen da Argentina SA, en-
volvendo a participao de sindicatos metalrgicos de Brasil e Argenti-
na e estabelecendo princpios bsicos de relacionamento entre capital e
trabalho no MERCOSUL , so apenas dois bons pretextos para pro-
mover a aproximao entre o sindicalismo da UE e do MERCOSUL.
SigIas
Aft-ClO, ^ne|cao |eJeat|oo o| |aoo-Coogess o| |oJust|a| Ogao|zat|oos
ASC, Allana Soclal Contlnontal
AtCA, Aroa do Llvro Comrclo das Amrlcas
CAN, Comunldado Andlna
CCSCS, Coordonadora do Contrals Slndlcals do Cono Sul
CDIS, Consolho do Dosonvolvlmonto Lconomlco o Soclal
CIIs, Consolhos do Lmprosas Luropous
CIS, Conodoraao Luropola do Slndlcatos
CIS-P, Consolho Lconomlco o Soclal do lortugal
CIS-UI, Comlt Lconomlco o Soclal da Unlao Luropola
CGT, Coo|eJeat|oo Geoea|e Ju !a.a||
CGTP, Conodoraao Coral dos 1rabalhadoros lortuguosos
ClSt, Conodoraao lntornaclonal dos Slndlcatos Llvros
CtAT, Contral Latlno-Amorlcana do 1rabalhadoros
CMT, Conodoraao Mundlal do 1rabalho
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 213
CSN, Coo|eJeat|oo Jes SjoJ|cats Nat|ooau\
CTCS, Cooseo Je !aoaaJoes Je| Cooo Su
CUT, Contral Unlca dos 1rabalhadoros
DG, |eutsc|e Geue|sc|a|tsouoJ
fCIS, lorum Consultlvo Lconomlco-Soclal
fSIs, lodoraos Slndlcals Luropolas
fSM, lodoraao Slndlcal Mundlal
MIRCOSUt, Morcado Comum do Sul
NAfTA, Not| ^ne|cao |ee !aJe ^geeneot
OlT, Crganlzaao lntornaclonal do 1rabalho
ORlT, Crganlzaao koglonal lntoramorlcana dos 1rabalhadoros
PlT-CNT, llonrlo lntorslndlcal do 1rabalhadoros Contral Naclonal do 1rabalha-
doros
RIRlP, kodo rasllolra pola lntograao dos lovos
TUC, !aJe Lo|oos Coogess
UI, Unlao Luropola
Rcfcrncias bibIiogrficas
ALMLlDA, laulo koborto do (2002), C rasll o os blocos roglonals. soboranla o
lntordopondncla, Sao |au|o en |esect|.a, 16 (1), 3-16.
AklLkC, Alan, CHALCUL1, vos (1999), Dosalos, ostratglas o allanas das
contral s sl ndl cal s no Morcosul (http.//www.sol .unb.br/yvos/
astalanyvos10.html), acodldo om 19.11.1999.
AklLkC, Alan, CHALCUL1, vos (2001), C dlco domocrtlco do MLkCCSUL
(http.//www.sol.unb.br/yvos/Artlgos20Dolclt.html), acodldo om 11.07.2001.
LkCUSSCN, rlan et a|. (2000), A Manlosto or Soclal Luropo 2000, !aos|e
|uoeao ke.|eu o| |aoou aoJ keseac|, 6 (3), 498-513.
kl1C, Aloxandra arahona do, MlCULlS, klcardo (2002), Amrlca Latlna. Uma
curva doscondonto:, O \uoJo en |otugues, 28, 25-28.
CAS1kC, Marla Silvla lortolla do (1999a), Morcosul o rolaos trabalhlstas, |o-
|one aa a O|! sooe |otegaao ecoon|ca e e|aoes taoa|||stas
(pollcoplado), 1-72.
214 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
CAS1kC, Marla Silvla lortolla do (1999b), Llomontos para a anllso das rolaos
oconomlcas o politlcas ontro a Unlao Luropola o o Morcosul o as propostas
slndlcals, |ae aa J|scussao Ja CCSCS (pollcoplado), 1-28.
CAS1kC, Marla Silvla lortolla do (2000), Movlmonto Slndlcal no Morcosul. tra|octorla
o porspoctlvas do acao, |o }. Loronzottl, C. L. lacclo (orgs.), O S|oJ|ca||sno
oa |uoa, \ecosu| e Na|ta. Sao laulo. Ltr/Lscola Sul da CU1, 103-135.
CCSCS (2000a), Documontos. Coordonadora das Contrals Slndlcals do Cono Sul
(http.//www.slncatomorcosul.com.br/documont.htm=parto2), acodldo om
3.01.2001.
CCSCS (2000b), lor um Morcosul com omprogo, salrlos o protocao soclal
(blllnguo). (http.//www.slndlcatomorcosul.com.br/notlclas.asp:numoro~472),
acodldo om 3.01.2001.
CCSCS (2001), |o oto \|kCOSLk coo en|eo aa toJos. ||| Cunoe S|oJ|ca|
\|kCOSLk (Anoxo ao Coe|o S|oJ|ca| \ecosu|, 97), 1-4.
CCSCS (2002), |o outo \|kCOSL| con enego aa toJos. |v |ocooto S|oJ|-
ca| \|kCOSL| (Anoxo ao Coe|o S|oJ|ca| \ecosu|, 140), 1-5.
CCSCS/C1CS/CCLA/Ckl1-ClCSL/CLA1-CM1 (2000), Doclaraao Slndlcal Morcosul
CA. lntograao com dosonvolvlmonto soclal, soboranla o domocracla (http./
/www.slndlcatomorcosul.com.br/documon13.htm), acodldo om 3.01.2001.
CCSCS/C1CS/CLS (2003), |as oegoc|ac|ooes Lo|o |uoea-\ecosu aote e| oo.eoo
eocueoto Je| CN|. (Anoxo ao Coe|o S|oJ|ca| \ecosu|-L|, 1) 1-3.
CLS (1999), keso|ut|oos. |\ene Cooges. ruxollos. CLS.
CLS/C1CS/CCSCS (2001), Comunlcado con|unto do la Coordlnadora do Contralos
Slndlcalos dol Cono Sur (CCSCS), Conso|o do 1raba|adoros dol Cono Sur
(C1CS) y la Conodoraclon Luropoa do Slndlcatos (CLS), Coe|o S|oJ|ca|
\ecosu|, 84, 2.
CLS/C1CS/CCSCS (2002), |as oegoc|ac|ooes Lo|o |uoea \ecosu, j |a a-
t|c|ac|o s|oJ|ca|. |ec|aac|o ||oa|. (Anoxo ao Coe|o S|oJ|ca| \ecosu|,
107) 1-3.
CHALCUL1, vos, ALMLlDA, laulo koborto (1999), Aprosontaao, |o . Chaloult
o l. k. Almolda (orgs.), \ecosu|, Na|ta e ^|ca. a J|neosao soc|a|. Sao laulo.
Ltr, 7-14.
______ (orgs.) (1999), \ecosu|, Na|ta e ^|ca. ^ J|neosao soc|a|. Sao laulo. Ltr.
CCMlSSAC DAS CCMUNlDADLS LUkClLlAS (2001), Conuo|caao Ja Con|s-
sao ao Coose||o, ao |a|aneoto |uoeu, ao Con|te |coon|co e Soc|a| |u-
oeu e ao Con|te Jas keg|oes. |a|oe| Je a.a||aao e|at|.o a e\ecuao Ja
ageoJa Je o||t|ca soc|a|. ruxolas. Comlssao das Comunldados Luropolas.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 21S
______ (2002), Conuo|caao Ja Con|ssao ao Coose||o, ao |a|aneoto |uoeu,
ao Con|te |coon|co e Soc|a| |uoeu e ao Con|te Jas keg|oes. |a|oe| Je
a.a||aao e|at|.o a e\ecuao Ja ageoJa Je o||t|ca soc|a|. ruxolas. Comls-
sao das Comunldados Luropolas.
______ (2003), Conuo|caao Ja Con|ssao ao Coose||o, ao |a|aneoto |uoeu,
ao Con|te |coon|co e Soc|a| |uoeu e ao Con|te Jas keg|oes. |a|oe| Je
a.a||aao e|at|.o a e\ecuao Ja ageoJa Je o||t|ca soc|a|. ruxolas. Comls-
sao das Comunldados Luropolas.
COkk||O S|N||C^| \|kCOSL| (2000a), 57, 4 do Dozombro (rocobldo vla
coslntuol.com.br).
______ (2000b), 58, 10 do Dozombro (rocobldo vla coslntuol.com.br).
______ (2001a), 60, 12 do lovorolro (rocobldo vla coslntuol.com.br).
______ (2001b), 84, 10 do Sotombro (rocobldo vla coslntuol.com.br).
______ (2001c), 85, 17 do Sotombro (rocobldo vla coslntuol.com.br).
______ (2001d), 97, 16 do Dozombro (rocobldo vla coslntuol.com.br).
______ (2002), 122, 28 do }ulho (rocobldo vla coslntuol.com.br).
______ (2003), 152, 18 do Dozombro (rocobldo vla coslntuol.com.br).
Coe|o S|oJ|ca| \ecosu|-L| (2003), 3, }ulho (rocobldo vla lnormoalcauol.com.br).
CCS1A, Hormos Augusto (2000), ldontldados slndlcals ouropolas om tompos do
globallzaao, !eno Soc|a|, 12 (1), 165-186.
______ (2001), Slndlcallsmo o lntograao roglonal. uma vlsao sobro lortugal o o
rasll, Soc|o|og|a, |oo|enas e |t|cas, 36, 121-142.
______ (2002), A acao slndlcal na UL o MLkCCSUL. llmltos o dosalos, ke.|sta
C|t|ca Je C|eoc|as Soc|a|s, 62, 69-96.
______ (2003), A lntograao roglonal do slndlcallsmo. uma vlsao comparatlva ra-
sll-lortugal, No.os |stuJos, 65, 111-123.
ClLl Slndlcal (1998), |oc|ua con Jec|aaao Je coost|tu|ao, estatutos e o-
gana Je ^cao. Llsboa. ClLl Slndlcal.
CU1 (1997), Dlroctrlzos do Actuaao lntornaclonal CU1, 1997-2000 (http.//
www.cut.org.br/a1001.htm), acodldo om 28.04.2000.
______ (2000), Slndlcatos buscam unldado no Morcosul, |o|et|n \ecosu|, 18, 1-8.
______ (2001), keso|uoes e |nageos Jo 7 CONCL!. Sao laulo. CU1.
CU1/ClD1 (1999), Altornatlvas para as Amrlcas. para um acordo dos povos do
contlnonto, !e\tos aa Jeoate |oteoac|ooa|, 13, 1-60.
CU1/CSN (2000), |otegaao eg|ooa|, necaJo Je taoa||o e acao s|oJ|ca|. O caso
\ecosu| (vorsao prollmlnar). Sao laulo. DLSLl, Skl/CU1 (pollcoplado), 1-74.
216 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
DLVlK, }on Lrlk (2000), ulldlng koglonal Structuros. L1UC and tho Luropoan
lndustry lodoratlons, !aos|e |uoeao ke.|eu o| |aoou aoJ keseac|,
6 (1), 58-77.
DUlAS, Cllborto (1999), Covornos, agontos oconomlcos o atoros soclals. klscos o
dosalos da globallzaao o da politlca do blocos, |o . Chaloult o l. k. Almolda
(orgs.), \ecosu|, Na|ta e ^|ca. a J|neosao soc|a|. Sao laulo. Ltr, 132-146.
L1UC (2003a), La CLS (http.//www.otuc.org/r/surlaCLS/), 1, acodldo om
21.03.2003.
L1UC (2003b), Maklng Luropo work or tho pooplo (vorslon lnalo) (http.//
www.otuc.org/LN/xcongross/r/docs), 1-39, acodldo om 30.05.2003.
L1UC (2003c), lrogrammo dactlon (vorslon lnalo) (http.//www.otuc.org/LN/
xcongross/r/docs), 1-21, acodldo om 30.05.2003.
CALLlN, Dan (2002), Labour as a global soclal orco. past dlvlslons and now tasks,
|o }. Harrod o k. Crlon (orgs.), G|ooa| uo|oos: !|eoj aoJ stateg|es o| ogao|zeJ
|aoou |o t|e g|ooa| o||t|ca| ecooonj. Londros. koutlodgo, 235-250.
CCL1SCH, }anlno (1996), 1ho Luropoan 1rado Unlon Conodoratlon and tho
Constructlon o Luropoan Unlonlsm, |o l. Lolslnk, }. Van Loomput, }. Vllrokx
(orgs.), !|e C|a||eoges to !aJe Lo|oos |o |uoe. |ooo.at|oo o ^Jatat|oo.
Choltonham. Ldward Llgar, 253-265.
HCllMANN, kolnor (2000), Luropoan 1rado Unlon Structuros and tho lrospocts
or Labour kolatlons ln Luropo, |o }. Waddlngton, k. Homann (orgs.), !aJe
Lo|oos |o |uoe. |ac|og C|a||eoges aoJ Seac||og |o So|ut|oos. ruxolas.
L1Ul, 627-653.
HMAN, klchard (1996), Changlng Unlon ldontltlos ln Luropo, |o l. Lolslnk, }.
Van Loomput, }. Vllrokx (orgs.), !|e C|a||eoges to !aJe Lo|oos |o |uoe.
|ooo.at|oo o ^Jatat|oo. Choltonham. Ldward Llgar, 53-73.
______ (1999), llvo Altornatlvo Sconarlos or Wost Luropoan Unlonlsm, |o k.
Munk, l. Watorman (orgs.), |aoou \o|Ju|Je |o t|e |a o| G|ooa||zat|oo.
^|teoat|.e Lo|oo \oJe|s |o t|e Neu \o|J OJe. Londros. MacMlllan lross.
}ACCl, Ctto (2000), 1ransnatlonal 1rado Unlon Cooporatlon at Clobal and
Luropoan Lovol Cpportunltlos and Cbstaclos, !aos|e |uoeao ke.|eu
o| |aoou aoJ keseac|, 6 (1), 12-28.
}AKCSLN, K|old (1998), Nuovos rumbos on la Ckl1:, |o M. S. l. Castro, A.
Wachondoror (orgs.), S|oJ|ca||sno j g|ooa||zac|o. |a Jo|oosa |osec|o eo
uo nuoJo |oc|eto. Caracas. Ldltorlal Nuova Soclodad, 307-318.
______ (1999), Uma vlsao slndlcal om aco da ALCA o do outros osquomas slndl-
cals, |o . Chaloult o l. k. Almolda (orgs.), \ecosu|, Na|ta e ^|ca. a J|neo-
sao soc|a|. Sao laulo. Ltr, 232-248.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 217
______ (2001), kothlnklng tho lntornatlonal Conodoratlon o lroo 1rado Unlons
and lts lntor-Amorlcan koglonal Crganlzatlon, |o l. Watorman, }. Wllls (orgs.),
||ace, Sace aoJ t|e Neu |aoou |oteoat|ooa||sns. Cxord. lackwoll, 59-79.
lL||||L2000 (2001), ALCA. um pro|octo noocolonlal do anoxaao o submlssao
da Amrlca Latlna o do Carlbo. lara quo o rasll nao vlro colonla dos USA,
dlga nao a ALCA!, (http.//|ubllou2000.org.br/toxtos/alca0001.htm), 1-9, aco-
dldo om 16.01.2003.
LANCLWlLSCHL, konato (2000), Ldltorlal, !aos|e |uoeao ke.|eu o| |aoou
aoJ keseac|, 6(3), 364-366.
LlNDLN, Marcol Van dor (2000), Concluslon. 1ho last and tho luturo o lntorna-
tlonal 1rado Unlonlsm, |o A. Carow et a|. (orgs.), !|e |oteoat|ooa|
Coo|eJeat|oo o| |ee !aJe Lo|oos. orn. lotor Lang, 519-540.
MAklANC, Karlna Lllla lasquarlollo (2001), ^ actuaao Ja Con|ssao |a|aneota
Coouota e Jo Suoguo Je !aoa||o 10 oo \ecosu| (1oso do Doutoramon-
to). Camplnas. Unlvorsldado Lstadual do Camplnas/lnstltuto do lllosola o
Clnclas Humanas.
MLLLC, ltlma V. (2002), razll and tho l1AA tho stato o tho dobato slnco
Lulas vlctory, |stuJ|os sooe e| ^|C^, 2, 1-7 (om vorsao lDl) (http.//www.
asc-has.org), acodldo om 17.01.2003.
lLNA, lllx (1999), roadonlng and Dooponlng. Strlklng tho klght alanco, |o k.
koott (org.), \ecosu. keg|ooa| |otegat|oo, \o|J \a|ets. Londros. Lynno
klonnor lubllshors, 49-61.
kLkll (2002), Aprosontaao (http.//www.robrlp.org.br), 1, acodldo om
17.01.2003.
kCL11, klordan (1999), lntroductlon, |o k. koott, (org.), \ecosu. keg|ooa|
|otegat|oo, \o|J \a|ets. Londros. Lynno klonnor lubllshors, 1-5.
SAN1CS, oavontura do Sousa, Costa, Hormos Augusto (2004), lntroduao. para
ampllar o cnono do lntornaclonallsmo oporrlo, |o . S. Santos (org.), !a-
oa||a o nuoJo. os can|o|os Jo oo.o |oteoac|ooa||sno oe|o. klo do
}anolro. Clvlllzaao rasllolra.
SlLVA, Manuol Carvalho da (2000), Um olhar sobro a ovoluao da Luropa Soclal,
Soc|o|og|a, |oo|enas e |t|cas, 32, 55-92.
SLlDLNLCK, lotor (2002), oyond Luropo. cooporatlon botwoon tho Luropoan
1rado Unlon Conodoratlon and trado unlons ln tho Modltorranoan roglon. ls
tho L1UC a Luropoan trado unlon ortross:, |o L. Cabagllo o k. Homann
(orgs.), |uoeao !aJe Lo|oo \eaooo| 2001. ruxolas. L1Ul, 415-427.
218 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
S1LVlS, Dlmltrls (1998), lntornatlonal Labor Crganlzatlons, 1864-1997. 1ho Wolght
o Hlstory and tho Challongos o tho lrosont, louoa| o| \o|J-Sjstens
keseac| (http.//cs.colorado.odu/wsystoms/|wsr.html), 4, 52-75, acodldo om
30.09.1999.
S1kLLCK, Wolgang (1998), 1ho lntornatlonallzatlon o lndustrlal kolatlons ln
Luropo. lrospocts and lrobloms, |o||t|cs 8 Soc|etj, 26(4), 429-459.
S1kLLCK, Wolgang, Schmlttor, lhlllppo C. (1998), lrom Natlonal Corporatlsm to
1ransnatlonal llurallsm. Crganlsod lntorosts ln tho Slnglo Luropoan Markot,
|o L. Cabagllo, k. Homann (orgs.), !|e |!LC |o t|e \|o o| |oJust|a|
ke|at|oos. ruxolas. L1Ul, 131-170.
!k^NS||k |uoeao ke.|eu o| |aoou aoJ keseac| (2000), Numoro ospoclal
sobro Lnlargomont as a 1rado Unlon lssuo, 6 (3).
1kA\LLk, lranz, SCHMl11Lk, lhlllppo C. (1995), 1ho Lmorglng Luro-lollty
and Crganlzod lntorosts, |uoeao louoa| o| |oteoat|ooa| ke|at|oos, 2 (1),
191-218.
VLlCA, }oao laulo Cndla (1993), Morcosul. Lvoluao lnstltuclonal o lntorvonao
slndlcal, |o lro|octo lkLS/DLSLl, \ecosu|. |otegaao oa ^ne|ca |at|oa e
e|aoes con a Conuo|JaJe |uoe|a. Sao laulo. Ca|amar, 197-211.
______ (1999), lrtlcas slndlcals o acordos prooronclals do comrclo. Um novo
camlnho para o slndlcallsmo:, |o . Chaloult o l. k. Almolda (orgs.), \ecosu|,
Na|ta e ^|ca. a J|neosao soc|a|. Sao laulo. Ltr, 170-189.
VlCLVANl, 1ullo (1998), \ecosu|. |nactos aa taoa||aJoes e s|oJ|catos. Sao
laulo. Ltr.
VlCLVANl, 1ullo, MAklANC, Karlna L. l. (1998), Cs atoros soclals o a Alca, |o }.
A. C. Albuquorquo, H. A. Cllvolra (orgs.), ^|ca. ^sectos ||st|cos, u|J|cos
e soc|a|s. Sao laulo. l1D, 72-102.
VlSSLk, }ollo (1998), Loarnlng to play. tho ouropoanlsatlon o trado unlons, |o l.
lasturo o }. Vorborckmoos (orgs.), \o||og-c|ass |oteoat|ooa||sn aoJ t|e aea|
o| oat|ooa| |Jeot|tj. ||sto|ca| Jeoates aoJ cueot esect|.es oo \esteo
|uoe. Cxord. org, 231-257.
WADDlNC1CN, }oromy (1999), Sltuatlng Labour wlthln tho Cloballzatlon Doba-
to, |o }. Waddlngton (org.), G|ooa||zat|oo aoJ |atteos o| |aoou kes|staoce.
London. Mansoll, 1-28.
WADDlNC1CN, }., HCllMANN, k., LlND }. (1997), Luropoan 1rado Unlonlsm
ln 1ransltlon: A kovlow o lssuos, !aos|e |uoeao ke.|eu o| |aoou aoJ
keseac|, 3(3), 464-497.
219
9
C lntornaclonallsmo slndlcal na ora do Soattlo'
|ete \atenao
lntroduo
sobejamente reconhecido, tanto no interior do movimento oper-
rio como sua volta, que a esfera do trabalho (entendida na sua mlti-
pla acepo de trabalho assalariado, de uma identidade de classe, de
actividade sindical, de interlocutor com voz activa nas relaes com a
indstria, de movimento social democrtico-radical, e de parte integrante
da sociedade civil) vive hoje uma crise profunda. E isso tanto mais
verdade quando ele entendido como movimento internacional numa
' C prosonto toxto uma vorsao prollmlnar do um artlgo ontrotanto publlcado num volumo
organlzado por Watorman o Wllls (2001), o rotoma, actuallza o dosonvolvo um oxtonso toxto
basoado num trabalho om curso (Watorman, 1999) bom como lnvostlgaao | publlcada om orma
do llvro (Watorman, 1998a o 2001a). Alm dlsso, tom por baso um con|unto do dlvorsos outros
artlgos, roconsos o roloxos lndltas (Watorman, 1998b). A malor parto dostos matorlals podo sor
consultada na pglna Clobal Solldarlty Dlaloguo/Dlalogo Solldarldad Clobal (cu|a roorncla
ornoclda na socao Wobsltos, no lnal dosto toxto). Cs mous agradoclmontos a Klm Sclpos, a
ruco Nlsson o, om ospoclal, a Dan Callln o }ano Wllls, polos sous comontrlos a vorsos antorloros
do artlgo. So do alguma manolra doscurol ou ontondl mal as porsplcazos sugostos quo mo lzoram
om prlvado, osporo tor oportunldado do, om publlco, podor vlr a rospondor as suas roacos.
220 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
poca em que a velha ordem capitalista internacional se v confrontada
com os desafios colocados pela nova desordem capitalista global. A re-
cuperao desta situao vai exigir no s uma crtica do internaciona-
lismo operrio tradicional, mas tambm todo um trabalho de reconcep-
tualizao, alm de novos tipos de anlise e um novo dilogo e uma
dialctica nova entre as partes interessadas. Para tanto, aqui se adian-
tam, uma aps outra, as seguintes propostas: 1) uma crtica do interna-
cionalismo sindical do perodo nacional/industrial/colonial (NIC);
1
2)
uma reconceptualizao do sindicalismo e do internacionalismo oper-
rio adequada a um perodo de capitalismo globalizado/conectado em
rede/informatizado (GCI); 3) o dilogo do milnio sobre a esfera do tra-
balho e a globalizao; 4) uma das novas abordagens acadmicas da
esfera do trabalho a nvel internacional e do internacionalismo operrio;
5) o papel da comunicao, da cultura e das novas tecnologias da infor-
mao e da comunicao (TIC). A concluso salienta a centralidade da
interconectividade reticular, da comunicao e do dilogo para a criao
de um novo internacionalismo operrio.
1. lntcrnacionais sindicais c o pcrodo nacionaI/industriaI/coIoniaI
2
Existiram e existem ainda outros tipos de organizao sindical in-
ternacional para alm daquelas que aqui me proponho tratar: uma or-
ganizao de inspirao social-crist e de implantao pouco mais que
marginal, actualmente com a designao World Confederation of Labour
(WCL Confederao Mundial do Trabalho, CMT); organizaes
autnomas regionais, como a Organisation of African Trade Union Unity
(Organizao para a Unidade Sindical Africana); e inclusivamente a US
American Federation of Labour-Congress of Industrial Organisations
(AFL-CIO Federao Americana do Trabalho-Congresso das Organi-
1. Vor llsta das slglas prlnclpals no lnal do toxto (nota do tradutor).
2. A anllso quo so soguo dovo sor coto|ada com a quo olta por Dan Callln (1999a), quo na
qualldado do antlgo Socrotrlo da lntornatlonal Unlon o lood and Alllod Workors (lUl Slndl-
cato lntornaclonal dos 1rabalhadoros da Allmontaao o Assoclados) tom marcado prosona, nao so
do orma actlva como atravs das suas roloxos critlcas, no lntornaclonallsmo oporrlo o slndlcal.
A osto proposlto .. tambm Callln (1999b, 2001).
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 221
zaes da Indstria), que durante dezenas de anos funcionou como se
fosse uma internacional paralela e concorrente, a que no faltavam as
respectivas instncias e dinmicas regionais! Terei, no entanto, que me
circunscrever ao caso da International Confederation of Free Trade Unions
(ICFTU Confederao Internacional dos Sindicatos Livres, CISL) e a
duas outras estruturas que com ela mantm ou mantiveram importan-
tes relaes. A World Federation of Trade Unions (WFTU Federao
Sindical Mundial, FSM), representante da tradio comunista de inter-
nacionalismo sindical e que foi a grande rival poltico-ideolgica da CISL
durante a Guerra Fria; e a ITF, International Transportworkers Federation
(Federao Internacional dos Trabalhadores dos Transportes, FITT), um
dos grandes Secretariados Profissionais Internacionais (ITSs SPIs) li-
gados rea da indstria. Representando um tipo de internacional ante-
rior CISL, a FITT foi e continua a ser marcada por uma certa concor-
rncia com a CISL e com o seu sindicalismo baseado no Estado-nao. A
vitria poltico-ideolgica da CISL na Guerra Fria e o estado de confu-
so ou crise em que mergulhou com o advento da globalizao neolibe-
ral deixam ainda em aberto, pelo menos, a questo de saber se nas
internacionais de matriz nacional ou nas de matriz industrial ou nou-
tras de natureza inteiramente diversa que reside a resposta mais ade-
quada com vista a um novo internacionalismo sindical, operrio ou geral
na presente era de globalizao (v. adiante).
A Confederao Internacional dos Sindicatos Livres uma organizao
centenria com uma longa tradio atrs de si. Apoiada pela esmagado-
ra maioria dos sindicatos nacionais dos pases do Norte e tendo sado
vitoriosa da guerra fria no terreno sindical, ela recrutou para as suas
fileiras os maiores sindicatos nacionais radicais dos pases do Sul. Alm
disso, reclama para si um nmero de membros que ascende aos 124
milhes, perfilando-se para vir a incorporar ainda, no futuro, os da Chi-
na e da Rssia
3
Sendo assim, por que razo posta hoje em causa, vi-
vendo, inclusivamente, num estado de autoquestionamento? Porque esta
3. A prlnclpal onto para conhocor a hlstorla da ClSL van dor Llndon (2000). Sarah Ashwln
(2000) propo uma critlca lnormatlva o porsplcaz do ultlmo poriodo dosta organlzaao, om ospo-
clal no quo so rooro as suas rolaos com o antlgo mundo comunlsta. Lsta autora susclta a quostao
do ostar prosontomonto a ClSL a aproxlmar-so do um slndlcallsmo do movlmonto soclal (113),
noao a quo rogrossarol adlanto. V. tambm Callln (1999a).
222 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
confederao internacional continua, em minha opinio, a ser a expres-
so do capitalismo nacional/industrial/colonial (NIC) que lhe deu o ser
e a forma. A CISL uma confederao internacional de federaes sindi-
cais de carcter nacional(ista), por sua vez representantes histricas do
operrio (do sexo masculino) da indstria pertencente s grandes em-
presas capitalistas ou estatais e desejosas de obterem da parte do
patronato ou dos respectivos governos o devido reconhecimento,
proteco e representao no s ao nvel do prprio Estado-nao como
ao nvel dos demais Estados. esta uma tradio que coexiste em si-
multnea cooperao e concorrncia com o taylorismo (a linha de mon-
tagem de produo em massa), o fordismo (em que os trabalhadores
recebem o mnimo necessrio para que possam tornar-se consumidores
em massa dos produtos que ele prprios fabricam), o keynesianismo
(em que a redistribuio social e a riqueza so determinadas pelos ndi-
ces de crescimento) e o nacionalismo de Estado (em que os trabalhado-
res so encarados como cidados nacionais, isto , como algum que se
define por uma relao de oposio, de concorrncia e at mesmo de
guerra com os demais). A ideologia, as instituies e os procedimentos
associados ideia de parceria social passaram a ser hegemnicos de-
pois da criao, em 1919, da International Labour Organisation (ILO
Organizao Internacional do Trabalho, OIT), debaixo de uma conside-
rvel presso do movimento operrio. A CISL interiorizou a natureza
tripartida da OIT.
4
A essa natureza tripartida veio juntar-se, durante o
perodo da Guerra Fria, a ideologia do sindicalismo livre, o que leva-
ria tendncia para identificar a CISL com o mundo livre liderado
pelos Estados Unidos da Amrica.
5
A isso acresceu ainda, agora que se
assistia ao desmoronamento do colonialismo (de que a CISL foi cmpli-
ce), a ideologia do desenvolvimento a caminho de uma utopia social,
implicitamente inspirada quer num certo modelo de tipo sueco, quer na
cornucpia de riqueza e abundncia oferecida pelo modelo californiano.
4. A palavra trlpartldo sugoro uma tarto partlda om trs partos lguals. Lm tormos do podor
rolatlvo, no ontanto, o molhor simbolo da Cl1 dovorla antos sor um bolo om camadas, uma voz
quo, cabondo 50 ao Lstado (ou govorno) o 25 ao Capltal (os omprogadoros), rosta aos
Slndlcatos (o mundo do trabalho) os 25 do undo.
5. H alguns anos a ClSL mudou o titulo da sua rovlsta olclal do |ee |aoou \o|J para !aJe
Lo|oo \o|J, parocondo dar asslm mostras do roconhocor as amblguldados o llmltaos da pala-
vra llvro.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 223
A organizao internacional foi edificada segundo a matriz da poca, ou
seja, em termos de um corpo assente no Estado-nao e que formalmen-
te se apresentava com sendo democrtico-representativo, alm de pri-
mordialmente vocacionado para a concorrncia/cooperao com as ou-
tras internacionais sindicais e para a actividade de lobbying dos r-
gos inter-estatais. O internacionalismo daqui resultante foi um inter-
nacionalismo nacional, traduzido na conquista de direitos e de padres
sociais-democratas no interior do Estado-nao democrtico-liberal e na
conquista desses mesmos Estados-nao por parte dos trabalhadores a
quem eles eram negados (casos da frica do Sul do Apartheid e da Polnia
comunista).
Por ocasio do 50 aniversrio da CISL, um nmero especial da
Trade Union World (1999), revista oficial da organizao, apresentava-se
com o seguinte ttulo: Como a CISL Influenciou os Grandes Desenvol-
vimentos a Nvel Global ao Longo dos Anos. A verdade, porm, que
a impressionante histria recente da CISL (Linden, 2000) que comun-
ga esta perspectiva institucional-desenvolvimentista revela estar este
seu meio sculo de existncia recheado de aspectos muito problemti-
cos, nomeadamente no que refere manuteno de relaes estreitas e
at simbiticas com determinados Estados, com o capital, com imprios
e blocos (dentro do prprio mundo ocidental!), e inclusivamente com os
respectivos servios de espionagem. Igualmente posta a nu, e de igual
modo problemtica, a dimenso da dependncia da poltica da CISL
relativamente s principais organizaes nrdicas nela filiadas, bem como
das lutas intestinas ainda que habitualmente discretas ou ocultas
travadas entre os seus principais sindicatos e funcionrios. Com efeito,
a leitura deste livro deixa-nos com a sensao de que a CISL no
corresponder propriamente tradio mais marcante e fora
impulsionadora mais significativa do movimento operrio internacio-
nal, revelando-se antes como uma agncia ou grupo de presso interna-
cional com ligaes a outras organizaes de empregadores nacionais e
inter-estatais, divorciado do quotidiano concreto dos operrios e do tra-
balho destes nas fbricas. Esse sentimento reforado pela leitura da
Concluso do captulo correspondente ao perodo 1972-dcada de 90,
onde se citam as palavras de um proeminente dirigente nacional nrdi-
co proferidas no Congresso de 1975:
224 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Nao sol qual o numoro do possoas nos vossos paisos quo tm uma conscln-
cla prounda da oxlstncla da ClSL, mas ou possoalmonto dosconlo quo no
mou proprlo pais osso numoro multo roduzldo. (516).
Rebecca Gumbrell-McCormick, autora do captulo em causa que
de resto assume as dimenses de um livro (2000), admite este reparo
e reconhece, ela prpria, outras limitaes. Contudo afirma que:
Multos trabalhadoros om Arlca, no Chllo ou noutras roglos om conllto,
ondo cologas sous tm sldo prosos ou assasslnados o outros tm sldo salvos
atravs da lntorvonao da ClSL ou das suas organlzaos llladas, torao por
corto a consclncla porolta da oxlstncla dosta, quor a conhoam polo nomo
ou nao (517).
Mesmo admitindo que assim , estas palavras sugerem uma enti-
dade que tem mais a ver com o Comit Internacional da Cruz Vermelha
do que com uma organizao internacional do tipo movimento social
(para usar uma bem apropriada expresso americana). H que evitar
demonizar a CISL ou minimizar-lhe a importncia. Se tivesse sido von-
tade dos trabalhadores ter uma CISL (ou um qualquer organismo sindi-
cal internacional) de tipo diferente, ter-se-iam organizado no sentido de
atingir esse objectivo. Tem, pois, talvez todo o cabimento ver a CISL
como uma estrutura de cunho defensivo e autolimitativo. Uma estrutura
que, alm disso, funciona no mbito e sob a alada do capitalismo NIC,
no obstante encontrar-se sujeita concorrncia do sindicalismo comu-
nista do Leste e do sindicalismo radical-nacionalista/populista do Sul.
Apesar de ter sofrido um quase completo desmoronamento, e de
quase no ter hoje uma existncia digna desse nome, a referida concor-
rncia comunista continua a no ser desprovida de interesse. As origens
da Federao Sindical Mundial remontam aliana inter-estados (os Alia-
dos) que derrotou a aliana fascista (o Eixo) na II Guerra Mundial.
6
Mas
essas origens residem tambm na vaga de empatia popular, operria,
6. Quo ou salba, a hlstorla da lSM alnda nao morocou da parto da Unlvorsldado a atonao
quo a quostao moroco. Carow (2000) autor do um brovo mas oqulllbrado ostudo sobro o toma.
A caractorlzaao quo aqul ao basola-so om parto na mlnha proprla oxporlncla a trabalhar para
a lSM na roa da ormaao slndlcal om lraga, ontro 1966 o 1969. A partlr do ontao tornol-mo
numa ospclo do obsorvador pormanonto da lSM.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 22S
democrtica, nacionalista e revolucionria que acompanhou essa vitria.
Que a dinmica do movimento se subordinou dinmica inter-estatal,
mostra-o a velocidade com que, entre 1947 e 1949, a FSM se fracturou
em funo das linhas de diviso criadas pela Guerra Fria. Mas a rapidez
com que essa fractura se deu deveu-se igualmente a uma guerra fria
anterior a essa: uma guerra que opusera os sindicatos sociais-democra-
tas aos comunistas e que remontava aos tempos em que os comunistas
fundaram o Profintern, ou Internacional Vermelha de Sindicatos (RILU
IVS), no ano de 1920 (MacShane, 1992). Aps a fractura de 1949, a
FSM assegurou, para alm dos sindicatos controlados pelo Estado per-
tencentes ao bloco comunista, o domnio dos sindicatos ocidentais com
direces comunistas, e tambm dos sindicatos comunistas e de alguns
dos sindicatos de orientao radical-nacionalista dos pases do Sul. Ao
procurar expandir-se para esta regio do mundo, de aspecto to pro-
missor, a FSM acabaria por reproduzir ainda que com uma inferior
probabilidade de xito as relaes clientelares dos sindicatos do Oci-
dente. As actividades de solidariedade, de divulgao e de formao
que ento desenvolveu visavam mais o recrutamento de aliados para o
mundo comunista entre os meios sindicais e o aparelho estatal do que o
aumento da combatividade, da autonomia e da conscincia de classe, a
confrontao com o capitalismo, ou o derrube do Estado autoritrio (com
a excepo dos Estados subordinados ao Ocidente). Assim, e a ttulo de
exemplo, veja-se como, ao longo de 50 anos de histria, a FSM revolu-
cionria nunca produziu nada sobre o tema de como organizar uma
greve, fosse de mbito nacional ou internacional.
7
De facto, a principal
actividade da FSM parece ter-se resumido organizao de congressos
internacionais, todos eles marcados pelo apelo reunificao do movi-
mento sindical internacional e pela reiterada concluso sobre a necessi-
dade de reunir um novo congresso.
Na altura da invaso sovitica da Checoslovquia, em 1968, o ope-
rariado checo no quis saber da FSM de cuja existncia, de resto, no
tinha sequer conscincia , no obstante esta se encontrar sediada em
Praga. O Secretariado da FSM encheu-se momentaneamente de alguma
7. Com oolto, a ultlma voz quo o slndlcallsmo comunlsta lntornaclonal lovou a cabo um
osoro do gnoro paroco tor sldo duranto o poriodo da Classo contra Classo do Comlntorn, no
lnal da dcada do 20 (Natlonal Mlnorlty Movomont, s.d.).
226 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
coragem democrtica e proletria ao condenar a invaso, tendo sido
provavelmente a nica organizao frentista internacional de orienta-
o comunista que alguma vez criticou a Unio Sovitica. Contudo, esse
pequeno gesto de autonomia, que j de si pecou por tardio, iria ser com-
pletamente anulado no decurso de uma reunio do Conselho realizada
alguns meses depois. Quando o representante de um sindicato maoista
japons se preparava para falar, foi-lhe desligado o equipamento de tra-
duo automtica, facto bem revelador da falncia desta organizao
precisamente no mesmo ano em que, por todo o mundo, o autoritaris-
mo e o conservadorismo eram postos em causa nas ruas.
A FSM continua, hoje, a existir, e a existir num duplo sentido, qual
deles o mais problemtico. Em primeiro lugar, existe sob a forma de um
nmero de escritrios modestos e de funcionrios modestamente pa-
gos, e de uma srie de congressos e de publicaes extraordinariamente
parecidos com os de h 30 anos atrs. Em segundo lugar, ela persiste
como mito, perpetuado por sindicalistas de esquerda, activistas militan-
tes, ou anti-imperialistas, bem como por alguns investigadores de es-
querda da nova gerao. Poderia pensar-se que estes buscam uma alter-
nativa CISL, fazendo-o, contudo, olhando para trs e para o lado em
vez de olharem para a frente. O nico sinal de que a FSM aprendeu
alguma coisa com as lutas travadas contra o capitalismo contempor-
neo foi a criao, em 2000, do seu website (v. Websites, no final). Mas
esse stio na Web tambm a prova viva de que a FSM continua a
estar fortemente dependente da participao de sindicatos controlados
pelo Estado, provenientes do que resta dos pases comunistas e do mun-
do rabe. Quanto ao mais, este resqucio da tradio romntica e
insurreccional mas tambm tpica do socialismo de Estado parece
querer regressar ao mundo dos Estados-nao que lhe esteve na origem.
A busca de alternativas CISL hoje marcada por preocupaes e
desafios de uma bem maior contemporaneidade. Um deles tem a ver
com aquilo que deve ser o papel de uma confederao literalmente
internacional em tempos de globalizao. A CISL uma instituio for-
malmente enfeudada a sindicatos de ndole nacional(ista), e enfeudada
tambm considerando o que sempre foi a sua poltica, historicamente
dominada pelo poder e pelo dinheiro aos seus membros mais ricos e
poderosos. Alm disso, situa-se no cume de uma estrutura em pirmide
que a coloca a uma distncia considervel e multiplamente filtrada
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 227
dos verdadeiros operrios, gente de carne e osso.
8
A CISL , ademais,
uma instituio solidamente incrustada num universo tradicional com-
posto por instituies inter-estatais, que dispende muitas das suas ener-
gias a fazer lbi junto destas. O segundo grande problema, a meu ver,
a invisibilidade da CISL. Pense-se no que uma organizao com 124
milhes de membros um nmero, ainda por cima, em expanso ,
mas com uma presena absolutamente nula na cultura e nos media glo-
bais, sejam eles dominantes, populares, ou alternativos.
A CISL est a mudar. A dimenso e os limites dessa mudana fica-
ram bem patentes aquando do seu Congresso do Milnio, realizado em
Durban, na frica do Sul, no ano 2000 (v. South African Labour Bulletin,
2000). Reflectindo sobre o evento pouco tempo aps a sua realizao,
Bill Jordan, Secretrio Geral da CISL, afirmou:
Lm poriodos do mudana rovoluclonrla, o num poriodo dossos quo nos
oncontramos ho|o, tomos quo sor capazos do ponsar o do aglr para alm da
camlsa do oras das nossas tradlos. Mals uma voz o movlmonto slndlcal
nocosslta do ldolas novas para azor aco aqullo quo sao as novas nocosslda-
dos do novos oporrlos, novas prolssos, novas ormas do organlzaao do
trabalho, o novas rolaos do omprogo. (}ordan, 2000)
O Congresso tomou, por isso, a deciso de submeter a organizao
a uma grande exame do milnio, por forma a fazer frente aos desafios
com que se v confrontada. A verdade, contudo, que no dispomos de
qualquer indicao de que tal exame ir ser levado a cabo na presena
sequer dos sindicatos seus filiados, e muito menos ainda com a partici-
pao dos membros desses sindicatos membros, nem aps consultas
com as organizaes democrtico-radicais e internacionalistas que a CISL
anda, presentemente, a cortejar.
Os Secretariados Profissionais Internacionais (SPIs), so as mais an-
tigas organizaes sindicais internacionais, atravessando actualmente
8. K|old Aagard }akobson (2001), Socrotrlo para as kolaos lntornaclonals da CU1, prlncl-
pal conodoraao slndlcal do osquorda do rasll, doondo mosmo quo tanto a ClSL como a lSM so
basolam no modolo bolchovlquo! Lm mlnha oplnlao, o roorldo modolo bolchovlquo nao sonao
uma adaptaao do clsslco modolo soclal-domocrata alomao. Quanto a ldola do comparar/con-
trastar os modolos o o padrao do comportamonto da ClSL o da lSM, om voz do as ostudar om
tormos do oposlao, tom todo o aspocto do um pro|octo do doutoramonto bonltlnho.
228 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
um processo de fuso, consolidao e redefinio. Tratarei aqui apenas
daquele que melhor conheo e sobre o qual mais se tem escrito. A Fede-
rao Internacional dos Trabalhadores dos Transportes teve origem na
vaga de protestos e de aces de mobilizao dos trabalhadores deste
sector que teve lugar especialmente na Europa da ltima dcada do
sculo XIX e das trs primeiras dcadas do sculo XX.
9
Durante o pero-
do entre as duas Grandes Guerras constituiu uma parte significativa do
internacionalismo sindical social-democrata que se ops ascenso do
fascismo ao mesmo tempo que mantinha a distncia relativamente
Unio Sovitica. Alm disso, a FITT afirmou-se por via da sua relao
com a OIT, criada para resolver o problema social que sobreveio I
Guerra Mundial. Apesar de ter ento passado a integrar os processos
internacionais de negociao colectiva, a FITT continuou a apoiar a mo-
bilizao de massas e as aces de mbito internacional na rea da in-
dstria. Alm disso, produziu (ou abrigou) um dirigente sindical social-
democrata de aprecivel estatura histrica e de grande relevncia para o
seu tempo: Edo Fimmen.
10
A organizao apoiou activamente os movi-
mentos antifascistas e sindicatos clandestinos no interior dos Estados
fascistas. Durante a II Guerra Mundial no s contribuiu de maneira
significativa para o esforo de guerra antinazi desenvolvido pelo Reino
Unido e pelos Estados Unidos como dele tambm recebeu apoio, desco-
brindo assim os benefcios da colaborao com os Estados democrtico-
liberais e com as respectivas actividades de espionagem.
11
A cooperao
9. asolo-mo aqul numa hlstorla coloctlva da ll11, constanto do um ostudo da rosponsablll-
dado do ob kolnalda (1997). v. alnda, no ontanto, lntornatlonal 1ransportworkors lodoratlon,
1996, o Coupor, 1999. lara uma vlsao mals posltlva do papol dos Slls .., mals uma voz, Callln
(1999a).
10. Dovo-so a llmmon um llvro surgldo nos anos 20 om quo (algo promaturamonto) so sus-
tontava quo o capltallsmo ouropou tlnha tondncla a unlr-so, o quo por osso motlvo a ldola do
uma conodoraao lntornaclonal do contros slndlcals azla monos sontldo, poranto as novas clr-
cunstnclas oxlstontos, do quo uma ormada por Slls (llmmon, 1924)!
11. Na sua corrospondncla partlcular, Dan Callln sugoro quo ol o lnvorso quo acontocou,
quor dlzor, quo oram os Lstados o os rospoctlvos dopartamontos ospoclallzados quom doscobrlu
quo ora nocossrlo cooporar com os slndlcatos o com os Slls, o quo, alm dlsso, os slndlcatos nao
tlnham outra altornatlva sonao acoltar ossa cooporaao, caso doso|assom sor olcazos na luta con-
tra o asclsmo. lossoalmonto, nao tonho ob|ocos a osta lntorprotaao. Acho, porm, proocupantos
as llmltaos o as lmpllcaos dossa cooporaao socrota. Com oolto, ola volo crlar um torrono do
oporaos lntornaclonals quo conorlu aos slndlcallstas com rosponsabllldados tambm lntorna-
clonals um sontlmonto do quo ostavam a dosomponhar um papol com uma lmportncla hlstorlca
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 229
da FITT com os servios de informao dos EUA durante a II Guerra
Mundial levou ao seu posterior envolvimento com a CIA durante a
Guerra Fria e em particular represso violenta dos sindicatos dos tra-
balhadores porturios comunistas na Frana e na Itlia, bem como
represso ainda mais violenta do sindicalismo comunista e radical-na-
cionalista na Amrica Latina e em frica.
Durante o meio sculo que se seguiu a 1945, a FITT evoluiu no
sentido de se transformar pelo menos num secundrio actor transna-
cional no contexto do sistema internacional (Reinalda, 1997). Espe-
cialmente significativa, neste aspecto, a prolongada campanha desen-
volvida pela FITT relativa aos trabalhadores da marinha mercante su-
bordinados s chamadas Bandeiras de Convenincia (BC), no que foi
considerado um modelo de internacionalismo sindical num contexto de
globalizao. Os navios BC encontram-se registados fora da alada das
autoridades governamentais ou dos sindicatos nacionais, junto de Esta-
dos especialmente receptivos aos interesses dos grandes armadores, e
as tripulaes so contratadas ainda noutros pases, a fim de assegurar
uma mo-de-obra barata. Nestas circunstncias, as aces concretas de
carcter solidrio tm muitas vezes partido de trabalhadores de fora desta
indstria especfica. A actividade da FITT no mbito das BC implica o
envolvimento da organizao em negociaes internacionais e traduz-se
no estabelecimento de acordos colectivos tambm de mbito internacio-
nal, incluindo um fundo para assistncia social cobrado pelos armado-
res mas gerido pela FITT. Graas a essas aces, a FITT conseguiu no
s recuperar milhes de dlares em salrios atrasados devidos s tripu-
laes, como tambm assegurar uma funo de assistncia adequada-
mente financiada. Hoje em dia, dezenas de inspectores porturios no-
meados pela entidade sindical ou por ela aprovados acompanham e
prestam apoio aos trabalhadores da marinha mercante por todo o mun-
do. Levanta-se, contudo, a questo de saber se o que aqui temos no
ser uma situao invertida, em que a FITT presta servios reconhecida-
mente valiosos a uma mo-de-obra terceiro-mundista que no exerce
qualquer controlo, directo ou sequer indirecto, sobre a entidade que a
beneficia.
a uma oscala mundlal, mas som a nocossldado do partlclpaao alargada dos rostantos mombros ou
qualquor conhoclmonto publlco.
230 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Historicamente, os trabalhadores porturios filiados na FITT de-
sempenharam um papel importante de solidariedade com estes traba-
lhadores da marinha mercante claramente provenientes de outros pa-
ses e outros sectores da indstria. Por outro lado, quando os trabalhado-
res porturios de Liverpool, tambm eles filiados na FITT, apelaram
solidariedade internacional no decurso da greve uma greve herica e
desesperada, mas nem por isso menos inovadora que em 1995-8 tra-
varam contra um ento triunfante neoliberalismo britnico, a FITT dis-
punha de pelo menos duas razes para lhes negar o seu apoio. A pri-
meira que eles eram, por assim dizer, sbditos de um determinado
filiado nacional da FITT, o British Transport and General Workers Union,
ele prprio relutante em apoiar plena e abertamente a greve. A segunda
razo que, dado o seu papel de agente interveniente na negociao
colectiva em nome de tripulaes internacionais das BCs, aquela organi-
zao encontrava-se registada como sindicato ao abrigo da legislao
laboral anti-sindical britnica, estando por isso impedida de empreen-
der as aces de solidariedade que lhe foram solicitadas sob pena de pr
em risco no s os fundos a seu cargo mas tambm as suas prprias
sedes. Um dos inspectores porturios da FITT na cidade de So Francis-
co demitiu-se, num gesto de pblico protesto contra a poltica da orga-
nizao relativamente greve.
No que respeita poltica de transportes internacionais, questo
que desde h muito preocupa a FITT, parece que esta ainda acredita
num sistema de transportes racional, cooperativo, e publicamente pla-
neado, objecto de um esforo de coordenao tanto nacional como inter-
nacional por forma a prestar um servio eficiente e integrado de trans-
porte de mercadorias e de passageiros. Dada a funo social desempe-
nhada pelos transportes, o seu planeamento deve prever a hiptese de
benefcios e custos sociais mais amplos. A FITT considera que as actuais
tendncias internacionais no sentido da liberalizao e da desregula-
mentao dos transportes constituem um passo atrs relativamente a
uma tal concepo de servio pblico. H que ter o engenho necess-
rio para encontrar um meio-caminho entre os extremos que so uma
indstria de transportes planificada e a sua completa liberalizao
(Reinalda, 1997: 31).
Esta poltica do meio-termo coloca a FITT lado a lado com os buro-
cratas e os tecnocratas mais racionais e de mais largas vistas da cena
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 231
internacional, ao mesmo tempo que aceita e que efectivamente assu-
me os parmetros do capitalismo. Tal facto, em si mesmo,
consentneo com uma viso burocrtica do internacionalismo enquanto
relao existente no tanto entre trabalhadores como entre organizaes
sindicais nacionais. A circunstncia de a FITT estar, efectivamente, a reco-
nhecer os movimentos sociais ora emergentes parece tambm sugerir
uma aliana com organizaes no governamentais (ONGs) de mbito
nacional e internacional, em vez do estabelecimento de contactos directos
entre trabalhadores e activistas de movimentos aliados. Se certo que
os SPIs ho-de continuar a existir, no h razes para pensar que se
encontram devidamente apetrechados para enfrentar os novos tempos.
So muitas as caractersticas que estas estruturas apresentam em co-
mum com a CISL. E se ainda possvel detectar-lhes restos de alguma
especificidade industrial tradicional, a verdade que elas esto a ser
objecto de uma rpida eroso devida s prprias alteraes registadas
na estrutura do capital e vaga de fuses em curso nos SPIs, em grande
parte motivadas por uma estratgia defensiva. Essas fuses s excep-
cionalmente lograro responder de maneira satisfatria esquiva geo-
metria do capital, que com rapidez crescente muda, hoje em dia, de lu-
gar, de produtos/servios, de propriedade, e de formas de emprego.
12
Estou convencido que tanto a CISL como a FITT viro forosa-
mente trazer elementos novos ao velho modelo de sindicalismo inter-
nacional. Quanto FSM, bem provvel que no venha a ser mais do
que um srio aviso daquilo que pode suceder quando no se capaz
de assumir a tradio, reconhecer as exigncias do presente, e proce-
der autoreformulao que se impe para enfrentar o futuro. Se no
quiser ficar para sempre refm do prprio passado, nostalgicamente
procurando um regresso a um suposto perodo ureo de parceria entre
a esfera do Trabalho, o Estado, e o Capital, o sindicalismo internacio-
12. Dostos, o pro|octo mals amblcloso talvoz aquolo quo ostonta tambm a doslgnaao
mals adoquada. a Unlon Notwork lntornatlonal (UNl kodo lntornaclonal do Slndlcatos), um
Sll do sorvlos o compotnclas. No ontanto, o como rooro o proprlo Congrosso para um Mun-
do Aborto (Cpon World Conoronco, 2000a), osta organlzaao nao so paroco convonclda do
podor azor ronto a vaga da globallzaao noollboral como ost ooctlvamonto a construlr um novo
tlpo do cllontola o do gostao slndlcal por orma a transormar-so num lntorlocutor vlldo do capltal
globallzado o das lnstltulos lntor-ostatals quo o sorvom. L, asslm, | possivol azor uma vlslta
vlrtual ao anco Mundlal som salr da sodo vlrtual do slndlcato.
232 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
nal ter seguramente de chegar a um entendimento do internaciona-
lismo operrio consentneo com a desordem capitalista globalizada
em que vivemos.
13
2. Como conccbcr um novo intcrnacionaIismo opcrrio
cada vez mais frequente ouvir-se falar, tanto nos meios acadmi-
cos como nos sindicais, de uma espcie de sindicalismo de movimento
social com mbito internacional ou global (Ashwin, 2000; Bezuidenhout,
1999; Moody, 1997). Ao mesmo tempo, contudo, existe uma estranha
relutncia em conceptualizar esta tendncia (e, nesse aspecto, Munck,
2000, constitui, em parte, uma excepo). Vou, por isso e tambm no
propsito de provocar uma reaco crtica , apresentar aqui trs esbo-
os de conceptualizao inter-relacionados entre si e que se me afigu-
ram relevantes para esta questo.
Um novo sindicalismo social.
14
Entendo que um modelo deste tipo
dever ser um modelo capaz de superar os modelos de sindicalismo
econmico, poltico, ou poltico-econmico actualmente existen-
tes. Para tanto, necessrio que tenha em linha de conta todos os tipos
de actividade laboral, que assuma formas socioculturais, e que esteja
voltado para a sociedade civil. Um modelo sindical deste tipo dever,
alm disso, apresentar, entre outras, as seguintes caractersticas:
13. H poucos lndiclos do quo osto novo ontondlmonto osto|a para brovo. A ClSL ost
actualmonto ldontllcada com o lacto Clobal da CNU, um tontatlva das Naos Unldas no
sontldo do calr nas boas graas do capltal multlnaclonal o do ao mosmo tompo lho conorlr uma
aura tlca. lntorvlndo a proposlto do mundo do trabalho, Kol Annan, prosldonto da CNU, po-
dlu as gontos da roa dos nogoclos a nivol mundlal quo doondossom um con|unto do prlnciplos
do quo so oncontra oxcluida qualquor oxpllcltaao do dlrolto a grovo (lCl1U, 2000a, b). A ClSL
paroco lgualmonto ostar a ganhar as boas graas dossa grando potncla mundlal do uturo quo a
Chlna, nao obstanto a avorsao dosto pais aos dlroltos dos trabalhadoros o a lndopondncla dos
slndlcatos (Chlna Labour ullotln, 2000). llnalmonto, a ClSL o alguns Slls ostao tambm aposta-
dos na ldola do lxar uma clusula soclal ou padros laborals atravs da Crganlzaao Mundlal
do Comrclo, aposar do crosconto doscrdlto om quo tm caido osta o outras lnstltulos lnancol-
ras lntornaclonals (Cumbroll-McCormlck, 2000. 508-15, Watorman, 2001b).
14. Dolxo o concolto do slndlcallsmo do movlmonto soclal, a quo lnlclalmonto lz roorn-
cla, para aquolos quo, como voromos adlanto, conorlram a oxprossao uma ampla pro|ocao,
alnda quo traduzlda om tormos mals tradlclonals ou clsslcos.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 233
Deve centrar a sua luta na rea do trabalho assalariado, comba-
tendo no apenas por melhores salrios e melhores condies mas tam-
bm pelo aumento do controlo, por parte dos trabalhadores e dos sindi-
catos, do processo laboral e das polticas relacionadas com o investi-
mento, a inovao tecnolgica, a relocalizao, a subcontratao, as po-
lticas de educao e formao. Estas estratgias, bem como as lutas ine-
rentes, devero ser levadas a cabo em permanente dilogo e em aco
combinada com as comunidades afectadas e tendo em conta os respecti-
vos interesses, de maneira a evitar conflitos (por exemplo com grupos
ambientalistas ou de mulheres) e a maximizar o poder mobilizador das
reivindicaes;
Deve bater-se contra os mtodos e as relaes de trabalho de
tipo hierrquico, autoritrio e tecnocrtico, a favor de produtos social-
mente teis e amigos do ambiente, assim como pela reduo do horrio
de trabalho, pela distribuio do disponvel e do necessrio, pela parti-
lha do trabalho domstico, e pelo aumento do tempo livre com vista ao
autodesenvolvimento cultural e realizao pessoal;
Deve manter uma relao estreita com os movimentos de outras
classes ou categorias no sindicalizadas ou no passveis de sindicaliza-
o (o sector informal, os que trabalham a partir de casa, os agricultores,
as donas-de-casa, os tcnicos e as profisses liberais);
Deve manter uma relao estreita com outros movimentos de-
mocrticos, de natureza no-classista ou multiclassista (como sejam
movimentos de base associados igreja, movimentos de mulheres, de
moradores, de ambientalistas, de pacifistas, de direitos humanos, etc.),
num esforo comum com vista criao de uma sociedade civil forte e
diversificada;
Deve manter uma relao estreita com outros (potenciais) alia-
dos, sempre com o estatuto de parceiro autnomo, igual e democrtico,
no reivindicando para si nem aceitando subordinar-se a qualquer
organizao ou poder de vanguarda ou soberano;
Deve fazer suas as novas causas sociais que forem surgindo na
sociedade em geral, medida que estas se forem colocando aos traba-
lhadores em particular ou se expressem no interior do sindicato (causas
como a luta contra o autoritarismo, o majoritarismo, a burocracia, o se-
xismo, o racismo, etc.);
234 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Deve privilegiar a democracia no local de trabalho e promover
as relaes directas e de tipo horizontal, seja entre os trabalhadores
propriamente ditos, seja entre estes e outras foras sociais democrti-
co-populares;
Deve mostrar-se activo na rea da educao, da cultura e da
comunicao, estimulando a cultura operria e popular, apoiando ini-
ciativas tendentes a fortalecer a democracia e o pluralismo tanto dentro
como fora das instituies ou dos media dominantes, seja no plano local,
nacional ou global;
Deve abrir-se ao funcionamento reticular intra- e inter-organiza-
cional, dando mostras de compreender a importncia que as associa-
es, as alianas e os grupos de interesses, constitudos numa base in-
formal, horizontal e flexvel, podem ter para estimular a inovao, o
pluralismo e a democracia organizacional.
Diversos autores, ao longo dos anos, tm identificado o sindicalis-
mo de movimento social com 1) certas organizaes nacionais especfi-
cas, 2) certas tendncias sindicais de cariz militante ou de esquerda, e
3) o Sul.
15
Isto, em minha opinio, errado no s do ponto de vista
analtico como tambm do ponto de vista terico e estratgico. Do ponto
de vista analtico, tende a identificar como sendo sindicatos do tipo mo-
15. Ao alrm-lo tonho om monto, antos do mals, os toxtos do Lambort o Wobstor (1988)
sobro a Arlca do Sul do aat|e|J, Munck (1988. 117) sobro o 1orcolro Mundo om goral, Soldman
(1994. 2-3) sobro a Arlca do Sul o o rasll, o Sclpos (1996. vlll-lx) sobro as llllplnas. Munck (2000.
93-4) proclsou um pouco mals a sua ormulaao, conorlndo-lho uma acopao mals lata. Quanto
aos domals autoros, nonhum props uma (ro)ormulaao mals ampla do concolto. Lxtromamonto
lnluonto, nos tompos mals rocontos, | a utlllzaao quo Moody az do tormo, no sou lmprosslo-
nanto rotrato da sltuaao do mundo do trabalho a oscala global (1997). Com oolto, o ultlmo
capitulo dosta obra lntltula-so lara um Slndlcallsmo do Movlmonto Soclal com Amblto lntorna-
clonal! No ontanto, o rolato quo Moody nos ooroco dosto onomono nao mals quo uma doscrl-
ao/proscrlao do um slndlcallsmo mals actlvlsta o domocrtlco, alnda capaz do assumlr o papol
do dlrocao da classo oporrla na luta contra o noollborallsmo (290). Asslm, ombora aprogoando
um slndlcallsmo mals loxivol, aborto o lntornaclonallsta, a proposta dosto autor acha-so alnda
tolhlda polos prossupostos obrolrlstas tradlclonals. Soattlo (.. abalxo) volo mostrar como, sob o
capltallsmo CCl, uma rodo do movlmontos soclals ost om condlos do assumlr uma porspoctlva
mals abrangonto o uma ostratgla mals solstlcada o mals mllltanto do quo as quo caractorlzam os
trabalhadoros ou os proprlos slndlcatos lsoladamonto. Asslm, a alrmaao do papol do vanguarda
da classo oporrla na luta contra o noollborallsmo podo rovolar-so um gosto omplrlcamonto orrado
o proscrltlvamonto contraproduconto.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 23S
vimento social as organizaes sindicais envolvidas em diversos tipos
de aliana popular-laboral, sobretudo em tempos de movimentaes
(semi-)insurreccionais contra regimes autoritrios militares ou de direi-
ta. Do ponto de vista terico, tende a reduzir uma categoria conceptual a
analtica, impedindo desse modo que seja aplicada criticamente evi-
dncia oferecida. Do ponto de vista estratgico, tende a tom-la como
caracterstica de uma regio especfica do mundo e isso numa altura
em que a globalizao homogeniza/diversifica o mundo de maneiras e
formas que simultaneamente exigem e possibilitam a procura de alter-
nativas universais (que no universalistas).
Um novo internacionalismo operrio. Preocupado com os problemas
do capitalismo GCI (de que as relaes inter-estatais constituem apenas
um aspecto), este modelo ter que ter conscincia de que faz parte de
um movimento de solidariedade global, com o qual tem a aprender e
para o qual deve contribuir. Um novo tipo de internacionalismo operrio
implicar, entre outras coisas, o seguinte:
Deve passar do plano das relaes internacionais entre sindica-
tos ou funcionrios sindicais para o plano das relaes face-a-face entre
as partes interessadas e directamente ligadas ao mundo laboral, seja ao
nvel do prprio local de trabalho, da comunidade, ou de outras organi-
zaes de base;
Deve abandonar o modelo de organizao internacional em for-
ma de pirmide um modelo por demais centralizado, burocrtico e
rgido , estimulando para tanto o modelo dinmico, descentralizado,
horizontal, democrtico e flexvel que caracteriza as redes de informa-
o internacionais;
Deve trocar o modelo da ajuda (fluxos unidireccionais de di-
nheiro e bens provindos de sindicatos, trabalhadores ou outras entida-
des ricas, poderosas e livres) pelo modelo da solidariedade (fluxos
bi- ou multidireccionais de apoio em termos polticos, de informao e
de ideias);
Deve passar das meras declaraes de intenes, dos apelos p-
blicos e dos congressos bem intencionados, para se traduzir em aces
polticas, em trabalho criativo, em visitas ou ainda em contributos fi-
nanceiros directos (que continuaro a revelar-se necessrios) por parte
dos trabalhadores interessados;
236 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Deve procurar que a solidariedade internacional seja praticada
em funo das carncias quotidianas, das capacidades e dos valores ex-
pressos da populao trabalhadora comum, e no apenas dos seus re-
presentantes;
Deve reconhecer que embora a esfera do trabalho no seja o
arauto privilegiado do internacionalismo, ele lhe , no entanto, essen-
cial, articulando-se por isso com outros internacionalismos democrti-
cos por forma a reforar as lutas pela melhoria de salrios e a ir para
alm do mero internacionalismo obreirista;
Deve ultrapassar a dependncia ideolgica, poltica e financeira
da solidariedade internacional. Para tanto, deve procurar financiar as
actividades internacionalistas com recurso a fundos pblicos ou a con-
tributos dos trabalhadores, e prosseguir actividades de investigao e
uma orientao poltica independentes;
Deve trocar os constrangimentos poltico-financeiros, os conluios
privados e os silncios pblicos dos internacionalismos tradicionais por
um discurso entre iguais que seja franco, amistoso, construtivo e pbli-
co, alm de acessvel a todos os trabalhadores interessados;
Deve reconhecer que no existe um lugar ou um nvel exclusivo
para o combate internacional, e que embora o ponto de partida para
esse combate possa ser o local de trabalho, as organizaes de base ou a
comunidade, as instncias formais de tipo tradicional podem ser igual-
mente utilizadas e, inclusivamente, influenciadas;
Deve reconhecer que o desenvolvimento de um novo interna-
cionalismo obriga a ir colher contributos aos movimentos de trabalha-
dores do Ocidente, do Leste, do Sul e de outras regies scio-geogrfi-
cas, com os quais se impe igualmente a constante troca de ideias.
possvel ver elementos deste modo de pensar tanto nas declara-
es como na prtica das instncias sindicais internacionais. Considero,
de resto, que ele se est a transformar no senso-comum do internaciona-
lismo operrio de esquerda (v., por exemplo, Lambert, 2001), apesar de
haver ainda quem parea achar que o internacionalismo operrio (ou
mesmo sindical) quem lidera, ou devia liderar, a nova vaga de lutas
contra a globalizao neoliberal (Open World Conference, 2000a). Ou-
tros, no entanto, comeam hoje a ir alm desses tipos ideais, propondo
alternativas globais alternativas de carcter democrtico e operrio/
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 237
popular globalizao-a-partir-de-cima, tanto em termos progra-
mticos como em termos relacionais (Brecher et al., 2000).
Impe-se uma ltima palavra no sentido de melhor clarificar e dis-
tinguir os conceitos de internacionalismo, internacionalismo oper-
rio, e internacionalismo sindical. No discurso dos movimentos so-
ciais, o internacionalismo normalmente associado ao mundo operrio
do sculo XIX, ao socialismo e ao marxismo. Podemos, inclusivamente,
faz-lo recuar no tempo, por forma a abranger os antigos universalis-
mos religiosos ou o cosmopolitanismo liberal do Iluminismo. E devemos
faz-lo avanar no tempo, de maneira a incluir formas como as lutas das
mulheres/feministas, dos pacifistas, das foras anticoloniais, e em prol
dos direitos humanos. Dado tratar-se destes dois ltimos sculos, e de
um mundo de Estados-nao, precisamos de uma palavra nova para
referir a era da globalizao. Alguns autores falam de transnacionalismo.
Eu prefiro a expresso solidariedade global, por traduzir no apenas a glo-
balizao mas tambm o mal-estar que provoca e as alternativas que se
nos colocam. Quanto ao internacionalismo operrio, refere um vasto leque
de ideias, estratgias e prticas, passadas e presentes, relacionadas com
a realidade da esfera do trabalho, e que vo desde a actividade das coo-
perativas e dos partidos operrios e socialistas at ao papel dos intelec-
tuais socialistas e cultura, passando pelos meios de comunicao e,
inclusivamente, pelo desporto. Quanto ao internacionalismo sindical, res-
tringe-se forma preferencial de auto-articulao dos trabalhadores (quer
dizer, de auto-organizao e auto-expresso) durante o perodo NIC.
Na parte final do sculo XX, o internacionalismo sindical desalojou ou
sobrepujou o internacionalismo operrio a tal ponto que os dois termos
acabaram, em grande parte, por se tornar sinnimos. Contudo, nesta
nossa era de capitalismo GCI precisamente o internacionalismo sindi-
cal que se encontra mais em crise e que mais posto em causa.
Na seco que se segue irei debruar-me luz do que atrs
ficou exposto sobre os modos como a esfera do trabalho a nvel
internacional, ou o internacionalismo operrio, est ou no a conse-
guir dar resposta aos novos movimentos de solidariedade global. Mais
uma vez, a anlise continuar a centrar-se nas instituies sindicais
internacionais de tipo tradicional, bem como na questo das formas e
dos procedimentos.
238 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
3. O DiIogo do MiInio sobrc a Isfcra do TrabaIbo a NvcI
lntcrnacionaI
Dilogo do Milnio sobre a Esfera do Trabalho a Nvel Internacio-
nal o nome que dou a algo que existe no plano emprico e que me
proponho aprofundar no plano programtico. No perodo 1999-2000 as-
sistimos a um nmero crescente de dilogos sobre a esfera do trabalho e
a globalizao, quer entre os sindicatos, quer entre os trabalhadores pro-
priamente ditos, quer ainda entre as foras socialistas ou no meio acad-
mico. Torna-se evidente que tais dilogos foram estimulados pela cir-
cunstncia de o final do milnio ter coincidido com aquilo a que chama-
mos crise da globalizao. Esta expresso, por sua vez, designa no
apenas a crise que a esfera do trabalho atravessa mas tambm a que carac-
teriza o prprio projecto da globalizao neoliberal enquanto tal. Entre os
congressos que sobre o tema tiveram lugar, de salientar, antes de mais,
essa grande iniciativa internacional que foi a Conference on Organised
Labour in the 21st Century (COL21 Congresso sobre Organizao
Sindical no Sculo XXI; v. Websites, no final). Promovido pela CISL e pela
OIT nos anos de 1999-2000, foi um congresso electrnico de carcter
aberto e bilingue. Por outro lado, tenho conhecimento, sobretudo nesse
mesmo perodo de 1999-2000, de nove ou dez outras realizaes inter-
nacionais relacionadas com o mundo do trabalho e centradas na temti-
ca neoliberalismo/globalizao. Neste caso, tratou-se de iniciativas quase
sempre perifricas ou transversais, ou exteriores s estruturas sin-
dicais internacionais de tipo tradicional.
COL21: dilogo de qual milnio? No obstante o formato electrnico,
a possibilidade de acesso internacional, e o carcter aparentemente aberto,
trata-se de facto de um dilogo em larga medida espartilhado pela pr-
pria histria dos seus dois patrocinadores e pelo interesse de ambos em
preservar ou restaurar a centralidade que j detiveram no panorama
das relaes laborais internacionais. Com uma excepo apenas a de
Richard Hyman (1999a), especialista de esquerda em assuntos do traba-
lho , as declaraes introdutrias tanto dos convidados como dos pa-
trocinadores institucionais ativeram-se aos tradicionais parmetros dis-
cursivos das relaes industriais, da parceria social e do desenvol-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 239
vimento. Outras palavras-chave, como por exemplo a solidariedade
internacional, a CISL e a OIT sem dvida fulcrais, todas elas,
para o futuro do trabalho sindical organizado , no foram objecto de
discusso, e muito menos de questionao. Numa primeira anlise do
que se passou no COL21, diria que da lista dos participantes constavam
os suspeitos do costume: indivduos de raa branca, de provenincia
anglo-saxnica, e do sexo masculino (o mesmo se passando inicialmen-
te com os proponentes da agenda, se se exceptuar o caso do chileno
Juan Somavia, Director Geral da OIT). A maioria das comunicaes de
fundo feitas a solicitao da OIT limitaram-se ao tpico os-sindicatos-e-
a-globalizao-no-meu-pas. No obstante os contributos plenos de in-
formao, e a ocasional assuno de posies crticas por parte de algu-
mas intervenes, foi pouca ou nenhuma a reaco s declaraes de
abertura, alm de no se notar que houvesse dilogo entre os partici-
pantes. Aquando do lanamento do stio de lngua espanhola na Web,
a maior parte das mensagens foi de cumprimentos. Se posteriormente
este mesmo stio ganhou mais vida, foi provavelmente por ter passado
a contar com uma responsvel mais dinmica.
16
Alm disso, alguma in-
dagao posteriormente levada a cabo a ttulo pessoal, tanto nas Amri-
cas como na Europa Ocidental, de molde a sugerir que os especialistas
em assuntos do trabalho a nvel internacional, e nomeadamente os de
orientao mais crtica, no se manifestaram particularmente interessa-
dos em participar nesta experincia, ainda que o possam ter feito com o
estatuto de observadores mudos (isto , atravs de uma participao
passiva). Nada disto, porm, significa que a experincia deve ser des-
prezada. Pelo contrrio, a presente crtica deve ser entendida como uma
provocao no sentido de que se empreenda uma investigao sistem-
tica sobre o COL21, incluindo o respectivo patrocnio e gesto, os temas
tratados, os discursos, a participao e o impacto, e ainda as semelhan-
as/diferenas entre o stio ingls e o espanhol. A questo fundamental,
em suma, que (e aqui atrevo-me a falar tambm pelo leitor) necessita-
16. Aposar das dlvorsas tontatlvas quo lz para azor chogar ao CCL21 monsagons do dloron-
tos tlpos o do oxtonsao varlvol, o aposar alnda das dlvorsas promossas do quo uma dolas sorla
dlvulgada, lovou quaso um ano at quo tal sucodosso ooctlvamonto so bom quo no sitlo ospa-
nhol da Wob, o om lngls!
240 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
mos urgentemente de um stio de discusso desse tipo, pois que na ver-
dade ele ainda no existe.
17
Os congressos no-oficiais: que dilogo do milnio? Aos sete congres-
sos a que atrs aludi h que acrescentar um importante precedente,
realizado em 1988, e dois outros eventos surgidos j numa fase mais
tardia, no final de 2000.
18
Estas iniciativas tm vindo a ter lugar nas
17. Uma possivol oxcopao sor a Labor-Llst, do San Lanranco (.. \eos|tes, no lnal), ondo |
houvo lugar a uma ou duas dlscussos aproundadas sobro cortos tomas rolaclonados com o mun-
do do trabalho a nivol lntornaclonal. llca-mo, no ontanto, a lmprossao do quo os partlclpantos
dosta llsta do dlscussao ou nao ostao lntorossados om dobator as quostos rolaclonadas com as
organlzaos o as lnstltulos lntornaclonals, ou sontom-so pouco proparados para o azor.
18. Soguo-so a llsta dostas lnlclatlvas, do quo so ornocom as rospoctlvas ontos, quando
dlsponivols, no lnal do prosonto artlgo.
Um ovonto pr-mllnlo, patroclnado om 1998 polo Slndlcato Coral dos 1rabalhadoros
Dlnamarquosos por ocaslao do um anlvorsrlo o subordlnado ao toma Lna No.a ^geoJa G|ooa|.
|esect|.as e |stateg|as aa o Secu|o \\|,
Uma lnlclatlva roallzada no rasll, om Sotombro do 1999, sob o patrocinlo do slndlcatos
o com o titulo |ocooto \uoJ|a| Coota a G|ooa||zaao e o Neo||oea||sno,
Uma lnlclatlva trotskysta lntltulada Coogesso aa un \uoJo ^oeto en |e|esa Jos ||-
e|tos |enoct|cos e Ja |oJeeoJeoc|a Jos S|oJ|catos, roallzada na cldado do Sao lranclsco, om
lovorolro do 2000,
Uma lnlclatlva do mblto naclonal o carctor slndlcal/acadmlco/ormatlvo, roallzada om
Mllwaukoo, Wlsconsln, om Abrll do 2000 sob a doslgnaao Os S|oJ|catos e a |cooon|a G|ooa|. ^
|ocuz|||aJa Ja |onaao S|oJ|ca|,
A sogunda odlao do um ostlval/congrosso lntornaclonal sobro a osora do trabalho o os
neJ|a oloctronlcos na ora da globallzaao, lntltulado |aoou\eJ|a99 o roallzado om Soul, om
Novombro do 1999,
Um congrosso sobro O S|oJ|ca||sno oo Secu|o \\|, organlzado om }oanosburgo, om Cutu-
bro do 1999, pola lnlclatlva do Sul sobro a Cloballzaao o os Dlroltos Slndlcals (SlC1Uk),
Um congrosso lntornaclonal com o titulo Coostu| un \o.|neoto S|oJ|ca| aa una \u-
Jaoa kaJ|ca|, organlzado om Colonla, na Alomanha, om Maro do 2000, por lnlclatlva do uma
ontldado basoada om Amostordao, a 1ransnatlonals lnormatlon Lxchango, o quo ontro os sous
prlnclpals toplcos contou com o toma Um Novo lntornaclonallsmo:,
Um somlnrlo sobro O ^ctua| |aooana Jas |stutuas S|oJ|ca|s |oteoac|ooa|s. No.os |esa-
||os e |stateg|as S|oJ|ca|s en |ace Ja G|ooa||zaao, organlzado na Cldado do Mxlco om Novombro
do 1999 o com contrlbutos ostrangolros/lntornaclonals. Aposar do dlrlgldo a um publlco naclonal,
osto somlnrlo partllhou das proocupaos o orlontaos das lnlclatlvas atrs monclonadas,
Um \o|s|o sooe os ||e|tos |oteoac|ooa|s Jos !aoa||aJoes e a So||Ja|eJaJe Oe-
|a |oteoac|ooa|, roallzada no Wollosloy Collogo, na roglao do oston, LUA, om Novombro do
2000 com o ob|octlvo do proplclar a troca aproundada do oplnlos ontro ospoclallstas das unlvor-
sldados, dos slndlcatos o das CNCs o lnclulndo partlclpantos da Asla, da Amrlca Latlna o do
outras partos do mundo,
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 241
margens ou nas bases institucionais, polticas, educativas e
acadmicas das estruturas sindicais internacionais. A maioria teve lu-
gar em pases tradicionalmente do centro do capitalismo, mas em vrios
casos (Coreia, frica do Sul, Mxico, Brasil) no foi assim. Alm disso,
na maior parte dos casos em que as realizaes tiveram lugar nos EUA,
e tanto quanto do meu conhecimento, houve participao de membros
de pases do Sul, s excepcionalmente havendo participantes dos anti-
gos pases comunistas.
J tive oportunidade, noutro local, de comentar um congresso/rede
deste tipo (Waterman, 1999a), pelo que de momento me limitarei ao Con-
gresso para um Mundo Aberto em Defesa dos Direitos Democrticos e
da Independncia dos Sindicatos (CMA), realizado na cidade de So
Francisco entre 11 e 14 de Fevereiro de 2000 (OWC Open World
Conference, 2000b). Foi este, muito provavelmente, o maior de todos os
eventos de carcter informal, com 560 participantes provenientes de 56
pases, 200 dos quais de fora da Amrica do Norte. Tratou-se de uma
iniciativa trotskysta com intervenes a cargo dos dirigentes do partido
organizador, mas onde esta dimenso esteve atenuada e que conseguiu
envolver pessoas situadas fora da esquerda tradicional. Alm disso, foi
inteiramente financiada por sindicatos e por organizaes ligadas a
movimentos comunitrios e laborais, o que permitiu reunir a soma de
11 a 14 mil dlares necessria realizao do evento. Foram nove os
painis realizados, dedicados aos mais variados tpicos: mulheres tra-
balhadoras, trabalhadores imigrantes, privatizao e desregulamenta-
o, sociedade civil e ONGs, paz e autodeterminao, racismo e direitos
democrticos, integrao dos sindicatos nas estruturas empresariais e/
ou estatais (a todos os nveis), o mundo do trabalho e o ambiente. Alm
disso, o congresso debruou-se atentamente sobre a ONU e a OIT, consi-
derando que tanto uma como outra tm vindo a abandonar o papel que
tradicionalmente lhes cabe e a deixar-se assimilar, numa posio subordi-
nada, no projecto de globalizao neoliberal (Sandri, 1999). Tratou-se,
em suma, de uma iniciativa notvel e at herica, reveladora da capaci-
dade de um partido socialista de vanguarda de tipo tradicional para
Labor1LCH 2000. |aa Coostu| un No.o S|oJ|ca||sno G|ooa| ata.es Jos \eJ|a, Unlvor-
sldado do Wlsconsln, Madlson, LUA, 1 a 3 do Dozombro do 2000. C ultlmo do uma srlo do
ovontos dosto tlpo com alcanco lntornaclonal o um indlco do partlclpaao slgnllcatlvo.
242 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
enfrentar a globalizao neoliberal de uma maneira enrgica, ampla e
com dimenso internacional. A acrescentar a esse facto, ficou demonstra-
do que h organizaes representativas de centenas de milhares de mem-
bros dispostas a responder a um apelo deste gnero. Finalmente, o CMA
viria ainda a criar o seu prprio stio e a produzir um vdeo e relatrios
impressos sobre os trabalhos (v. Vdeos, no final), encontrando-se mui-
tos destes materiais traduzidos para outras lnguas.
Quero, no entanto, levantar algumas questes sobre certos aspec-
tos deste evento, alguns deles comuns aos outros congressos alternati-
vos j mencionados, outros semelhantes ao prprio congresso da CISL.
O primeiro o carcter defensivo de que se revestiu, e desde logo a partir
do ttulo. A linguagem utilizada a linguagem da resistncia militante:
denunciar, preservar, desviarmo-nos das () tentativas de
cooptar, responder aos ataques, lutar contra, defender, travar,
re-nacionalizar, recusar. No se vislumbra aqui qualquer sinal da
passagem (para usar a terminologia feminista da Amrica Latina) da
oposio proposio. O segundo aspecto o pressuposto de que a
classe trabalhadora a vtima principal do neoliberalismo. A expresso
classe trabalhadora , assim, alargada por forma a abarcar todos os
pobres (mulheres, agricultores, povos indgenas, residentes urbanos),
negando-se deste modo a estes qualquer outro interesse ou identidade
significativos para alm dos de trabalhadores pertencentes ao sexo mas-
culino, a sindicatos e ao mundo urbano. Daqui decorre o terceiro aspec-
to, que o pressuposto segundo o qual o movimento sindical inter/
nacional , ou dever ser, a fora dirigente necessria para proceder
inverso (sic) do neoliberalismo. E o pressuposto de que todas as insti-
tuies no-tradicionais sejam as ONGs, a sociedade civil, a
chamada globalizao, e mesmo as fuses de sindicatos a nvel nacio-
nal ou internacional so, objectivamente, instrumentos do inimigo de
classe, e que s vm enfraquecer ou confundir a luta de classes (isto
tanto mais paradoxal quanto o CMA, ou a fora que lhe subjaz, o Inter-
national Liaison Committee Comit de Ligao Internacional, CLI ,
, ele prprio, uma ONG). Um sexto aspecto a referir so as lacunas im-
portantes. Apesar de haver uma sesso sobre/de mulheres, a nica rei-
vindicao do congresso neste domnio teve a ver com um mecanismo
da OIT relativo s licenas de parto; no foi feita qualquer meno ao
assdio sexual e aos direitos que lhe esto associados, nada sendo dito
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 243
portanto tambm a respeito da questo do patriarcado no interior tanto
do movimento sindical inter/nacional como do prprio CLI/CMA. E
apesar de ter havido uma proposta feita por uma mulher no sentido da
criao de um comit internacional de mulheres operrias, a ser dirigido
por mulheres, no saiu dos trabalhos qualquer referncia ao feminismo,
no obstante este ser sem dvida a principal fora terica e ideolgica a
conferir forma e impulso s lutas das mulheres trabalhadoras a nvel
internacional ao longo dos ltimos 20 anos. No se ouviu e este o
stimo aspecto que pretendo referir qualquer crtica ao sindicalismo
internacional de tipo tradicional propriamente dito.
19
Finalmente, e em
conformidade com isto, no houve nenhum painel nem nenhuma de-
clarao e muito menos houve qualquer discusso sobre o signifi-
cado do internacionalismo, seja no passado ou no presente, seja ao nvel
dos sindicatos, da esfera do trabalho, do movimento socialista, ou a n-
vel mais geral. O congresso foi, em resumo, marcado no s por uma
atitude de radical oposicionismo como tambm pela ideologia do
obreirismo/classismo. O internacionalismo que l houve foi em grande
parte, e por defeito, o do perodo NIC.
Atrevo-me a fazer uma generalizao ou, se se preferir: a avan-
ar com uma proposio respeitante s realizaes de tipo informal:
por norma elas tm os ps assentes na nova terra da globalizao neoli-
beral, mas muitas vezes tm a cabea no mundo das velhas ideologias e
instituies. Isto deve, obviamente, entender-se como uma crtica, mas
deve ser tambm uma constatao. A maioria destes eventos, apesar de
frequentemente inovadores, tem nos respectivos organizadores e parti-
cipantes pessoas que ainda parecem sentir-se mais vontade com os
discursos do imperialismo ou do nacional-proteccionismo; que conti-
nuam agarradas ideia de que as estruturas sindicais (e/ou o partido
trabalhista/socialista) so as principais ou as nicas instituies a ter
em conta na luta contra a globalizao; que concebem o internacionalis-
mo em termos de relaes entre sindicatos nacionais, locais, ligados
19. As critlcas ao slndlcallsmo lntornaclonal quo so lzoram ouvlr dlrlglram-so as oo.as ormas
por osto assumldas, o partlcularmonto a | roorlda kodo lntornaclonal do Slndlcatos. Lmbora
houvosso critlcas a contral norto-amorlcana AlL/ClC, nomoadamonto om conoxao com Soattlo, o
CLl/CMA dovo tor-so sontldo pouco a vontado para crltlcar organlzaos as quals os partlclpantos
dovlam loaldado.
244 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
indstria, ou baseados na realidade da empresa; e que entendem o di-
logo internacional como uma troca de experincias, e o plano nacio-
nal, as mais das vezes, como terreno privilegiado ou exclusivo da resis-
tncia e da reafirmao. As prprias metodologias no obstante, por
vezes, as intenes em contrrio tendem a reproduzir as prticas que
tradicionalmente caracterizam a actividade sindical e partidria. Alguns
destes projectos ainda consideram que so a voz privilegiada do novo
internacionalismo operrio (o congresso da vanguarda? A rede da van-
guarda?). E mesmo quando no tm tais pretenses, no parecem dar-se
conta ou ter conscincia da existncia dos demais, ainda que com eles
coincidam no objecto da reflexo e nos propsitos, e inclusivamente
quando alguns dos seus participantes marcam presena em uma ou mais
iniciativas das outras. Tudo isto no s pode como provavelmente deve
ser entendido como um sinal 1) da novidade que so as redes e a conec-
tividade reticular, e 2) da persistncia do choque trazido pela globaliza-
o, numa altura em que os activistas inter/nacionalistas militantes lan-
am mo de ferramentas velhas no seu esforo para desalojar um capi-
talismo radicalmente transformado e que por isso mesmo (tal como aci-
ma se indica) exige ferramentas radicalmente transformadas tambm.
Tudo isto, a meu ver, so razes suficientes para no se equacionar
as referidas iniciativas informais em oposio ao COL21, ou mesmo s
Conferncias do Milnio organizadas pela CISL. Talvez que em certos
aspectos, em determinados domnios e nalguns dos temas tratados, a
CISL esteja frente do CMA (como por exemplo na questo das mulhe-
res e nas relaes com as ONGs). Considero, por isso, que devemos an-
tes encarar todos estes congressos como um espao internacional novo e
uno, uma gora (uma espcie de praa pblica, lugar simultaneamente
de encontro e de troca) de que se impe fazer o novo mapa e de que est
ainda por traar o quadro completo.
4. Comunicacs, cuItura c computadorcs:
do cspao ao cibcrcspao:
A necessidade de conferir uma forma comunicacional/cultural e
electrnica esfera do trabalho e sua faceta internacionalista tornou-se
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 24S
agudamente patente por ocasio da Batalha de Seattle contra a Orga-
nizao Mundial do Comrcio nos finais de 1999. A iniciativa de realizar
a manifestao partiu de uma rede de ONGs ou, melhor dizendo, de
uma rede de redes de ONGs. Houve uma participao significativa de
representantes do mundo do trabalho a nvel internacional, incluindo
dos EUA, mas tanto quanto sei nem uns nem outros desempenharam
qualquer papel na conduo deste acontecimento ou na definio da
sua natureza. De facto, o que se passou foi exactamente o inverso. Os
participantes e os observadores internacionais ligados a estruturas sin-
dicais mantiveram-se, por norma, afastados das partes do evento em
que no participavam ou que no controlavam. A mobilizao a nvel
internacional foi levada a cabo, em grande parte, atravs da Internet. As
aces de protesto estiveram em larga medida a cargo da Direct Action
Network (Rede de Aco Directa), com quem as pessoas receberam treino
em formas de aco flexveis e articuladas. Naomi Klein (2000) descreveu
do seguinte modo toda a novidade e riqueza deste multifacetado evento:
Nao obstanto (.) a sua baso comum, ostas campanhas nao conlulram no
sontldo do um movlmonto unlco. lolo contrrlo, lntorllgam-so do uma ma-
nolra ostrolta o lntrlncada, como os proprlos hotllnks quo assoguram a llga-
ao das pglnas quo tm na lntornot. Lsta analogla nao olta por acaso. a
tocnologla comunlcaclonal quo torna ostas campanhas possivols o olcazos
ost a moldar o movlmonto a sua proprla lmagom. Craas a Not, as mobl-
llzaos dosonrolam-so com rocurso a uma burocracla oscassa o uma ostrutu-
ra hlorrqulca minlma, os consonsos orados o os manlostos longamonto
nogoclados vao, asslm, lcando para trs, dando lugar a uma cultura do cons-
tanto troca do lnormaos, marcada por uma prtlca lulda o por vozos com-
pulslva (.) C carctor doscontrallzado dostas campanhas nao onto do
lncoorncla o do ragmontaao mas slm una aJataao azo.e| e ate eoge-
o|osa as nuJaoas .e|||caJas oo aooana Ja cu|tua en seot|Jo gea|.
(23-4. Subllnhado mou. lW)
Contribuindo com cerca de 50% dos participantes, os sindicatos
dos EUA tiveram um envolvimento tardio, organizaram actividades
parte (num estdio e num salo) e procuraram encaminhar a sua mar-
cha para longe dos locais onde a polcia enfrentava com brutalidade a
resistncia dos manifestantes no violentos (que no deve ser confundi-
da com a pequena minoria que entretanto se lanava sobre as multina-
246 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
cionais em High Street). Os sindicatos internacionais estiveram ausen-
tes dos media dominantes, embora a sua visibilidade seja pouco maior
nos vdeos alternativos feitos sobre o evento (v. Vdeos). Alguns diri-
gentes sindicais nacionais e internacionais ignoraram ou inclusivamente
repudiaram a cautelosa poltica e a estratgia da AFL-CIO. Alguns dos
maiores sindicatos dos EUA, bem como inmeros sindicalistas, pura e
simplesmente romperam as fileiras e juntaram-se ao resto dos manifes-
tantes. Mas enquanto os ecologistas apareceram vestidos de tartarugas,
os sindicalistas apareceram vestidos de sindicalistas. E enquanto os
sindicalistas no-violentos expressavam a sua resistncia correndo risco
fsico, os dirigentes dos EUA ajoelhavam durante alguns momentos, em
atitude de orao.
20
Resultado: esses 50% de sindicalistas tiveram direi-
to a 5% de cobertura com imagem nos principais noticirios internacio-
nais (que o mesmo dizer, dos EUA)! S se poderia atribuir este facto a
um tendenciosismo dos media se as formas de expresso utilizadas
tivessem sido to originais, apelativas, aparatosas ou ldicas como as
dos demais manifestantes.
Tirando algumas excepes assinalveis, o movimento operrio in-
ternacional ainda no compreendeu o significado de tudo isto. Jean-Paul
Marthoz (2000), jornalista desde h muito ligado CISL, reconhece a
centralidade crescente dos media no contexto do processo de globaliza-
o bem como o potencial que tanto os media como os seus trabalhado-
res encerram na luta contra a globalizao. Contudo, em face da cober-
tura meditica que os grupos e as atitudes radicais tiveram em Seattle,
este autor considera que a projeco pblica conferida aos acontecimen-
tos que ali tiveram lugar razo mais para cautela do que para eufo-
ria. E porque no ambas? E porque que para voltar ao tema dos
sindicatos e dos media a esfera do trabalho a nvel internacional no
surge identificada nem associada de uma forma significativa com o novo
movimento internacional para a democratizao das comunicaes
(Voices 21)? Tudo indica que mais uma vez o mundo do trabalho a nvel
internacional se prepara para responder nova esfera pblica globaliza-
da e s novas formas de expresso colectiva em modo defensivo/agres-
sivo, quando o devia fazer em termos de aprendizagem/criatividade.
20. Dolxarol aos obsorvadoros amorlcanos a taroa do oxpllcar as orlgons hlstorlcas oxactas o
o slgnllcado cultural daqullo quo para mlm constltulu um rltual ostranho o at oxotlco.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 247
H muito j que possvel detectar, nas atitudes do sindicalismo
internacional relativamente s novas tecnologias da informao e da
comunicao (TIC), este tipo de reaco verdadeiramente conservado-
ra. Tal sentimento comeou a fazer-se notar h quase 20 anos, quando
a CISL recusou a oferta, por parte de um especialista de informtica
social-democrata da Escandinvia, de uma base de dados de livre aces-
so chamada ironicamente, dadas as circunstncias Unite.
21
Hoje
em dia a atitude mantm-se, assistindo-se quilo que poderamos cha-
mar uma desastrada tentativa, por parte da CISL, de criar e controlar na
Internet um domnio sob a designao sindicato (isto , union, a
exemplo de designaes j existentes como por exemplo .com, .uk, ou
.org).
22
com agrado que se assiste ao aumento, na Web, do nmero
de stios de estruturas sindicais internacionais a oferecer um acesso cada
vez maior informao sobre as actividades que desenvolvem. Mas isso
no passa de uma resposta atrasada quilo que so as virtualidades das
TIC enquanto instrumento (mais rpido, mais barato e de maior alcan-
ce), no enquanto ciberespao (quer dizer, um outro tipo de espao, com
21. A proposta om causa ol mosmo promovlda publlcamonto oo |ote|o da ClSL por lan
Craham (1982a, b), ontao odltor rosponsvol pola ontao chamada |ee |aoo \o|J. lostorlor-
monto Craham passar-so-la para a lntornatlonal Chomlcal, Lnorgy and Mlnoworkors lodoratlon
(lCLM lodoraao lntornaclonal dos 1rabalhadoros do Soctor Quimlco, da Lnorgla o das Mlnas),
uma organlzaao bastanto mals sonslblllzada para o papol das comunlcaos o da lnormtlca.
22. lol ossa a conclusao a quo choguol com baso numa oxposlao sobro o assunto olta por
Lrlc Loo (2000). A ClSL caractorlzou-so, nosto caso, por um ponsamonto burocrtlco, tocnocrtlco
o torrltorlallsta. |uoct|co na modlda om quo 1) vlsava uma rolaao oxcluslva ontro orgaos ou
unclonrlos do um dotormlnado aparolho (sondo a outra parto a comlssao domlnada polo
mundo omprosarlal lncumblda da dlstrlbulao do nomos do dominlos na lntornot) o porquo 2)
at ao momonto nao ol ob|octo do publlcltaao, nom do consultas com ospoclallstas oxtorloros
aos slndlcatos, nom do moblllzaao dos mombros da ClSL, nom soquor do consultas |unto do
publlco lntorossado. !ecooct|co por acrodltar quo oxlsto um romdlo do naturoza tcnlca para
os problomas dos dlroltos domocrtlcos rolaclonados com o mundo do trabalho. L te|to|a||sta
porquo a ldola ora quo osso a ClSL o os rospoctlvos slndlcatos mombros ou allados a docldlr quals
os slndlcatos quo sao autntlcos, com dlrolto, portanto, a utlllzaao do nomo do dominlo. A
proprla noao do crlar um esao torrltorlal no clboresao sugoro, onlm, uma alta do com-
proonsao do quo osto ultlmo so|a. Loo aponta todo um con|unto do modos como possivol marcar
uma prosona slndlcal ao nivol do clborospoo o do achar na Not matorlals com rolovncla para
as quostos do trabalho som proclsar do rocorror a crlaao do um novo dominlo. Adomals, ossas
modalldados alguram-so acossivols a todo o qualquor actlvlsta lntorossado, quo para tanto so
nocosslta, alm do proprlo lntorosso polas quostos da solldarlodado lntornaclonal, do so munlr do
lmaglnaao o das tcnlcas bslcas para navogar na Wob.
248 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
possibilidades ilimitadas no que se refere ao dilogo internacional,
criatividade e inveno/descoberta/desenvolvimento de novos valo-
res, de novas atitudes e de novos dilogos). Assim, at mesmo esse novo
e admirvel stio multi-sindical que o Global Unions no mais que um
servio um servio do tipo magazine e de informao, e eventual-
mente tambm de mobilizao maior, mais rpido e de maior alcan-
ce.
23
Trata-se, por conseguinte, primordialmente de rgos de propagan-
da,
24
que s ocasionalmente podero servir para criar as prticas e os
entendimentos dialcticos necessrios a esta nossa nova realidade capi-
talista, to complexa e globalizada.
Para encontrar prticas mais adequadas ao novo clima da globali-
zao, temos de procur-las em meios de comunicao de tipo mais mar-
ginal: por exemplo revistas como a International Trade Union Rights (Di-
reitos Sindicais Internacionais, que publicou um extenso debate sobre
a problemtica questo dos direitos e comrcio internacionais); stios da
responsabilidade de ONGs e/ou de particulares, como o servio noti-
cioso (e no s) Labourstart, de Eric Lee; ou ainda as propostas
provocatrias de novos princpios de organizao sindical apresentadas
por Richard Barbrook, um homem de esquerda especializado na rea
das comunicaes. Barbrook concebe as TIC, no como algo que os tra-
balhadores ou os sindicatos se limitam a usar, mas como algo que estes
produzem e que por seu turno produz trabalhadores e, mais do que
isso, trabalhadores carecidos de sindicatos de um outro tipo:
A oxomplo do quo sucodo nas outras lndustrlas, os trabalhadoros da ocono-
mla dlgltal omorgonto nocossltam do doondor os sous lntorossos comuns. A
malorla das organlzaos do trabalhadoros oxlstontos, porm, nao ost a con-
sogulr dar uma rosposta sulclontomonto rplda as mudanas vorllcadas nas
vldas do quom trabalha. Aposar do crlados para dar luta aos patros, os slndl-
catos da lndustrla oram tambm crlados a lmagom da brlca ordlsta. buro-
23. Nom mosmo a molhor do todas as novas rovlstas slndlcals lmprossas o do mblto lntorna-
clonal, a \eta| \o|J, da lntornatlonal Motalworkors lodoratlon (lMl lodoraao lntornaclonal
dos Motalurglcos, llM), dlspo do uma socao do cartas dos loltoros, o multo monos alnda do um
ospao aborto para o dobato mals alargado. Comparo-so ossa lacuna com as duas pglnas (om 16)
acultadas pola |aoo Notes, publlcaao lntornaclonallsta produzlda nos LUA.
24. Vo|a-so a dolnlao do tormo dada polo S|ote O\|oJ |og||s| ||ct|ooaj. J|ssen|oa,
J||uoJ| (una Jec|aaao, ceoa, ou t|ca/.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 249
crtlca, contrallzada o naclonallsta. lara quom trabalha na oconomla dlgltal,
osto tlpo do organlzaao tom multo do anacronlco. L, pols, nocossrlo quo
om sou lugar so|am crladas novas ormas do slndlcallsmo, capazos do ropro-
sontar os lntorossos do trabalhadoros do soctor dlgltal. lara alm da roorma
das organlzaos slndlcals oxlstontos, altura do ostos trabalhadoros comoa-
rom tambm a cooporar uns com os outros sorvlndo-so dos mtodos quo
lhos sao proprlos. Dado quo | so oncontram om llnha, dovorlam organlzar-so
no sontldo do promovor os sous lntorossos comuns atravs da Not. Um slndl-
cato vlrtual asslm constltuido, a unclonar no lntorlor da oconomla dlgltal,
dovorla alnda pr uma grando naso nos novos prlnciplos do organlzaao do
trabalho. uma naso no artosanal, no rotlcular, o no global (arbrook, 1999).
Para uma compreenso ainda mais geral do papel das TIC relativa-
mente ao internacionalismo, proponho que novamente olhemos para
alm da perspectiva especfica da esfera do trabalho, detendo-nos por
momentos sobre o tema Mulheres@Internet:
As rodos rodos do mulhoros, amblontallstas, tnlcas, o do outros movl-
montos soclals sao um ospao do novos actoros politlcos o uma onto do
prtlcas culturals oxtromamonto promotodoras. L, por lsso, possivol alar do
uma politlca cultural do clborospao o da produao do culturas capazos do
opor roslstncla, do causar transormaos, ou do aprosontar altornatlvas aos
mundos vlrtual o roal domlnantos. Uma tal politlca clborcultural podor sor
ospoclalmonto olcaz so proonchor duas condlos. dovo tor consclncla dos
mundos domlnantos actualmonto om vlas do crlaao polas mosmas tocnolo-
glas om quo as rodos progrosslstas so basolam (lnclulndo a consclncla do
modo como o podor unclona no mundo das rodos o dos luxos transnaclo-
nals), o dovo azor o valvm constanto ontro a clborpolitlca (ou so|a, o actlvlsmo
politlco na lntornot) o aqullo quo doslgno por politlca do lugar, quor dlzor, o
actlvlsmo politlco pratlcado nos ospaos islcos om quo o utonto da Not utlll-
za osto molo o az a sua vlda. (Lscobar, 1999. 32)
ConcIuso: concctividadc rcticuIar, comunicao, diIogo
Aventei atrs a ideia de que o problema fundamental do interna-
cionalismo sindical no contexto do capitalismo GCI se prende com as
formas e as prticas, sendo que as formas e as prticas do sindicato so
fortemente marcadas pelo capitalismo NIC dentro do qual e em rela-
2S0 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
o ao qual ele tomou forma. Isso quer dizer que a crtica da burocra-
cia, da estrutura hierrquica e da ideologia sindical (proverbial fonte de
queixas por parte da esquerda tradicional) um tanto descabida, para
no dizer deslocada no tempo. Faz-nos, de facto, falta um princpio de
auto-articulao novo ou mesmo alternativo, quer dizer, um meio que
sirva simultaneamente de auto-organizao e auto-expresso dos traba-
lhadores, mas sobretudo que seja verdadeiramente adequado ao nosso
tempo. (Faz falta, por outras palavras, um princpio que contrarie de
uma maneira permanente e eficaz a reproduo da ideologia e da estru-
tura burocrtico-hierrquica, a qual no deixa de ter lugar tambm no
interior dos sindicatos radicais e revolucionrios).
Como transparece das duas ltimas citaes, esse princpio a rede,
sendo a prtica a conectividade reticular. No h que feiticizar a rede ou
diabolizar a organizao. A conectividade reticular tambm uma for-
ma de entender as inter-relaes humanas, pelo que podemos encarar
uma organizao em termos de rede, tal como podemos olhar para uma
rede em termos organizacionais. No deixa, contudo, de ser verdade
que a passagem do capitalismo NIC para o capitalismo GCI tambm a
passagem de um capitalismo organizado para um capitalismo reticular
(Castells, 1996-8). das redes e da conectividade reticular internacionais
ligadas ao mundo do trabalho que hoje em dia tendem a surgir as novas
iniciativas, traduzidas em factores como a velocidade, a criatividade e a
flexibilidade.
Quando os sindicatos, ou as foras socialistas, condenam ou sim-
plesmente criticam as ONGs por falta de democracia ou de represen-
tatividade, mostram com isso que no compreendem os novos princ-
pios, formas e prticas dos movimentos sociais democrtico-radicais.
Estes tm por preocupao essencial a capacitao atravs da informa-
o, de ideias, de imagens, de son et lumire, de valores. Quando falamos
de uma conectividade reticular, ou de redes ou de ONGs democr-
tico-radicais, h que ter em mente que estas representam uma grande
fonte de renovao e de movimento, seja no seio da sociedade civil, com
relao ao capital e ao Estado, seja dentro de ou entre organizaes
como os sindicatos. Um sindicalismo que se pretenda democrtico-radi-
cal e internacionalista mas que no entenda isto, est inevitavelmente
condenado estagnao. Alm disso, a conectividade reticular sindical
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 2S1
escala internacional estagnar tambm se no perceber que faz parte
de um projecto democrtico-radical internacionalista cujo alcance vai
muito para alm dos sindicatos e dos problemas laborais.
Conectividade reticular uma expresso que tem mais a ver com
comunicao do que com instituies. Ora a conectividade internacional
da esfera do trabalho, se no quiser reproduzir os valores dominantes
do capitalismo GCI, tem que resultar e tem que ser geradora de
um estilo de comunicao e de um sentido de cultura democrtico-radi-
cal. Chamo a isto uma cultura de solidariedade global. A ideia encon-
tra expresso particularmente viva em Voices 21 (1999), produto de uma
rede internacional de especialistas com uma prtica democrtica uni-
versitrios, activistas, etc. ligados rea das comunicaes. Este mo-
vimento preocupa-se com questes como o crescente acesso aos media, o
direito a comunicar, a diversidade de expresso, a segurana e a privaci-
dade. Tal como acima ficou referido, notria a ausncia, neste novo mo-
vimento social, das organizaes sindicais internacionais. Isso deve-se,
em parte, autodefinio institucional dessas organizaes, e em parte
circunstncia de os trabalhadores das comunicaes terem tendncia a
recear tanto as interferncias pblicas no seu territrio quanto recei-
am os magnatas dos media ou a censura estatal. Mas a esfera do trabalho
tem uma histria cultural longa e rica, e foi capaz, no passado, no s de
inovar como inclusivamente de encabear movimentos culturais popu-
lares, democrticos, e at de vanguarda. O sindicalismo internacional
tem, uma vez mais, de ultrapassar a sua autodefinio redutora. Caso
contrrio, permanecer invisvel na cena meditica internacional, a qual
no s coloca cada vez mais desafios e exigncias como se est mesmo a
substituir aos espaos institucionais enquanto lugar por excelncia da
contestao e da deliberao democrticas.
O debate a continuao da guerra por outros meios. A inteno
derrotar ou destruir o outro, quer se trate de uma ideia, um movimento
ou uma pessoa. O conversar, por outro lado, implica ouvir o outro, mas
sem que isso signifique necessariamente que essa troca seja ultrapassa-
da ou transformada noutra coisa qualquer. Quanto ao dilogo, implica
uma dialctica, um processo atravs do qual as posies iniciais sofrem
modificao at se chegar a uma nova sntese. Quando, acima, me referi
ao dilogo do milnio sobre a esfera do trabalho a nvel internacional,
2S2 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
falava numa perspectiva simultaneamente descritiva e prescritiva. H
efectivos debates e conversas a decorrer neste momento; bom que uns
e outras assumam forma dialgica, tanto dentro como fora do movi-
mento operrio internacional (Waterman, 2001a).
Uma nota pessoal: Tendo vindo da tradio polemstica do marxis-
mo (incluindo o contributo de Lenine, cujas obras principais se acham
desvalorizadas devido ao carcter polmico da respectiva forma e inten-
o), tive que lutar para escapar dessa concha fechada, em direco a
algo mais parecido com uma conversa ou um dilogo. Uma outra con-
cha, j se v, a baba empolada dos acadmicos (para usar a expres-
so com que, em 1990 por alturas do final do Perodo Glaciar do
ltimo movimento operrio internacional um funcionrio sindical
internacional reagiu a um trabalho meu sobre uma lista de discusso
relativa a questes laborais). O facto de ao menos ter sido capaz de enta-
bular uma conversa pblica com Bill Jordan, Secretrio-Geral da CISL
(Waterman, 2000), j um pequeno sinal de que os tempos podem estar
a mudar. Existem outros indcios de que, quando confrontadas com cr-
ticas pblicas, as instituies internacionais ligadas ao mundo laboral
esto a comear a ultrapassar o modo defensivo/agressivo. Ao longo
dos ltimos anos tenho-me visto envolvido de forma crescente em si-
tuaes de dilogo significativo com pessoas ligadas ao mundo do tra-
balho e outros internacionalistas. Alguma dessa experincia vem conta-
da na obra do acadmico e activista internacionalista Rob Lambert, em-
bora o presente artigo talvez no deixe entrever que esse dilogo con-
creto comeou h j 15 anos ou mais. Esse nosso dilogo, como bom de
ver, tem sido relativamente fcil, devido amizade pessoal e ao respeito
mtuo que nos une, muito embora tambm no tenha sido desprovido
de tenso e de alguma frustrao. Mais recentes, e tambm mais hesi-
tantes, so as trocas pblicas ou privadas que tenho vindo a man-
ter com organizaes e representantes sindicais a nvel internacional. Se
certo que entre os meus amigos radicais ligados aos meios polticos e
acadmicos estas conversas em privado podem ser consideradas um
sinal no s de ingenuidade da minha parte, mas tambm de assimila-
o institucional, eu vejo esse conversar exactamente nos termos que
acima referi, isto , como uma experincia ou experimentao a partir
da qual ambas as partes podero posteriormente evoluir no sentido de
um dilogo aberto. Seja como for, no estou interessado em manter con-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 2S3
versas privadas tal como no me interessa fazer consultas ou avalia-
es remuneradas se no tiverem em vista permitir o aperfeioamen-
to de intervenes pblicas como esta, destinadas a fomentar o dilogo
aberto. Gostaria que, no obstante as duras crticas que aqui lano s
instituies de tipo tradicional, essa inteno dialgica resultasse bem
patente deste meu escrito. Assim os meus leitores me avisem, se no for
esse o caso (e um deles j mo fez saber).
A vantagem da Web para abordar as questes relacionadas com
o mundo do trabalho est em que ela no se limita a tornar mais fcil o
dilogo internacional e internacionalista. Com efeito, a prpria lgica do
computador uma lgica de retorno, de feedback. A utilizao
unidireccional e centralizadora do computador, em que um utente se
dirige a muitos destinatrios numa perspectiva de controlo, constitui a
negao desta lgica e das possibilidades que encerra. Juntamente com
a hipercapitalista Web, a Internet ela prpria tambm, por vocao,
eminentemente militar/industrial/comercial/estatista so subversoras
das instituies e da institucionalizao capitalistas. Recordem-se as
palavras de Marx, escritas (mais uma vez, algo premonitariamente) h
150 anos a propsito do prprio capitalismo:
1odas as rolaos lxas o crlstallzadas, com o sou squlto do proconcoltos
antlgos o vonorandas oplnlos, sao slmplosmonto postas do lado, o todas as
quo do novo so vao crlando tornam-so antlquadas antos mosmo do torom
tompo do ossllcar. 1udo o quo solldo so dlssolvo no ar. (Marx o Lngols,
1935. 209)
No h outro modo de funcionar, neste nosso mundo globalizado
e na virtualidade real (Castells, 1996-8: vol. I: 327-375) que o cerca e
que literalmente o informa, que no seja vencendo este nosso medo de
voar. Isso vai exigir de ns, enquanto internacionalistas ligados ao
mundo do trabalho quer nos situemos dentro das instituies, nas
periferias destas, ou noutros-locais-mas-nem-por-isso-menos-interes-
sados-no-problema , que nos tornemos, para usar as palavras de
Enzensberger (1976), to livres como o bailarino, argutos como o fu-
tebolista, e surpreendentes como o guerrilheiro. E isso, por sua vez,
exige de todos ns, mais uma vez que aprendamos a dialogar
uns com os outros medida que prosseguimos nas nossas lutas; e que,
2S4 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
caminhando e falando, vamos construindo uma estrada que nos con-
duza para l do capitalismo.
25
Traduo de Joo Paulo Moreira
SigIas
Aft-ClO, Amorlcan lodoratlon o Labour-Congross o lndustrlal Crganlsatlons
C, bandolras do convonlncla
ClSt, Conodoraao lntornaclonal dos Slndlcatos Llvros
Ctl, Comlt do Llgaao lntornaclonal
CMA, Congrosso para um Mundo Aborto
CMT, Conodoraao Mundlal do 1rabalho
flTT, lodoraao lntornaclonal dos 1rabalhadoros dos 1ransportos
fSM, lodoraao Slndlcal Mundlal
GCl, globallzado/conoctado om rodo/lnormatlzado
NlC, naclonal/lndustrlal/colonlal
OlT, Crganlzaao lntornaclonal do 1rabalho
ONGs, organlzaos nao govornamontals
SPls, Socrotarlados lrolsslonals lntornaclonals
TlC, tocnologlas da lnormaao o da comunlcaao
25. So osta alrmaao ovldoncla um corta vlsao utoplca, porquo a utopla tambm nocos-
srla a rolnvonao do lntornaclonallsmo oporrlo. Ao crltlcar as lntorprotaos contompornoas
do dlloma com quo nos dobatomos, kuth Lovltas (2000) chama a atonao para a nocossldado do
allarmos o utoplsmo dlaloglco (o procosso) as antovlsos do quo sor a soclodado pos-capltallsta
(o lugar). k. Lovltas, no ontanto, rocorda quo uma noao lndloronclada da transormaao dlalogl-
ca lgnorando, nomoadamonto, os lntorossos cada voz mals conlltuantos oxlstontos no solo da
soclodado capltallsta contompornoa tor como consoquncla quo ossos conlltos nao so|am
dotoctados, dolxando-nos no mosmo ponto om quo nos oncontramos. kocorrondo a um oxomplo
rolovanto para o toma aqul om aproo, a autora llustra o sou ponto do vlsta com um documonto
da Comlssao Luropola quo apola a solldarlodado ontro aquolos cu|o rondlmonto ganho polo
trabalho quo roallzam o os quo o ganham |slc} por molo do lnvostlmontos (208-9, slc da autora
cltada lW). L Lovltas sugoro alnda quo uma baso slgnllcatlva para um dllogo transormador
oxlgo quo so procoda a uma anllso critlca do capltallsmo, apostada nao (so) om dlzor quo torrivol
quo , mas om ldontllcar pontos potonclals do lntorvonao quo por sou turno possam lovar a
uma transormaao bom como agontos potonclals dossa mosma transormaao (209).
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 2SS
Rcfcrncias bibIiogrficas
ASHWlN, Sarah (2000), lntornatlonal Labour Solldarlty Ator tho Cold War, |o
kobln Cohon, Shlrln kal (orgs.), G|ooa| Soc|a| \o.eneots. Londros. Athlono,
101-116.
AkkCCK, klchard (1999), lroquontly Askod Quostlons. Dlgltal Work Dlgl-
tal Workors and Artlsans. Cot Crganlsod!. Dlsponivol om. <http.//
www.labournot.org/1999/March/dlglwork.html>.
LZUlDLNHCU1, Andrlos (1999), !ouaJs G|ooa| Soc|a| \o.eneot Lo|oo|sn:
!aJe Lo|oo kesooses to G|ooa||sat|oo |o Sout| ^||ca. Conova. lntornatlo-
nal Labour Crganlsatlon/lntornatlonal lnstltuto or Labour Studlos. 37 pp.
Dlsponivol om. <http.//www.llo.org/publlc/ongllsh/buroauc/lnst/papors/2000/
dp115/>.
kLCHLk, }oromy, CCS1LLLC, 1lm, SMl1H, rondan (2000), G|ooa||sat|oo |on
|e|ou. !|e |oue o| So||Ja|tj. Massachusotts. South Lnd.
CAkLW, 1ony (2000), A lalso Dawn. 1ho World lodoratlon o 1rado Unlons, |o
Marcol van dor Llndon (org.), !|e |oteoat|ooa| Coo|eJeat|oo o| |ee !aJe
Lo|oos. orn. lotor Lang, 165-186.
CAS1LLLS, Manuol (1996-8), !|e |o|onat|oo ^ge. |cooonj, Soc|etj aoJ Cu|tue.
3 Vols. Cxord. lackwolls.
CHlNA LACUk ULLL1lN (2000), lCl1U Dologatlon to Chlna, CL =35. Dls-
ponivol om. <http.//www.chlna-labour.org.hk/2005o/oaturo_lctu.htm>.
CCUlLk, A. D. (1999), vojages o| ^ouse. Sea|aes, |unao k|g|ts aoJ |oteoat|o-
oa| S|||og. Londros. lluto.
LNZLNSLkCLk, Hans Magnus (1976), Constltuonts o a 1hoory o tho Modla,
|o ka|Js aoJ kecoostuct|oos. |ssajs |o |o||t|cs, C|ne aoJ Cu|tue. Londros.
lluto, 20-53.
LSCCAk, Arturo (1999), Condor, llaco and Notworks. A lolltlcal Lcology o
Cyborculturo, |o Wondy Harcourt (org.), \oneo|oteoet. Ceat|og Neu
Cu|tues |o Cjoesace, 31-55.
llMMLN, Ldo (1924), |aoous ^|teoat|.e. !|e Lo|teJ States o| |uoe o| |uoe
||n|teJ. Londros.
CALLlN, Dan (1999a), Crganlsod Labour as a Clobal Soclal lorco, papor to a
Workshop on lntornatlonal kolatlons plus lndustrlal kolatlons, Conoronco o
tho lntornatlonal Studlos Assoclatlon, Washlngton, lobruary 20. Clobal Labour
lnstltuto, Conova. Lmall. glllprollnk.ch.
2S6 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
CALLlN, Dan. (1999b), 1rado Unlons and NCCs ln Soclal Dovolopmont. A
Nocossary lartnorshlp, lapor or tho Unltod Natlons kosoarch lnstltuto or
Soclal Dovolopmont, Conova. 38 pp. glllprollnk.ch.
______. (2001), lroposltlons on 1rado Unlons and tho lnormal Soctor ln 1lmos o
Cloballsatlon, drat contrlbutlon to lotor Watorman and }ano Wllls (orgs.),
||ace, Sace aoJ t|e Neu |aoou |oteoat|ooa||sns. Cxord. lackwolls
CkAHAM, lan (1982a), Computors o thoWorld UNl1L:, |ee |aoou \o|J, 1,
2-3.
______. (1982b), lrogrammod Solldarlty: llrst Studlos on a Unlon Computor
Notwork, |ee |aoou \o|J, 6, 32-33.
CUMkLLL-MCCCkMlCK, kobocca (2000), laclng Now Challongos. 1ho lntor-
natlonal Conodoratlon o lroo 1rado Unlons (1972-1990s), |o Marcol van
dor Llndon (org.), !|e |oteoat|ooa| Coo|eJeat|oo o| |ee !aJe Lo|oos. orn.
lotor Lang, 341-518.
HMAN, klchard (1999a), An Lmorglng Agonda or 1rado Unlons. Dlsponivol
om. <http.//www.llo.org/publlc/ongllsh/buroau/lnst/pro|oct/notwork/
lndox.htm>.
______. (1999b), Natlonal lndustrlal kolatlons Systoms and 1ransnatlonal
Challongos, |uoeao louoa| o| |oJust|a| ke|at|oos, 5(1), 89-110.
lCl1U (2000a), lCl1U Cnllno. Clobal Compact an Cpportunlty or Clobal Dl-
aloguo. 31/07/00. Dlsponivol om. <http.//www.lctu.org/>.
______. (2000b), 1ho Clobal Compact. lor a Soclally kosponslblo uslnoss World,
!aJe Lo|oo \o|J, 9, 22.
lN1LkNA1lCNAL 1kANSlCk1WCkKLkS lLDLkA1lCN (1996), So||Ja|tj |!|
Ceoteoaj |oo|. Londros. lluto.
}AKCSLN, K|old Aagard (2001), kothlnklng tho lntornatlonal 1rado Unlon
Movomont, |o lotor Watorman, }ano Wllls (orgs.), ||ace, Sace aoJ t|e Neu
|aoou |oteoat|ooa||sns. Cxord. lackwolls.
}CkDAN, lll (2000), komarks o lll }ordan, lCl1U Conoral Socrotary, at tho
kocoptlon o tho lntornatlonal Conoronco 1ho last and luturo o lntorna-
tlonal 1rado Unlonlsm. Cont, 18 May 2000.
KLLlN, Naoml (2000), Doos lrotost Nood a Vlslon:, Neu Statesnao (UK), }uly 3,
23-25.
LAMLk1, kob, WLS1Lk, Lddlo (1988), 1ho ko-omorgonco o lolltlcal Unlonlsm
ln Contomporary South Arlca:, |o Wllllam Cobbott, kobln Cohon (orgs.),
|ou|a Stugg|es |o Sout| ^||ca. Londros. }amos Curroy, 20-41.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 2S7
LAMLk1, kob (2001), Southorn Unlonlsm and tho Now lntornatlonallsm, drat
contrlbutlon to lotor Watorman and }ano Wllls (orgs.), ||ace, Sace aoJ t|e
Neu |aoou |oteoat|ooa||sns. Cxord. lackwolls.
LLL, Lrlc (2000), !|e |oteoet |e|oogs !o |.ejooe. ^ kaJ|ca| v|eu O| !|e Go.eoaoce
O| Cjoesace. Dlsponivol om. <http.//www.labourstart.org/lcann/
orlcloobook.shtml>.
LLVl1AS, kuth (2000), Dlscoursos o klsk and Utopla, |o arbara Adam, Ulrlch
ock, }oost van Loon (orgs.), !|e k|s| Soc|etj aoJ |ejooJ. C|t|ca| |ssues |o
Soc|a| !|eoj. Londros. Sago, 199-210.
LlNDLN, Marcol van dor (org.) (2000), !|e |oteoat|ooa| Coo|eJeat|oo o| |ee
!aJe Lo|oos. orn. lotor Lang.
MACSHANL, Donnls (1992), |oteoat|ooa| |aoou aoJ t|e O|g|os o| t|e Co|J \a.
Cxord. Clarondon.
MAk1HCZ, }oan-laul (2000), 1ho Modla and Cloballsatlon, !aJe Lo|oo \o|J,
7/8, 30.
MAk\, Karl, LNCLLS, lrodorlck (1935), 1ho Manlosto o tho Communlst larty,
|o |a| \a\. Se|ecteJ \o|s. Vol. 1. Moscow. Cooporatlvo lubllshlng Socloty
o lorolgn Workors ln tho USSk, 204-241 |1848}.
MCCD, Klm (1997), \o|es |o a |eao \o|J. Lo|oos |o t|e |oteoat|ooa| |cooonj.
Londros. Vorso.
MUNCK, konaldo (1988), !|e Neu |oteoat|ooa| |aoou StuJ|es. ^o |otoJuct|oo.
Londros. Zod.
______ (2000), Labour ln tho Clobal. Challongos and lrospocts, |o kobln Cohon,
Shlrln kal (orgs.), G|ooa| Soc|a| \o.eneots. London. Athlono, 83-100.
NA1lCNAL MlNCkl1 MCVLMLN1 (s.d.), St||e Stategj aoJ !act|cs. !|e |essoos
o| t|e |oJust|a| Stugg|es. !|es|s ^JoteJ oj t|e Stassoug Coo|eeoce |e|J
uoJe t|e ^us|ces o| t|e keJ |oteoat|ooa| o| |aoou Lo|oos. |Wlth oroword
by l. Claddlng}. 29 pp.
ClLN WCkLD CCNlLkLNCL (2000a), <www.goocltlos.com/owc_2000>.
______. (2000b), Cpon World Conoronco ln Doonco o 1rado Unlon lndopondonco
and Domocratlc klghts, O\C keot |ac| |u||et|o, o. 1. San lranclsco. Cpon
World Conoronco. 64pp.
kLlNALDA, ob (org.) (1997), !|e |oteoat|ooa| !aosotuo|es |eJeat|oo 1914-
1945. !|e |Jo ||nneo |a. Amstordam. lntornatlonal lnstltuto o Soclal Hlstory.
SANDkl, kogor (1999), Conrontlng Noo-1otalltarlanlsm. Cloballsatlon and tho
Strugglo or 1rado Unlon lndopondonco, Contrlbutlon or tho Cpon World
2S8 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Conoronco o Workors ln Doonco o 1rado Unlon lndopondonco and
Domocratlc klghts, San lranclsco, lobruary 2000. 90 pp. Dlsponivol om.
<http.//www.goocltlos.com/owc_2000>.
SCllLS, Klm (1996), |\L. |u||J|og Geou|oe !aJe Lo|oo|sn |o t|e ||||||oes,
1980-1994. Quozon Clty. Now Day.
SLlDMAN, Cay (1994), \aou|actu|og \|||taoce. \o|es \o.eneots |o |az|| aoJ
Sout| ^||ca, 1970-1985. orkoloy. Callornla Unlvorslty lross.
SOL!| ^|k|C^N |^|OLk |L|||!|N (2000), Com.Com. A Sorlos o lrrovoront
lostcards. Cur lnsldo koportor Sonds a Sorlos o lostcards rom Durban at
tho 1lmo o tho lCl1U Congross, Sout| ^||cao |aoou |u||et|o, 24(3),
112-16.
1kADL UNlCN WCkLD (1999), Spoclal 50th Annlvorsary Ldltlon. How tho lCl1U
Has lnluoncod Clobal Dovolopmonts oar Ator oar, !aJe Lo|oo \o|J,
7, 5-70.
VClCLS 21 (1999), A Clobal Movomont or looplos Volcos ln Modla and
Communlcatlons l n tho 21st Contury. Dlsponivol om. <http.//
www.comunlca.org/v21/statomont.htm>.
WA1LkMAN, lotor (1998a), G|ooa||sat|oo, Soc|a| \o.eneots aoJ t|e Neu
|oteoat|ooa||sns. Londros. Mansoll.
______. (1998b), 1ho Socond Comlng o lrolotarlan lntornatlonallsm: A kovlow
o kocont kosourcos, |uoeao louoa| o| |oJust|a| ke|at|oos, 4(3), 349-7.
______. (1999), lntornatlonal Labours 2K lroblom. A Dobato, a Dlscusslon and
a Dlaloguo (A Contrlbutlon to tho lLC/lCl1U Conoronco on Crganlsod Labour
ln tho 21st Contury). \o||og |ae Se|es, No. 306. 1ho Haguo. lnstltuto o
Soclal Studlos. 64 pp.
______. (2000), lrom an lntornatlonal Unlon Congross to an lntornatlonal Labour
Dlaloguo. An Lxchango botwoon lotor Watorman, Clobal Solldarlty Dlalo-
guo/Dlalogo Solldarldad Clobal, and lll }ordan, Conoral Socrotary o tho
lntornatlonal Conodoratlon o lroo 1rado Unlons, dlsponivol om. <http.//
www.antonna.nl/-watorman>.
______. (2001a), G|ooa||sat|oo, Soc|a| \o.eneots aoJ t|e Neu |oteoat|ooa||sns.
(laporback) Londros. Contlnuum.
______. (2001b), Capltallst 1rado lrlvllogos and Soclal Labour klghts ln tho Llght
o a Clobal Solldarlty Unlonlsm.
WA1LkMAN, lotor, WlLLS, }ano (orgs.) (2001), ||ace, Sace aoJ t|e Neu |aoou
|oteoat|ooat|ooa||sns. Cxord. lackwolls.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 2S9
Srics
|oteoat|ooa| Lo|oo k|g|ts. lntornatlonal Contro or 1rado Unlon klghts. UCA11
Houso, 177 Abbovlllo kd, London SW4 9kL, UK. Lmall. lcturgn.apc.org.
|aoou Notes. Labour Lducatlon and kosoarch lro|oct. 7435 Mlchlgan Avo, Dotrolt
Ml 48210, USA. Lmall. labornotoslabornotos.org, Wobslto. <http.//
www.labornotos.org>.
\eta| \o|J. lntornatlonal Motalworkors lodoratlon. lC 1516, 54 bls, routo dos
Acaslas, CH-1227 Conova, Swltzorland. Lmall. S|uttorstromlmmotal.org.
Vdcos
|aoou |att|es t|e \!O |o Seatt|e 99 \o|es o| t|e \o|J Lo|te. 38 mln. VHS,
N1SC. Labour Vldoo lro|oct, lC 425584, San lranclsco, CA 94142, USA.
Lmall. lvpslabornot.org.
Oeo \o|J Coo|eeoce |o |e|eoce o| !aJe Lo|oo |oJeeoJeoce aoJ |enocat|c
k|g|ts, Sao |aoc|sco, |eouaj 11-14, 2000. Se|ecteJ Seec| |\cets. VHS,
N1SC. 60 mln. CWC, c/o San lranclsco Labour Councll, 1188 lranklln St,
km. 203, San lranclsco, CA 94109. Lmall. owclgc.org.
S|ouJouo |o Seatt|e. ||.e |ajs !|at S|oo| t|e \!O. VHS, N1SC. 150 mln.
lndopondont Modla lro|oct/Doop Dlsh 1olovlslon, 339 Laayotto Stroot, Now
ork, N 10012. Dlsponivol om. <http.//www.paportlgor.org>.
Wcbsitcs
Conoronco on Crganlsod Labour ln tho 21st Contury. <http.//www.llo.org/publlc/
ongllsh/buroau/lnst/pro|oct/notwork/lndox.htm>
Clobal Labour Dlroctory o Dlroctorlos. <http.//www.labourstart.org/gldod.shtml>
Clobal Solldarlty Dlaloguo/Dlalogo Solldarldad Clobal. <http.//www.antonna.nl/
-watorman/>
Clobal Compact. Human klghts, Labour, Lnvlronmont.
<http.//www.unglobalcompact.org/>
Clobal Unlons. <http.//www.global-unlons.org/>
260 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
lntornatlonal Conodoratlon o lroo 1rado Unlons. <http.//www.lctu.org>
Labor-Llst. LA-LCkK-U.CA
LaborModla 99 Sooul Conoronco. <http.//lmodla.nodong.not/archlvo_o.html>
LabourStart. <http.//www.labourstart.org/>
Cpon World Conoronco. <http.//www.goocltlos.com/owc_2000/>
SlDs Clobal Labour Summlt. <http.//www.antonna.nl/-watorman/>
Unlon Notwork lntornatlonal. <http.//www.unlon-notwork.org>
Volcos 21. <http.//www.comunlca.org/v21/statomont.htm>
World lodoratlon o 1rado Unlons. <http.//www.wtu.cz>
Cpon Dlroctory lro|oct. <http.//dmoz.org/socloty/organlzatlons/labor/unlons>
261
lll larto
Vozos do mundo slndlcal
262 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
263
Lntrovlstas com Coraldlno dos Santos (lS) o
Carlos Alborto Crana (CU1)'
1. As Iutas sindicais csto bascadas cm um conccito dc trabaIbo assaIa-
riado cstvcI. Contudo, cssa rcaIidadc do pIcno cmprcgo cst cada vcz
mais difciI dc scr mantida. Quais as possibiIidadcs do sindicaIismo no
rasiI cm um ccnrio dc mutao: A rcaIidadc dos pascs dcscnvoIvi-
dos, ncssc scntido, tambm nos diz rcspcito ou no: Quais scriam as
formas dc incorporar nas Iutas sindicais os tcrccirizados, os trabaIbado-
rcs prccrios, os scm cartcira assinada: I fora do univcrso ou do mundo
do trabaIbo, os movimcntos sociais Iigados aos dircitos bumanos, ao
mcio ambicntc, s Iutas das minorias, por cxcmpIo, tcriam aIgum diIogo
ou ponto dc intcrsco com o movimcnto sindicaI:
Gea|J|oo Jos Saotos
O movimento sindical brasileiro assim como o movimento sindical
no mundo surgiu por uma necessidade de, eu no diria de enfrenta-
mento, mas de equilbrio com o capital; nasceu exatamente para defen-
der os direitos dos trabalhadores e com isso defender os direitos sociais.
O movimento sindical brasileiro tem um papel fundamental dentro da
nossa cultura, na defesa daquelas bandeiras e reivindicaes que dizem
respeito ao trabalhador.
' Conduzldas por Loonardo Mollo o Sllva o Wllllam Volla Nozakl.
264 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Hoje com a modernidade, com o mundo e o Brasil se modernizan-
do, eu diria que os sindicatos tem uma funo um pouco (ou pelo me-
nos ter que ter) mais abrangente e que no se restrinja apenas reivin-
dicao daquilo que diz respeito somente fbrica. Os sindicatos tm
uma funo mais social, e com o nascimento das Centrais que surgem
no comeo da dcada de 80, a CGT, a CUT e depois a Fora Sindical,
nasce junto uma preocupao, que ns temos e mantemos, com os mo-
vimentos sociais e que no apenas com aqueles movimentos que gi-
ram em torno do local de trabalho. Porque o trabalhador quando sai de
casa e at chegar na fbrica um cidado que se depara com todos os
problemas da sociedade; quando ele sai da fbrica e volta para casa acon-
tece a mesma coisa, por isso ns temos que ter essa preocupao muito
mais abrangente, que v alm das discusses sobre reduo da jornada
de trabalho, aumento de salrio, cesta bsica.
O movimento sindical brasileiro, para que ele seja mais importan-
te, precisa passar por reformas. Ns vivemos em uma estrutura sindical
que nasceu com Getlio Vargas. Na poca, pode-se dizer que foi um
acontecimento extraordinrio mas de l para c j se passaram 50 anos,
o Brasil mudou, o Brasil est mudando e o movimento sindical no pode
continuar com essa estrutura. Por isso cremos que a reforma sindical
oportuna e fundamental para que ns tenhamos um movimento sindi-
cal forte. Fora que no pode se resumir agitao apenas. Hoje no h
mais espao para esse tipo de sindicalismo: trazer a agitao antes dos
propsitos um erro. No entanto, hoje o trabalhador e a sociedade bra-
sileira no vivem sem o movimento sindical.
Com relao aos pases desenvolvidos, entendemos que h uma
influncia dentro da nossa sociedade, pois se por um lado eles investem
aqui, por outro no h contrapartida, no h compromisso com o nosso
pas. O compromisso dos empresrios, infelizmente, ainda com o lu-
cro, e o retorno social muito pequeno, ns no ouvimos falar em uma
grande obra de assistncia social, por exemplo, que seja feita pelos ban-
cos se fazem eu desconheo. Isso vale para os empresrios nacionais,
e em maior grau para os de outros pases, pois as empresas vm para c
visando muito lucro e quando percebem que os seus objetivos no esto
sendo atingidos, elas vo embora. Um exemplo disso o que est acon-
tecendo agora na Volkswagen. O Brasil sem dvida precisa do capital
estrangeiro mas precisa obt-lo com regras definidas, caso contrrio nosso
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 26S
pas sucateado, porque no h lei que obrigue as empresas a permane-
cerem no pas; cabe ao movimento sindical brasileiro talvez colocar bar-
reiras politicamente. Isso porque na medida em que o movimento sindi-
cal se fortalece, ele capaz de barrar certas pretenses das multinacio-
nais. Por isso o capital estrangeiro, embora no deixe de ser um investi-
mento necessrio, de pouco retorno para a sociedade brasileira.
Estamos em uma sociedade em que o setor de servios parece des-
pontar como grande segmento econmico dessa sociedade destaca-se
o turismo, por exemplo. Paralelamente a isso, temos a modernizao
das empresas, de maneira que j no empregam mais como nas dcadas
de 1970 e 1980: hoje toca-se uma Volkswagen com 5000 trabalhadores ao
invs de 40000 como antes e isso um complicador porque o volume de
lucro aumenta cada vez mais e o retorno social diminui cada vez mais.
Todos esses complicadores fazem com que o movimento sindical e o
cidado pensem cada vez mais, isto , quando ganhamos um salrio pe-
queno pensamos mais como administr-lo do que quando ganhamos um
salrio mais satisfatrio. No movimento sindical isso tambm acontece.
Como eu j disse, o mundo e o Brasil se modernizaram; portanto, de qual-
quer forma, se ns estivssemos vivendo o pleno emprego nesse pas, de
qualquer forma algumas regras continuariam tendo que ser mudadas.
Sem dvida, o desemprego nos fez refletir sobre todas essas questes.
Quando eu comecei no movimento sindical, no Sindicato dos Me-
talrgicos de So Paulo (eu sou diretor desse sindicato), no comeo da
dcada de 1980, as reivindicaes eram para aumento de salrio, reposi-
o salarial por causa da inflao; eram reivindicaes muito voltadas
para a fbrica. Hoje no mais assim e ns tivemos que nos readequar
em um novo quadro de abertura de mercados, participando, inclusive,
de intercmbios com outras Centrais de outros pases somos, inclusi-
ve, filiados a CIOSL, viajamos e comeamos a conhecer outras realida-
des, e isso tem influncia mas, naturalmente, o aperto, a arrocho salarial
e as perdas salariais da dcada de 1990 que foram as maiores nos
levam a refletir.
Essa reflexo tem como conseqncias concretas algumas mudan-
as. Por exemplo: antes o militante sindical no estava atento poltica
partidria, ns ramos dirigentes sindicais apenas; hoje ns mudamos
esse conceito, comeamos a entender que o dirigente sindical precisa
266 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
participar ativamente da poltica partidria por que nela que a trans-
formao acontece. A mudana da sociedade vem no pela poltica sin-
dical mas pela poltica partidria. Hoje nosso presidente da repblica
um sindicalista!
Uma outra questo que ns temos uma carga tributria hoje que
chega a ser selvagem: uma microempresa tem os mesmos deveres do
que uma grande empresa. Digo isso porque o emprego informal est
ligado s pequenas empresas, que so grandes empregadoras e no
agentam cumprir com essa carga tributria, e quando descumprem
so punidas porque sempre mais fcil para o fiscal encontrar o peque-
no e no o grande, que poderoso. Ora, isso agrava o desemprego, o
trabalhador que est desempregado no tem alternativa, acaba aceitan-
do qualquer coisa e vai para a informalidade.
A poltica fiscal deve mudar, mas no se trata de privilegiar ningum:
alguns acham que ns estamos defendendo o privilgio para a pequena
empresa, no disso que estamos falando. Ns entendemos que tem que
haver uma poltica fiscal diferenciada que possibilite a sobrevivncia des-
sas pequenas empresas dentro de sua realidade; em contrapartida, elas se
comprometeriam a tirar os seus empregados da informalidade.
Ns sabemos que o Brasil tem um histrico de taxas de juro muito
altas, o que acaba com a possibilidade de investimentos nesse pas. Ns
temos a dificuldade de que haja investimento, que a nica maneira de
um pas crescer, de tirar o trabalhador da informalidade, pois, o que
leva o trabalhador para a informalidade o desemprego.
Uma poltica diferenciada para as pequenas empresas, incentivo
para o turismo, e uma poltica fiscal com taxas de juros menores; no
defendemos o calote na dvida externa mas precisamos equilibrar nos-
sas contas externas todos esses so itens importantes para o pas.
Todas as Centrais entendem isso. Alis, CUT e Fora Sindical redi-
giram um documento com tudo isso e entregaram para o presidente
Lula. O documento levou o nome de Pauta para o Desenvolvimento.
Esses so os nossos alvos.
Com relao aos movimentos sociais diversos, a aproximao do
movimento sindical com eles uma obrigao porque no campo do tra-
balho do operariado, onde essas questes so mais aberrantes: ns
temos uma diferena que faz com que o salrio da mulher seja menor,
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 267
por volta de 40% menor do que o salrio do homem. O negro sofre ain-
da muito preconceito. A Fora Sindical est atenta a isso e pensa polti-
cas para combater esses problemas, fazendo convnios, intercmbios
com outras centrais sindicais. Essa aproximao uma obrigao e uma
bandeira de luta legtima que deve ser perseguida tanto quando a redu-
o da jornada de trabalho e o aumento de salrio. Para citar s um dado,
a diretoria do nosso sindicato composta por 32 membros e s uma mu-
lher. Isso vale tambm para os partidos polticos. Preconceitos no se que-
bram com leis; preciso tom-los como bandeiras de luta. Esses proble-
mas tm que ser enfrentados no campo poltico e isso o que ns chama-
mos de papel social do movimento sindical, em especial das centrais sin-
dicais. Para isso ns temos as secretarias especficas da mulher, do negro.
Participamos dos conselhos federais e estaduais, fazemos convnios, e
sempre buscamos discutir essas questes. So aes ainda tmidas para
problemas que so culturais e que precisam de mudanas na conscincia
do cidado. Mas h uma movimentao para que essas questes no saiam
do primeiro plano. O governo Lula, por exemplo, pensa isso de esprito,
de corao, o que mostra que no s o movimento sindical, mas a socieda-
de brasileira caminha para esse enfrentamento.
Ca|os ^|oeto Gaoa
Essa questo muito atual at porque ns estamos refletindo sobre
essa realidade. De fato, o que ocorre que os sindicatos se organizam
em torno dos trabalhadores com registro, o que algo cada vez mais
raro em nosso pas, at mesmo porque mais da metade da populao
est fora do mercado formal de trabalho, esto na informalidade. Ns
temos nos deparado de fato com essas mudanas. O fundamental para
entender essa nova realidade que se mostra mais do que necessrio
uma reforma sindical, porque os sindicatos esto organizados no Brasil
com a mesma estrutura da dcada de 1930, porm hoje h um novo
padro de produo, um novo perfil da classe trabalhadora. Portanto, o
modelo de sindicalismo baseado em sindicato de categoria, na unicidade
sindical (que na verdade um modelo italiano), no atendem os proble-
mas que hoje se apresentam. preciso que nossa estrutura sindical seja
renovada.
O caminho que ns achamos mais adequado para essa renovao
o de nos inspirarmos na conveno 87 da OIT, ou seja, liberdade sindi-
268 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
cal. Com isso ns acreditamos que seja mais adequado a forma de orga-
nizar os sindicatos no mais por categorias e sim por ramos, e no ape-
nas sindicatos municipais de categoria e sim grandes sindicatos que
possam ter um carter nacional, que negociem conveno coletiva em
mbito nacional e no de forma pulverizada, at porque no Brasil h
mais de 15.000 sindicatos de trabalhadores e cerca de 4.000 sindicatos de
empregadores. Creio ser essa a viso da CUT para o primeiro passo que
far com que o sindicato possa englobar um nmero cada vez maior de
trabalhadores, inclusive atendendo a busca de trabalhadores que esto
hoje na informalidade. Essa no uma questo que diz respeito somen-
te ao sindicato; mas ao prprio pas: fazer o processo de incluso social
dessa massa de trabalhadores, um processo para traz-los, inclusive,
para a formalidade. evidente que para isso precisamos de um padro
de desenvolvimento econmico e social, a retomada de crescimento, e
os sindicatos tm todo o interesse que isso ocorra.
Nesse sentido, a primeira medida concreta foi tomada depois de
nosso 8 Congresso: promovemos justamente uma campanha pela car-
teira assinada, envolvendo poder pblico, governos estaduais, sindica-
to porque na verdade os companheiros j esto exercendo um traba-
lho, embora estejam sem registro. E no Brasil isso uma realidade, no
precisa ir para o Norte-Nordeste: aqui no Centro-Sul, na cidade de So
Paulo, ns observamos que h um contingente brutal de trabalhadores
que sequer tm sua carteira assinada, e que por conta do desemprego
nos nveis atuais, ele acaba se sujeitando, se submetendo a essa lgica.
Um dos primeiros pontos fazer com que haja um processo de fiscaliza-
o, que os sindicatos atuem de forma adequada para registrar esse tra-
balhador, porque para o empregador muito cmodo, e at para alguns
trabalhadores, que no percebem o problema que tero mais frente,
como a previdncia, o risco de correr um acidente de trabalho; (com
relao ao prprio processo de sonegao fiscal), o prprio trabalhador
acha que ficar na informalidade no to ruim assim porque no perce-
be quais sero os problemas futuros: ele olha para o imediato, para a
renda mensal que est conseguindo. Evidente que isso tambm passa
por uma conscientizao do prprio trabalhador. Essa a ao imediata.
Portanto, essa uma das medidas, aprovada no 8 Congresso h
pouco tempo (3-7 de junho de 2003), e que est na rua, como ao pol-
tica do sindicalismo cutista contra a informalidade.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 269
Ns temos tambm uma Agncia de Desenvolvimento Solidrio na Cen-
tral, que busca justamente dar uma assessoria, um acompanhamento
tcnico para iniciativas de economia. Ns sabemos que, a curto prazo, a
empregabilidade, a reinsero desse conjunto de desempregados que
temos no Brasil hoje, muito difcil, ento uma das alternativas o fo-
mento, o estmulo a iniciativas de economia solidria, cooperativas que
envolvam o conjunto de trabalhadores para desenvolver determinadas
atividades, bem como estimular os trabalhadores que tomaram a inicia-
tiva de continuar tocando massas falidas sem o modelo tradicional do
patro-empregador. Tratam-se das empresas auto-gestionrias, aquelas
empresas que por um motivo ou outro entraram em concordata, pedi-
ram falncia, e h trabalhadores agora as dirigindo.
Essa nossa Agncia est organizada em todo o pas pelos sindicatos
para fomentar e estimular o acompanhamento tcnico a trabalhadores
que tenham interesse neste tipo de investimento.
Quanto segunda parte da pergunta, a CUT tem uma tradio mui-
to particular, pela sua histria, e a nossa relao com os movimentos so-
ciais sempre foi muito estreita. Entre outras podemos citar nossa relao
com o MST: ns temos tido um processo de solidariedade, de dilogo e
muitas vezes de parceira com esse movimento; h a Central de Movimen-
tos Populares; as Pastorais da prpria Igreja; tradicionalmente ns temos
iniciativas polticas com a UNE (Unio Nacional dos Estudantes), a UBES
(Unio Brasileira de Estudantes Secundaristas), e recentemente ns inclu-
sive lanamos um idia com um conjunto de entidades dos movimentos
sociais que o de constituir uma coordenao dos movimentos sociais.
bom lembrar que ns temos uma tradio de 8 anos participando da Cen-
tral Nacional de Lutas; h ento uma srie de iniciativas de que a Central
tem participado. Muitas vezes ela promotora de iniciativas que incluem
uma articulao entre o movimento sindical e os movimentos sociais, e
muitas vezes tambm com os partidos progressistas.
A luta pelas Diretas J!, na dcada de 1980, a luta pelo impeachment
do presidente Collor, a luta na Constituinte de 1988: o movimento sindi-
cal uma parte integrante dessa luta social mais ampla e assim que
ns nos colocamos.
2. Quais so as pcrspcctivas dc uma gIobaIizao das Iutas sindicais:
Istar o sindicaIismo fadado a uma atuao apcnas no nvcI nacionaI:
270 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
QuaI o impacto quc bIocos cconmicos tais como AtCA, NAfTA,
MIRCOSUt, causam na atuao do movimcnto sindicaI c na poItica
sindicaI:
Gea|J|oo Jos Saotos
Os blocos econmicos falam em mercado comum, as centrais sindi-
cais tm suas secretarias de relaes internacionais, mas este comum
deveria ser em todas as instncias, o que no acontece.
As reas de livre mercado, de livre comrcio, devem ter como con-
trapartida uma rea de troca entre os trabalhadores: troca de idias, tro-
ca de experincias de implantao de leis e polticas, porque ns temos
empresas, por exemplo, dos Estados Unidos aqui, e empresas daqui em
outros pases. S para se ter uma idia: a jornada de trabalho nos Esta-
dos Unidos menor do que a nossa e a mdia salarial muito maior do
que a nossa. Fala-se num mercado comum das Amricas e ns, traba-
lhadores, temos que ter tambm a nossa ALCA, pois as metas de luta,
pelo menos, devem ser as mesmas: jornada de trabalho, salrio, comba-
te a discriminaes so lutas comuns e ns temos que discuti-las em
conjunto, na nossa prpria ALCA.
Porm, as situaes dos trabalhadores do Norte e do Sul so muito
diferentes. Os pases que compe a Comunidade Europia, com poucas
excees, so pases que comungam de certo padro, de salrio, de cul-
tura, de nvel de escolaridade, at de expectativa de vida: a Comunida-
de Europia tem um padro. Vamos imaginar a ALCA, as diferenas
que compem os pases que so cogitados para a composio desse blo-
co: so vrias diferenas; alis, diferenas dentro da prpria Amrica do
Sul, onde temos a Argentina, que, apesar de toda a crise, tem uma situa-
o histrica melhor do que a nossa na educao, no salrio, no salrio
mnimo, o que compe uma base de estrutura melhor do que a nossa.
Isso vale tambm para o Chile.
A luta conjunta, a pauta comum, so conquistas muito difceis. Se a
ALCA no vier a discutir todos esses sentidos, ela no acontece e no pra-
zo estabelecido isso no possvel; no possvel, com essa crise que
estamos passando, falar em mercado comum com os Estados Unidos.
Mas isso no significa dizer que isso no vai acontecer, no pode-
mos negar que o mundo hoje parte para essa composio em blocos. O
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 271
que no pode acontecer de um pas levar vantagem sobre os outros
essa opinio compartilhada pela Fora Sindical como um todo.
Ca|os ^|oeto Gaoa
H muito tempo j nos convencemos de que o movimento sindical
nacional, isolado na mbito nacional ou local, de fato no tem muita
perspectiva. No toa que a CUT j decidiu em seu congresso a filiao
CIOSL, que praticamente hegemnica hoje no mundo. E a CUT con-
ta inclusive com um secretrio-adjunto da CIOSL, que um ex-inte-
grante companheiro da direo nacional da CUT: isso a expresso de
que a luta internacionalista da CUT sempre esteve presente e ns apos-
tamos nessa frente internacional.
Eu posso citar dezenas de exemplos. Um muito prximo a rela-
o que ns temos com as centrais sindicais do Cone Sul, no caso da
Argentina, do Uruguai, e hoje se expandindo para outros pases, como
o caso do Chile. Ns j criamos uma coordenao que tem funciona-
mento permanente e que busca uma interveno articulada das centrais
sindicais do Brasil e desses demais pases do Cone Sul, e que de fato e
reconhecidamente uma coordenao muito forte, at mesmo em relao
s iniciativas regionais em todo o mundo. Ns podemos citar tambm
exemplo de integrao nas empresas multinacionais: ns hoje estimula-
mos os nossos sindicatos e trabalhadores de base, inclusive lideranas do
prprio local de trabalho, a desenvolver o intercmbio com trabalhadores
e sindicatos de uma mesma unidade empresarial em outros pases.
O mais famoso o exemplo da Volkswagen. S foi possvel, h dois
anos, uma luta pela defesa do emprego dos trabalhadores da unidade
de So Bernardo do Campo e de Taubat justamente por essa viso de
integrao internacional: ns j tnhamos uma relao antiga com os
companheiros da Alemanha, da DGB, do IGMETAL, que o sindicato
dos metalrgicos da Alemanha, e com os prprios companheiros da co-
misso de fbrica. Isso nos proporcionou negociar, l na Alemanha, o
destino de trabalhadores que haviam sido demitidos. muito presente
na nossa tradio cutista a relao internacional. lgico: as empresas
esto internacionalizadas, globalizadas, as decises muitas vezes no
so tomadas no mbito local e evidente que o sindicato tambm tem
que se globalizar, ns j nos convencemos disso h bastante tempo.
272 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Esses so exemplos para um novo internacionalismo operrio; o
registro aponta para esse conceito de uma relao internacional no s
para as empresas mas tambm para os movimentos sociais e para o
movimento sindical. A luta, por exemplo, contra a ALCA e as lutas que
ocorrem em cada reunio da OMC ou do G8 tm sido acompanhadas
por esses movimentos e os sindicatos esto presentes particularmen-
te a CUT est sempre presente. Inclusive, no ltimo encontro em Quebec
para ser tratado a assunto da ALCA, ns fizemos uma conferncia para-
lela para debater tambm como os movimentos sociais se globalizam, a
fim de combater essa globalizao, que excludente.
A classe trabalhadora no contra a globalizao, ningum defen-
de o isolamento mas tem que ser uma globalizao que seja solidria,
inclusiva, e no o modelo em que as nicas a ganhar so as grandes
empresas. Ou seja: cada evento que ocorre desses organismos interna-
cionais, multilaterais, nosso interesse ir l, estar presente para mani-
festar que existe uma outra globalizao possvel, um outro modelo em
que o ser humano seja fundamental, e no as mercadorias.
Indiscutivelmente, a CUT est muito frente em relao a outras
centrais, at por ela ser a maior central sindical, ser a primeira a ser
fundada ps-ditadura. Percebe-se que h um esforo grande tambm
das demais centrais da Fora Sindical, da CGT, da CGTB, da prpria
SDS, da CATI ; todas as outras centrais tambm tm uma participa-
o, como tambm esto integradas na coordenadoria do Cone Sul. Ago-
ra, evidente que a CUT acumulou mais experincias e o que ocorre
que elas esto hoje fazendo um esforo muito grande para se integrar.
Apesar das diferenas polticas, ideolgicas, de relaes, da pr-
pria concepo de sindicalismo entre as centrais brasileiras, quando ns
nos apresentamos nos fruns internacionais, ns temos nos pautado
sobre uma unidade de ao que muitas vezes no conseguimos desen-
volver at internamente no pas. Ns nos apresentamos de forma unifi-
cada ou nos apresentamos, na maioria das vezes, de forma conjunta. O
ltimo exemplo foi a prpria conferncia da OIT, que ocorreu agora no
ms de abril, onde ns tivemos uma atuao articulada, madura. Preser-
vada as nossas diferenas o nosso campo de disputa o nacional e
no o internacional seria at muito desagradvel nos apresentarmos
de forma dividida nesses fruns internacionais, sejam eles a CIOSL, a
OIT, a prpria OMC, ou o Mercosul.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 273
Em relao aos temas da pauta internacional, h muitas conver-
gncias e pontos em comum. Essa convergncia, que parece superar
diferenas ideolgicas com outras centrais, tem muito a ver com a estru-
tura sindical no Brasil: aqui o trabalhador se filia ao sindicato nico, e o
sindicato que se filia Central. Na tradio europia, que j tem mais
de 100 anos, essa convergncia mais difcil. A nossa estrutura sindical
ainda a herdada da era Vargas, onde o trabalhador se filia ao sindicato
da categoria e no a uma central sindical; a filiao menos ideolgica,
e a opo mais da direo do sindicato do que propriamente do con-
junto dos seus associados, em que pese haver assemblia para decidir se
se filia a esta ou aquela Central. Muitas vezes, no Brasil, o trabalhador
no sabe se o seu sindicato filiado a uma determinada central. Nossa
expectativa na reforma sindical que est em curso tendo sido criado,
inclusive, o Frum Nacional do Trabalho, por iniciativa do governo Lula
est justamente em tratar de mudar esse modelo: tem que consolidar
a central sindical.
A CUT, a Fora Sindical, e todas as outras centrais no so consti-
tudas do ponto de vista jurdico, formalmente. Enquanto uma central
sindical, ns somos uma ONG que filia sindicato; o sindicato que tem
representao formal dos trabalhadores. A CUT no pode entrar com
uma ao legal de inconstitucionalidade no Congresso; ela no pode
entrar em uma ao representando os trabalhadores o sindicato
quem tem esse poder ou essa prerrogativa formal. A primeira coisa a
fazer mudar isso, fazer com que, de fato, as centrais faam parte da
organizao sindical. So elas que negociam com o governo, que pau-
tam a agenda do movimento sindical, porm no so consideradas for-
malmente como uma central de representao sindical.
3. Quc conscqncias a crcsccntc fIcxibiIizao c prccarizao do tra-
baIbo, intcnsificada sobrctudo a partir do incio da dcada dc 90, quc
rcsuItou cm uma cada vcz maior scgmcntao cntrc trabaIbadorcs cst-
vcis c mcnos cstvcis (coIocando, incIusivc, o sindicaIismo na dcfcnsi-
va), tm trazido para o sindicaIismo brasiIciro:
Gea|J|oo Jos Saotos
Ns temos no Brasil duas categorias de cidados: os que traba-
lham e os que esto desempregados. O movimento sindical brasileiro
274 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
e isso at uma autocrtica a ns, dirigentes dos movimentos sindi-
cais ns sempre nos preocupamos com quem est empregado: as
nossas pautas de reivindicao, normalmente, so direcionadas a quem
est empregado. Mas eu diria que, com o nascimento das centrais, de
20 anos para c, a gente comea a inverter essa situao, buscando
estabelecer polticas de reintroduo desse pessoal no mercado de tra-
balho, at para que ele resgate a sua cidadania. Eu acho que um traba-
lhador que fica um ano desempregado perde a sua cidadania; ele no
tem mais cidadania. Uma pessoa dessas em uma sociedade vaidosa,
ambiciosa como a nossa, de consumo, posta de lado e o movimento
sindical, durante alguns anos, tambm fez isso, mas hoje esse quadro
se reverte.
Ns temos aqui em nosso prdio o Centro de Solidariedade, que no
atende a quem est empregado: ele atende exclusivamente os desem-
pregados, tem toda uma estrutura de psiclogos, assistentes sociais, para
atender a esse pblico. Como a economia brasileira promove uma rota-
tividade muito alta de empregados uma das maiores do mundo
ns temos uma mdia de emprego muito baixa: esse giro gera tambm
um certo nmero de ofertas de emprego, que tambm temporria: no
passa de 3 ou 4 meses. O Centro capta essas vagas, principalmente com
as grandes empresas como o Carrefour e ns alocamos essas pes-
soas nessas vagas.
Hoje em dia ningum se especializa mais, o trabalhador tem que
ser uma espcie de polivalente, portanto comum o metalrgico ir para
o comrcio, para a hotelaria. Quando o Paulinho (Paulo Pereira da Silva,
presidente da Fora Sindical) teve essa grande idia, ns gostamos, fize-
mos, e acho que hoje o Centro faz um trabalho muito bom, aplaudido:
eu acho que o Centro de Solidariedade uma unanimidade, eu nunca ouvi
ningum falar mal. Essa uma das grandes iniciativas concretas do sin-
dicalismo para combater o desemprego: o trabalhador que fica 6 meses
ou 1 ano desempregado perde sua auto-estima e resgat-la a primeira
coisa que ns fazemos aqui. No se trata de uma soluo definitiva para
o problema mas sem dvida uma boa experincia. Ns trabalhamos
inclusive com recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador);
um projeto que um caminho importante para a soluo da questo do
desemprego. Esse um papel social dos sindicatos que deve ser levado
frente.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 27S
Ca|os ^|oeto Gaoa
Ns costumamos observar que a dcada de 1990 foi uma dcada de
resistncia. Observando o que ocorreu na dcada de 1980, percebemos
que era o perodo em que estvamos saindo da ditadura, a economia
apontava alguns indicadores de crescimento, foi o grande momento do
movimento sindical, que estava, vamos dizer, represado pela ditadura,
havendo depois dela uma exploso de lutas, de movimentos, de greves,
de ao sindical. Por um lado, a economia dava um suporte mas, por
outro, a economia era tambm bastante fechada, havia um protecionis-
mo muito grande das empresas, resultado de um modelo da dcada de
60, o prprio Plano Nacional de Desenvolvimento, criado pelos milita-
res. Foi um perodo de muitas conquistas, os sindicatos comearam a se
constituir. At a Constituinte de 1988, ns agregamos muitos direitos
alm daquilo que j estava estabelecido na CLT: foram as convenes
coletivas de trabalho.
Com a dcada de 1990 e a abertura iniciada no incio no governo
Collor, no de forma gradual e seletiva mas de forma abrupta, isso trou-
xe como conseqncia que muitas empresas no estavam preparadas
para competir, pois no foram dadas as condies para isso. No entanto,
para obedecer s orientaes e ao Consenso de Washington, tiveram
que se submeter a essa lgica, o que acabou ocorrendo. Houve de fato
um enfraquecimento do movimento sindical no s no Brasil mas em
toda a regio da Amrica do Sul, em todo o conjunto da Amrica.
Ns observamos que em alguns pases o movimento sindical foi
arrasado a zero. Hoje, fazendo o balano, ns tivemos muita resistncia:
ao invs de aumento salarial, a nossa luta para garantir o emprego;
clusulas sociais que tnhamos adquirido na dcada de 80 eram coloca-
das permanentemente em risco em toda as negociaes coletivas. Que-
riam retirar direitos cada vez mais.
Mas, fazendo um balano, mesmo com toda essa avalanche neoli-
beral que se passou na dcada de 1990, o movimento sindical terminou
com um flego, com uma expresso de fora social importante.
Em algumas lutas ns fomos vitoriosos. Eu vejo o exemplo das
privatizaes: evidente que boa parte das empresas estatais foram pri-
vatizadas mas de qualquer forma ns conseguimos, no final da dcada
de 1990 e incio do ano 2000, comear a reverter na sociedade a idia de
276 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
que a privatizao iria melhorar. Isso caiu por terra. De um modo geral,
uma parcela estava convencida de que essa era a melhor forma de tratar
esse debate inclusive os trabalhadores que foram atingidos pela glo-
balizao, assim como na sociedade, naquele perodo, a maioria achava
que tinha que ter as privatizaes. Hoje ns temos o resultado de que
ns ganhamos essa disputa na sociedade pois hoje ela percebe que aquele
no foi o melhor caminho. A cada dia que tem um anncio de aumento
de tarifa, um anncio de demisses, um anncio de empresas que no
pagaram o emprstimo para o BNDES, se confirma a nossa luta, que
afirmava que por trs da privatizao estava a lgica da flexibilizao,
da precarizao do trabalho e assim por diante.
Se fizermos um balano do que mudou na legislao, at por medi-
da provisria, por decreto, eles fizeram uma colcha de retalhos, uma
srie de medidas para flexibilizar cada vez mais. E mentira dizer que a
nossa legislao no flexvel; ela muito flexvel: a prpria CLT permi-
te at reduo salarial.
Mas agora entramos em uma fase completamente nova, temos um
novo governo, uma nova orientao, dentro do prprio movimento sin-
dical. Agora vai ter um corte: antes do governo Lula e depois do gover-
no Lula. Os sindicatos, no Brasil, no vo se atrelar ao governo como foi
na era Vargas. Hoje ns temos uma viso muito madura de que o sindi-
calismo no pode ser governista, no pode ser adesista, ele no faz parte
do governo, tem que manter a sua autonomia, a sua independncia como
est escrito na nossa certido de nascimento: ns defendemos a autono-
mia e a independncia em relao aos partidos polticos, aos governos,
religio.
4. Como cncara a rcIao da ccntraI sindicaI com os partidos poIticos,
no caso brasiIciro: Im sua opinio, Icvando-sc cm conta outras cxpc-
rincias no mundo, como cst csta rcIao bojc c quaI scria a rcIao
idcaI cntrc partidos c sindicatos:
Gea|J|oo Jos Saotos
A Fora Sindical acha que nem um e nem outro deve ser correia de
transmisso, ou seja, no pode acontecer de ter idias subordinadas de
um sobre o outro. Porm, o partido tem que ser um instrumento impor-
tante da Central e a Central tem que ser um instrumento importante do
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 277
partido. Sem isso, no funciona, e foi a que o movimento sindical pecou
muito: sem a participao dele (movimento sindical) na poltica partid-
ria, naquela poca, ns esquecamos de que tudo o que ns discutimos
precisa o deputado votar para virar lei. Esse esquecimento se deu a tal
ponto que havia sindicalistas que diziam: poltica partidria da porta
do sindicato para fora. Esse foi o nosso maior erro.
H, s vezes, uma tendncia dos partidos polticos usarem o movi-
mento sindical e isso no pode acontecer, tem que ser uma relao polti-
ca, de discusso, de concluso de bandeiras, de transformao de leis. As
centrais sindicais, principalmente, tem que participar ativamente da vida
poltica porque l que as idias so concludas: por exemplo, as refor-
mas sindical e trabalhista, l que ns vamos transformar isso em lei.
Ns estamos em luta para reduzir a jornada de trabalho porque
entendemos que um instrumento para gerao de emprego e para a
melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Mas isso s vai acontecer
se as centrais sindicais estiverem presentes l no Congresso Nacional,
na disputa de correlao de foras. importante termos os nossos parla-
mentares em Braslia, nas Assemblias Legislativas e nas Cmaras Mu-
nicipais, e at mesmo no Executivo. A CUT saiu na frente nessa questo
e no podemos negar que o projeto PT-CUT deu certo, tanto que ele-
geram o presidente da repblica. Mas a Fora Sindical no copia, o tra-
balhador pluri por natureza: ns temos religio e time de futebol
dentro da central sindical, no d para se estabelecer o partido nico,
embora tenha isso na CUT. Mas por uma questo de princpio ns no
concordamos com isso e defendemos a pluralidade, porm uma plurali-
dade que deve ser controlada porque no d para ter dirigentes em par-
tidos de direita ou de extrema esquerda, tem que se manter a coerncia
mas com liberdade, respeitando a livre escolha.
A participao poltica muito importante e hoje o presidente da
nossa central est no PDT e, sem impor nada para ningum, est tentan-
do, ele, organizar o partido no estado de So Paulo. Uma central sem
uma participao poltico-partidria ter resultados muito pequenos.
A existncia de mais de uma central mostra que existe um campo
ideolgico diferente, e em alguns casos at discordante mas isso est
quase ultrapassado: as 6 centrais (Fora Sindical, CUT, CGT, CGTB, CATI
e SDS) fizeram um documento que foi enviado para Lula, no Frum do
278 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Trabalho. As 6 centrais esto juntas; evidente que ns no temos con-
senso em todos os temas, mas estamos juntos.
A campanha salarial no estado de So Paulo hoje conjunta entre
CUT e Fora Sindical, fizemos em conjunto uma nica manifestao. Do
ponto de vista internacional, isso j at mais avanado: as bancadas
das vrias centrais compem e se organizam em conjunto, principalmen-
te no Mercosul; viajam juntas para a Europa, para as reunies da OIT, e
isso hoje se reflete em nossas atuaes aqui dentro do pas. Documentos,
campanha salarial, Frum do Trabalho, so esforos conjuntos. No co-
meo, eu particularmente achava isso impossvel e hoje eu j acredito
que extremamente possvel. No incio das Centrais, a coisa era mais
acirrada: a Fora Sindical aqui comeou com o Medeiros e a passou
para o Paulinho, que j uma figura diferente; l na CUT tambm, Jair
Meneguelli, depois Vicentinho, j com uma viso mais ampla, e agora o
Marinho, com uma viso totalmente mais ampla. Ns temos divergn-
cia e esse o motivo de existir mais de uma Central, mas na unidade de
ao a divergncia tem que ficar de lado porque quem ganha com isso
o trabalhador, e a nossa viso : o trabalhador acima de tudo. Na medi-
da em que a bandeira comum, no h motivos para estarmos em pa-
lanques diferentes; temos que estar em palanque juntos. o que ns
chamamos de unidade de ao.
Ca|os ^|oeto Gaoa
No d para negar que a maioria dos integrantes da CUT tambm
filiada ao PT. Tanto a CUT quanto o PT foram resultado de um acmulo
que se colocou no incio da dcada de 80 contra a ditadura e a classe traba-
lhadora brasileira precisava de instrumentos para ampliar a sua luta.
Observando a experincia internacional, obviamente ns tnhamos
que construir uma Central Sindical, mas tambm tnhamos que consti-
tuir um partido poltico, caso contrrio correramos o risco de ter uma
luta espetacular, extraordinria, mas no dia seguinte o governo, atravs
do Congresso Nacional, edita uma medida provisria e derruba tudo
aquilo que voc conquistou na luta direta entre capital e trabalho.
Na opo de constituir estes dois instrumentos, o partido e a cen-
tral sindical, tanto nos princpios do PT quanto nos da CUT, se coloca
muito clara a relao de autonomia do movimento sindical em relao
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 279
ao partido poltico e tambm no respeito do partido poltico autono-
mia da central sindical. Sobre esses princpios que a vida real foi apon-
tando uma srie de momentos, inclusive de conflitos, e eu cito dois ou
trs deles.
O primeiro foi quando as centrais sindicais estavam negociando a
reforma da previdncia, em 1989. As centrais chegaram a um acordo,
depois o governo voltou atrs mas, enfim, o PT foi contra. Recentemen-
te, em 2002, houve um acordo do Ministrio do Trabalho em relao
perda dos planos econmicos sobre as contas do FGTS (Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Servio): ns nos colocamos contra a ltima pro-
posta apresentada pelo Ministrio do Trabalho do Governo Federal,
governo Fernando Henrique, e os deputados do PT votaram a favor
daquele acordo, no Congresso Nacional. Ento eu citei estes dois exem-
plos para dizer o seguinte: tem uma autonomia, inclusive nessa reforma
da previdncia que, eu diria, talvez tenha sido, no curto perodo ainda
do governo Lula, o ponto de maior tenso, pois a CUT foi contra a pro-
posta de reforma da previdncia que o governo apresentou e negociou
com os governadores. Apresentamos, inclusive, uma srie de emendas
e os deputados da base governista, com exceo de alguns do prprio
PT, votaram a favor e ns fizemos manifestao e fomos contra, denun-
ciando que na reforma haveria perda de direitos.
Estou dizendo isso para ilustrar que essa vai ser a nossa marca
frente ao governo Lula e aos partidos polticos. Ns vamos agir com
autonomia e no se trata de simplesmente dizer: vamos apoiar medidas
positivas e vamos denunciar medidas que ns no concordamos no
exatamente assim. O que ns vamos fazer agir com autonomia, por-
que ns temos a responsabilidade de ter apoiado a candidatura do pre-
sidente Lula; ns fomos uma das entidades que apoiaram, no processo
eleitoral, de forma oficial, a candidatura do Lula, porque do ponto de
vista dos trabalhadores ns achamos que seria melhor um governo Lula
do que um governo Jos Serra, que seria a continuidade do programa
liberal do Fernando Henrique Cardoso. Agora, isso no implica que a
CUT vai se agregar ao governo, porque quem teve uma postura como
essa, na histria da Europa, quem teve esse comportamento, no final do
governo terminou muito enfraquecido e ns queremos terminar o go-
verno Lula pelo sucesso, pela vitria, que ele consiga realizar o seu pro-
grama de governo. Mas, evidentemente, ns queremos terminar o go-
280 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
verno mais fortalecidos, porque os governos passam mas os direitos
dos trabalhadores continuam.
preciso observar, tambm, a presena de integrantes de outros
partidos dentro da CUT. Foi criada realmente essa imagem de que a
CUT PT. Pois h outros partidos, integrantes de outros partidos, de
outras vises partidrias e at mesmo gente sem partido, que atua na
CUT, e esse pluralismo excelente. Hoje ns temos dentro da Executiva
Nacional da CUT, que so 32 membros, temos integrantes do PT, PCdoB,
PSTU, PSB, e dirigentes que no so integrantes de nenhum partido.
Para ns, e para a histria da CUT, essa pluralidade foi muito saudvel,
inclusive para praticar a tolerncia e o cuidado de no tratar a central
sindical como um partido poltico, porque ela tem um papel mais amplo
que o de tratar dos direitos dos trabalhadores. Ela no tem uma plata-
forma poltica, ela tem uma plataforma sindical, independentemente do
que pensam os partidos polticos.
Se os partidos polticos esto de acordo com a nossa plataforma,
timo, podemos atuar juntos, mas esse no o objetivo principal, pois
quando os dirigentes tentam, a partir das resolues dos seus partidos,
enquadrar uma central, isso plenamente condenvel dentro da CUT.
Certos posicionamentos devem ser discutidos dentro dos partidos pol-
ticos e no dentro da Central; aqui uma frente ampla de luta dos inte-
resses gerais; se no for assim, no tem por que de uma central sindical.
Esse respeito existe. bvio que tem, permanentemente, muitas tenses
quanto s observaes da conjuntura, da estratgia, da ttica de como a
central deve se posicionar diante de determinados temas mas isso sau-
dvel porque um processo de debate permanente.
S. Ixistc (ou no) compatibiIidadc cntrc, por um Iado, dircitos trabaIbistas
c, por outro Iado, produtividadc, quaIidadc c crcscimcnto cconmico:
Gea|J|oo Jos Saotos
Ter as duas coisas extremamente possvel. Quando diz que no, o
empresariado est na sua razo: eles acham que vo conseguir produti-
vidade com salrio baixo, trabalhador passando fome desse modo,
no vo conseguir muito porque produtividade est muito relacionada
a bem estar, qualidade de vida, e isso quer dizer: salrio bom, com o
qual voc pode comer, pode pagar educao, sade. Por que temos tan-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 281
tos direitos no texto da CLT, como um tero de frias, 40% do fundo de
garantia e vai por a? Primeiro porque o salrio baixo, e os sindicatos
foram reivindicando as incorporaes; em segundo lugar, porque o Es-
tado brasileiro ausente em muitas coisas e sade e educao so duas
delas. Ento, fazer com que a empresa pague plano de sade no ne-
nhum benefcio, a conquista do sindicato frente ao patro.
Dentro do Congresso, do frum tripartite, o empresariado tem, por
algum motivo, dificuldade de enfrentar politicamente o governo no
estou falando do governo Lula mas de todos, e eles acham que mais
fcil enfrentar os trabalhadores fora desses lugares. De fato, por exem-
plo, aqui em So Paulo o empresariado tem uma carga tributria muito
grande, a folha de pagamento aqui praticamente dobra, com um traba-
lhador que ganha R$1.000,00 eles praticamente tm que desembolsar
R$2.000,00 mas isso no por culpa de alguns direitos que os trabalha-
dores tm; por culpa de uma carga tributria astronmica que cai so-
bre a folha de pagamento.
A conscincia que o empresariado tem que ter a de que quanto
melhor eu pagar o meu trabalhador, melhor ele vai produzir, porque,
como eu j disse, produtividade est ligada qualidade de vida, que
est ligada a um bom salrio para sobreviver no meio de uma sociedade
de consumo, em uma sociedade capitalista.
Ns entendemos que a convergncia dessas duas coisas possvel
sim; os empresrios afirmam o contrrio justamente porque o alvo deles
so os direitos dos trabalhadores: dcimo terceiro, frias, os 40% do fun-
do de garantia. Se ns abrssemos mo dos direitos dos trabalhadores
em nome no sei do que, a sim, a produtividade dos trabalhadores es-
taria comprometida, porque a o trabalhador teria menos renda e com-
prometeria a produtividade.
Ns no podemos confundir produtividade e qualidade de produ-
o com desemprego. Existem outros mtodos para as empresas reduzi-
rem custos mas elas no se propem a fazer isso. Hoje ns temos, por
exemplo e isso lei mas ns ainda no conseguimos fazer valer , a
participao nos lucros e resultados: a sim, tem condies de discutir a
reduo de custos e a qualidade para que o produto saia. Mandar embo-
ra e dizer que isso reduo de gastos, com isso ns no concordamos.
O caminho outro, fazer investimento, estimular o crescimento para
aumentar o emprego e a qualidade.
282 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Ca|os ^|oeto Gaoa
Os trabalhadores no so contra a melhoria da produtividade e da
competitividade, o problema quem que desfruta desses resultados.
Tem sido a realidade do Brasil e do mundo que esse padro de desen-
volvimento e esses resultados que so atingidos no so apropriados
pela sociedade e pelos trabalhadores; ele um modelo excludente e de
concentrao maior da riqueza e do poder. O problema do modelo de
desenvolvimento e de como a sociedade tem se organizado.
Dizer sou contra o avano tecnolgico o equivalente situao,
hipottica, de dizer: vamos quebrar as mquinas de banco 24 horas
porque est tirando o emprego de bancrio; ento, o sindicato dos ban-
crios puxa uma luta e diz: companheiros, vamos destruir essas m-
quinas!. No. O problema quem se apropria, porque esses avanos
poderiam ser utilizados justamente para melhorar os direitos dos traba-
lhadores se os resultados fossem distribudos para a sociedade atravs
da reduo da jornada de trabalho, por exemplo.
Existe um conceito que foi se difundindo ao longo dos anos, de que
o trabalho enobrece o homem, e que foi construdo ao longo da nossa
vida, (mas) o trabalho cansa, desgasta, o objetivo no o de construir
uma vida para trabalhar mas o de construir uma vida para ser desfruta-
da. Essa incompatibilidade do ponto de vista da lgica do modelo
hegemnico, que concentrador, que no possibilita sociedade parti-
cipar dos resultados do avano tecnolgico.
Eu acompanho muito a indstria automobilstica, o avano de pro-
dutividade a cada ano de homem/carro algo espetacular. Agora, o que
pregado no local de trabalho que tem que melhorar aqui porque se
no vamos perder nossos empregos para os chineses, para os japoneses,
ento se estabelece uma lgica em que a disputa e a competitividade
fazem parte da vida do trabalhador, e no ; do modelo de desenvolvi-
mento. Para que os trabalhadores possam ter tambm as suas participa-
es nesses resultados que o sindicato tem que ser forte; o nico
instrumento que tem, justamente, para minimizar essa concentrao e
essa excluso. Agora, o sindicato tambm limitado, porque ele atua
em nvel local e mesmo em nvel global tem muitas contradies. Ns
vivemos num perodo recente a discusso sobre se uma grande
montadora iria produzir no Brasil ou se iria produzir no Mxico; qual
a postura dos trabalhadores do sindicato mexicano e a posio dos tra-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 283
balhadores do sindicato brasileiro; o jogo do modelo do sistema era
colocar-nos um contra o outro, mas ns reunimos os dois sindicatos e
dissemos: ns no podemos entrar na lgica da empresa, ns temos
que equilibrar onde todos possam ganhar, e muitas vezes essa equa-
o o fio da navalha. Essa disputa teve um resultado interessante: a
planta acabou no se consolidando nem no Mxico, nem no Brasil: foi
para o Leste Europeu, que apresentava condies do ponto de vista com-
petitivo mais interessantes para eles. Aps a queda do muro de Berlim,
as empresas europias descobriram ali, onde era a Alemanha Oriental,
uma mo-de-obra barata, extremamente qualificada. um exemplo de
que no podemos entrar nessa lgica.
Crescimento, desenvolvimento, produtividade com ampliao de
direitos e melhora na qualidade de vida so, sim, compatveis: se no
for para isso, que mundo estamos construindo? Dificilmente vamos ga-
nhar apenas no debate sindical, sobre: o modelo de desenvolvimento, as
relaes internacionais, rediscutir o papel da ONU, da OIT, da OMC, do
G8 isso implica que os governos tenham, fundamentalmente, poder
de barganha com relao s empresas.
Hoje as empresas tm mais poder do que os governos, isso o que
est colocado: as empresas determinam e definem mais do que os go-
vernos, esto acima deles. Uma General Motors no segue nenhuma
orientao governamental, a vinda daquela planta industrial para o Bra-
sil ou para o Mxico (ver exemplo mencionado acima) dependia justa-
mente de uma interferncia governamental, que no ocorreu. Essas
empresas tm hoje um poder de acmulo de capital, de comunicao,
muito grandes, e os governos locais ficam, simplesmente, margem
dessas decises.
Por que ns tivemos que, dois anos atrs, negociar um acordo l na
Alemanha? Porque o governo brasileiro no tinha nenhuma possibili-
dade de influenciar em nada as empresas. Portanto, os governos tm
que recuperar esse poder de interveno na poltica econmica do mo-
delo de desenvolvimento econmico e social, e no deixar apenas as
empresas porque a lgica que prevalece a da incompatibilidade entre
os termos da pergunta. Quem concentra para se fortalecer mais ainda
a empresa multinacional.
Questionar tudo isso e introduzir esses temas no debate vital para
o movimento sindical hoje. Isso se d ainda de forma muito setorial mas
284 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
nas direes sindicais h o amadurecimento, o fortalecimento e a com-
preenso de que preciso influenciar esses organismos internacionais,
sobretudo na OIT e na OMC; de que preciso reivindicar uma regulao
no mercado. A OIT foi criada justamente com esse intuito: um rgo
dentro da ONU. Ela tripartite para regular as relaes entre capital e
trabalho, criar um certo equilbrio na relao entre os trabalhadores e os
empregadores. O problema que a OIT no tem fora; qualquer multi-
nacional mais poderosa do que ela. As convenes da OIT so desres-
peitadas a todo o momento, inclusive por pases que escrevem essas
convenes. Ento, h uma necessidade e uma compreenso no vou
dizer que uma compreenso hegemnica, linear, e que todos os diri-
gentes tm clareza disso mas pelo menos nas direes e os mais respon-
sveis tm essa clareza de que tem que influenciar nesses organismos
internacionais para regular a ao dessas empresas. Elas chegam, se ins-
talam, no respeitam absolutamente nada e no dia seguinte dizem: aqui
no est sendo competitivo, vamos mudar para outro local, e o que fica
de custo social culpa do governo local. A responsabilidade social das
multinacionais uma bandeira forte.
Por que ns conseguimos, no Brasil, a luta contra o trabalho infan-
til, chegando inclusive a estabelecer a legislao que protege e impede
esse tipo de trabalho? Foi pela luta internacional, pelas denncias nos
fruns internacionais, de onde veio uma presso sobre as multinacio-
nais. Algumas empresas no usavam diretamente mo-de-obra infantil
mas os seus fornecedores, nas suas cadeias produtivas, haviam espalha-
do muito trabalho infantil.
A principal campanha que foi feita na OIT e que ns conseguimos
influenciar foi a do trabalho decente. Logo a questo do salrio, da jor-
nada, da no discriminao, do respeito ao trabalhador, com a ajuda dos
diversos segmentos e movimentos sociais, foram levadas frente. Ns
temos muitos exemplos: o sindicato local no tem fora, ele vai perder
porque, no limite, a empresa diz: estou mudando daqui. Por isso
preciso regular essas relaes e os governos tm que ter fora, pois, se o
governo no tiver fora, se os sindicatos no estiverem atuando de for-
ma integrada, a empresa vai se aproveitar porque o sindicato pequeno
no consegue ter acesso nem a rdio! Isso explica a mudana, inclusive,
de empresas para reas sem influncia do movimento sindical, e que
ocorreu muito na dcada de 90.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 28S
Mas alguns hoje j dizem: melhor administrar e estabelecer um
contato com o sindicato. Porque, caso contrrio, daqui h alguns anos, se
ter o mesmo problema. Um exemplo tpico sobre isso o da Cofap: ela
saiu de Santo Andr e foi para o sul de Minas Gerais: ali tinha mo-de-obra
mais barata, no tinha sindicato, ela ali se instalou. O que ns fizemos?
Fomos at l e dissemos para os trabalhadores que eles tinham que se
organizar em sindicatos. Ento eles organizaram todas as unidades em
sindicatos e estavam integrados inclusive, ns levamos para os traba-
lhadores l no sul de Minas informaes sobre os direitos que ns j t-
nhamos conquistado aqui em Santo Andr. Ento, a presso dos traba-
lhadores para atingir um grau de condies mnimas era permanente.
O Boletim do Sindicato dos Metalrgicos do ABC, na dcada de 70,
que deu o maior impacto nos trabalhadores foi justamente quando o
sindicato apresentou um estudo comparando o salrio dos trabalhado-
res no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos. Isso foi um choque
porque a diferena era brutal, chegava a ser de dez vezes mais (relativa-
mente ao Brasil). Hoje essa distncia diminuiu mas isso foi uma coisa
que fez pegar fogo porque ns mostramos as contradies. Com isso
voc mostra: aqui voc conseguiu transporte, assistncia mdica, direi-
to de se organizar no seu local de trabalho... Essa ferramenta do com-
parativo sempre foi uma coisa que, bem utilizada, rendeu muitos resul-
tados para o movimento sindical. Esse exemplo da Cofap foi fantstico
porque, depois, ela fez um balano e concluiu que teria sido melhor
manter a produo em Santo Andr.
6. QuaI foi o marco da virada no movimcnto sindicaI quc Icvou a ccn-
traI a participar dos foruns dc conccrtao sociaI, dos foruns triparti-
tcs: I possvcI rcproduzir as prticas dc conccrtao sociaI cm mbito
supranacionaI:
Gea|J|oo Jos Saotos
A Fora Sindical, quando nasceu (a criao da Fora Sindical data
de 1991), j nasceu com esse propsito de participar. Ns entendemos
que uma das maneiras de defender a transparncia, o equilbrio da nos-
sa sociedade ns participarmos da vida do Estado; ns sempre enten-
demos isso como positivo. A CUT no comeou assim mas eles reviram
sua posio e hoje tambm fazem isso abertamente. Ns participamos
286 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
hoje de praticamente todos os conselhos. Vou citar os mais famosos:
Conselho do Fundo de Garantia por Tempo de Servio, Conselho do
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social), Con-
selho do FAT (Fundo de Amparo do Trabalhador) esse ltimo o que
tem mais dinheiro e ns temos uma participao muito direta nele. Ns
queremos participar mais porque, apesar de terem os conselhos tripartite,
a palavra final sempre do Estado. Por exemplo, no FAT o aval final
sempre do Ministrio do Trabalho. Mas ns participamos de todos os con-
selhos e tambm dos fruns, do Conselho de Desenvolvimento Econmi-
co e Social, no qual o Paulinho o titular. Ns entendemos que melhor
concordar ou fazer a crtica l do que fazer isso fora. A Fora Sindical
sempre pensou assim e sempre participou desses fruns e conselhos.
A participao nos conselhos no nos afasta da vocao sindical, ao
contrrio, nos permite fiscalizar aquilo que nosso: o Fundo de Garan-
tia, o FAT, so dinheiros do trabalhador, ento ns temos que estar pre-
sentes l para fiscalizar o uso do que nosso. Isso uma maneira de, na
prtica, ns fiscalizarmos aquilo que diz respeito diretamente aos traba-
lhadores.
Ca|os ^|oeto Gaoa
Esse um debate que sempre volta nos congressos da CUT, que
justamente sobre a participao em fruns tripartite. Existe um setor
minoritrio dentro da Central que acha que a CUT no tem que participar
de nenhum frum; a CUT tem que ter uma pauta, ela apresenta e negocia
em cima dessa pauta com os governos ou com os empresrios. A absoluta
maioria tem defendido, e tem sido uma marca da CUT, a participao nos
fruns tripartite, sejam eles internacionais como a prpria OIT , se-
jam eles nacionais ou regionais, porque trata-se justamente de no perder
espao: no limite, voc est apresentando, no frum, denncias de maus
tratos, de descumprimento de direitos dos trabalhadores.
No Brasil, a nossa experincia sindical nos pe como bandeira que
os trabalhadores tm que participar de forma autnoma das decises do
pas. Existem dezenas de fruns em que a CUT participa. Eu, particular-
mente, sou do Codefat (Conselho Deliberativo do FAT), que um fundo
pblico, e ns temos uma participao para decidir em que lugar esse
fundo ser melhor investido. Isso tem tudo a ver com renda, emprego,
qualificao, seguro-desemprego; se os trabalhadores no esto l,
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 287
deixar s governo e empresrios boa coisa no pode acontecer; por me-
lhor intencionado que seja esse governo, muitas vezes ele vai ficar re-
fm dos interesses empresariais. A participao do movimento sindical
no Codefat assim de extrema importncia. Um outro exemplo o Con-
selho da Previdncia Social, e agora os mais recentes, que foram imple-
mentados pelo presidente Lula. O Fernando Henrique, durante os seus
8 anos, nunca se sentou com o movimento sindical para discutir uma
medida provisria que interfere na relao capital-trabalho. Ele implan-
tou banco de horas sem dialogar com o movimento sindical; implantou
a lei do trabalho por prazo determinado com incentivos, reduzindo FGTS,
INSS. Ento, comparando isso ao que temos hoje, ou seja, um governo
que se prope fazer uma reforma sindical e trabalhista e para isso cons-
titui um Frum Nacional do Trabalho, uma coisa excepcional, ns no
podemos deixar de estar l, de ocupar esse espao. A nossa avaliao
dos fruns, portanto, tem sido positiva.
Quanto ao Conselho de Desenvolvimento Econmico e Social que
foi criado, ele um conselho consultivo, sugestivo, para o presidente Lula.
A sua composio no a da lgica do tripartismo. Ele convidou persona-
lidades, o convite pessoal, no um convite institucional: assim que a
CUT considera. H lideranas da CUT que so membros do Conselho;
um convite pessoal do presidente, ento no necessariamente ele precisa
acatar as sugestes. Ns no estamos tratando isso de forma instituciona-
lizada. Evidentemente, os conselheiros trazem o debate para o dilogo na
direo da CUT, e a CUT tambm apresenta o seu ponto de vista mas no
uma relao institucional, diferente do Frum Nacional do Trabalho:
aqui a bancada da CUT institucionalmente estabelecida.
288
Lntrovlstas com Manuol Carvalho da Sllva (CC1l-lN)
o }oao lroona (UC1)'
1. Muitos anaIistas tm vindo a traar um diagnostico pcssimista do
sindicaIismo dc bojc, subIinbando a sua crcsccntc fragiIizao. Uma
crtica quc, por vczcs, sc aponta aos nossos dirigcntcs sindicais quc
continuam a organizar os programas dc Iuta actuais com basc no prcs-
suposto do trabaIbo cstvcI c num conccito dc cmprcgo quc cntrc-
tanto cst a dcsaparcccr c no conscgucm cncontrar formas dc con-
jugar a dcfcsa dos dircitos dos trabaIbadorcs com os dos dcscmprcga-
dos, pobrcs c cxcIudos. Gostaramos quc comcntassc csta qucsto c
nos aprcscntassc as pcrspcctivas dc aco para o futuro imcdiato do
sindicaIismo portugus a cstc proposito. Ixistcm dcbatcs intcrnos c idcias
novas cm torno dcstcs probIcmas: faz scntido pcnsar a aco sindicaI
futura cm articuIao com outros movimcntos associativos, por cxcm-
pIo, movimcntos anti-racistas, dc dcfcsa do ambicntc, dos dircitos bu-
manos, dos dircitos dos consumidorcs" c outras ONGs:
\aoue| Ca.a||o Ja S||.a
Em relao a este primeiro conjunto de questes, e quanto ao diag-
nstico do sindicalismo, gostava de referir uma expresso que ouvi no
Frum Social Mundial de Porto Alegre ao director geral da OIT. Disse ele,
a determinada altura, que as teorias do fim do trabalho no foram muito
objectivas, pois a realidade actual mostra que, afinal, o fim do trabalho
' Conduzldas por Llislo Lstanquo o Hormos Augusto Costa.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 289
no era exactamente o anunciado, mas sim a pretenso do fim do traba-
lho com direitos. Isto , estamos numa fase em que nos debatemos no
mundo do trabalho com um grande ataque aos direitos que os trabalha-
dores, essencialmente na Europa, e nos pases mais desenvolvidos, foram
incorporando nas relaes de trabalho ao longo de duas dcadas.
Um segundo aspecto a salientar diz respeito evoluo do concei-
to de trabalho. Penso existir um dfice muito grande de debate e refle-
xo (dentro do prprio movimento sindical, mas tambm fora dele) que
prejudicial aos trabalhadores e s foras de esquerda. O conceito de
trabalho precisa de ser debatido luz da reflexo histrica. Apesar da
crise do valor do trabalho, ele continua a ter um lugar central na socie-
dade actual, desde logo como factor de produo, mas tambm como
factor de socializao, ou seja, como factor de onde emanam qualifica-
es diversas para a sociedade de hoje, e fonte e espao de onde emer-
gem direitos sociais e direitos de cidadania. O trabalho tem ainda uma
centralidade na sua relao com os estilos de vida, na sua relao com o
ambiente, que marcam esta sociedade de consumo e de lucro. Relativa-
mente relao do trabalho com o meio ambiente, permitam-me dizer
que, quando entro numa empresa e quero observar se esta tem ou no
futuro, uso muitas vezes a observao sobre as condies de trabalho, o
ambiente de trabalho, as condies de higiene e segurana no trabalho,
como indicador fivel para essa observao. As questes do ambiente e
da ecologia relacionadas com o trabalho so reas potenciais de criao de
postos de trabalho, mas tambm marcam as caractersticas do trabalho.
H ainda uma outra vertente da centralidade do trabalho que vale
a pena mencionar e onde preciso desenvolver muita reflexo: o traba-
lho como fonte de dignidade humana. Neste aspecto preciso desen-
volver reflexo sobre o que significa esta centralidade do trabalho luz
da afirmao da cidadania. Portanto, o trabalho continua a ser impor-
tante, mas a organizao dos indivduos no trabalho est a evoluir e a
modificar-se, e aqui que se centram muitas batalhas do sindicalismo.
O sindicalismo hoje uma forma de organizao, uma interveno/or-
ganizao colectiva e tambm individual dos trabalhadores-cidados que,
numa perspectiva de classe, ter que ser e profunda e crescentemente
combativo e de massas.
Diz-se, muitas vezes, que o sindicalismo se ancorou em certas for-
mas velhas. Mas no ser que h na sociedade um peso significativo
290 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
dessas formas, que faz com que os trabalhadores estejam profundamen-
te presos e prisioneiros dessas tradicionais formas de trabalho? Muitas
das formas de trabalho emergentes incorporam os velhos condicionalis-
mos e mecanismos da organizao do trabalho e isso obriga a que os
sindicatos, em mltiplos casos, no saiam muito dos contornos centrais
do processo em que esto historicamente situados. Fazem-se acusaes
sobre a fragilidade dos sindicatos, sobre a sua ingenuidade, sobre o seu
dfice de representao, mas os mesmos que as fazem so, muitas ve-
zes, aqueles que impedem, at ao limite, que os sindicatos se manifes-
tem, se afirmem livremente do ponto de vista ideolgico, material, org-
nico (desde logo nas empresas), e em diversos campos. De qualquer
forma, penso que os problemas de adequao dos programas de luta
dos sindicatos realidade actual constituem um desafio muito impor-
tante a travar que tem a ver com todas estas questes e tambm com a
sua capacidade de articular aco com outros movimentos.
H trs grandes problemas com que os sindicatos se debatem, no
que diz respeito a programas de luta eficazes e atribuo a cada um deles
a mesma importncia. O primeiro diz respeito relao com os poderes,
em particular ao poder econmico, que dispe hoje de meios que lhe
permitem facilmente deslocalizar o ponto e o momento do conflito, atra-
vs de manipulaes mltiplas das contabilidades, da deslocalizao dos
processos produtivos, da subcontratao, etc. Assim, o conjunto de me-
canismos de regulao e de conflito entre trabalho e capital, entre a enti-
dade patronal e o trabalhador, movem-se constantemente, e quando
chega o momento de se colocarem em posies de confronto, o ponto de
conflito foi deslocalizado, saindo muitas vezes os trabalhadores e os sin-
dicatos de mos vazias, no pela falta de trabalho preparatrio ou dis-
ponibilidade para agir, mas sim porque a sua aco nem sequer chega a
ter visibilidade e a produzir qualquer efeito. O segundo aspecto diz res-
peito crescente separao entre poder poltico e responsabilidade so-
cial. As decises polticas tm mltiplas dimenses e qualquer deciso
poltica tem uma componente social, mas hoje o poder poltico diz cada
vez mais que no assim e o social fica entregue aos determinismos do
econmico. Trata-se, portanto, de uma vulnerabilidade imensa que traz
novos desafios aos sindicatos e sociedade, pois o social entregue
dependncia do lucro e lgica do consumo esvazia-se em absoluto. O
terceiro aspecto diz respeito ao problema de os sindicatos conseguirem
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 291
articular a dimenso de interveno institucional, de que no devem
abdicar, com a essncia da sua aco como movimento social. A este
respeito, registe-se que esto a surgir novos sinais e novas dinmicas
como a que hoje (23.03.2002) est a ocorrer em Itlia. Nos ltimos dois
anos, a Confederao Europeia de Sindicatos vem fazendo, de 6 em 6
meses, grandes manifestaes. Tivemos em Maro uma manifestao
em Barcelona, genuinamente sindical, onde a prpria polcia disse esta-
rem mais de 100 mil trabalhadores, mobilizados em torno de temas muito
diversificados do mundo do trabalho. Em Portugal, esta viragem teve
incio em 2000 (23 de Maro) com uma enorme manifestao em Lisboa,
na altura da Cimeira de Maro (com cerca de 80 mil pessoas), organiza-
da pela CGTP-IN e com a presena do Secretrio-Geral da CES e depois
em Junho, com uma manifestao no Porto, com participao da UGT,
uma forte representao do Movimento Sindical espanhol e francs e da
generalidade do movimento sindical europeu.
H, pois, movimentao social diversa, mas existe na sociedade
portuguesa um dfice elevado de participao, que atinge tambm os
sindicatos. Isto prende-se com a posio do poder poltico em Portugal
em relao ao movimento sindical. H uma atitude de imposio de
uma representatividade instituda, com esquemas previamente monta-
dos pelo poder poltico, por exemplo, em relao concertao social,
onde esto presentes trs confederaes patronais e as duas confedera-
es sindicais. As confederaes patronais tm feito da sua participao
mais uma interveno poltica e de obteno de contrapartidas imedia-
tas, do que um exerccio de afirmao de posies inerentes ao desen-
volvimento estruturado das empresas que representam e das mudanas
necessrias evoluo do sector produtivo. Nos processos de negocia-
o h assim, objectivamente, um dfice de representao patronal.
Quanto s confederaes sindicais, elas so apresentadas como uma es-
pcie de faces iguais da mesma moeda. Isso cria dfices e dificulta o
relacionamento no prprio movimento sindical e limita a sua capacida-
de de interveno. Mas, se temos nesta sociedade dfices de participa-
o que atingem os sindicatos, temos tambm uma grande fragilidade
dos movimentos sociais e ainda uma confuso entre movimentos so-
ciais e as chamadas ONGs.
Para mim verdade que os sindicatos esto atrasados na sua
aco de articulao com outros movimentos sociais. Pela nossa parte
292 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
(CGTP-IN) temos, neste momento, uma discusso sria sobre o assunto
na sequncia de dinmicas que observmos no ano passado e este ano
no Frum Social Mundial de Porto Alegre, de debates que fizemos du-
rante o ltimo ano com a CUT do Brasil, com a CTA da Argentina, etc.
H um ms, encarregmos um membro da comisso executiva de co-
mear a coordenar um plano de trabalhos naquilo a que chamamos alian-
as sociais, que so necessrias neste campo. Neste trabalho preciso
ter presente que uma sociedade com trabalho digno, uma sociedade
integrada, de paz e com potencialidades de desenvolvimento.
Sou defensor de que o movimento sindical deve ter um espao de
que no pode nem deve abdicar. Cometeramos um erro estratgico se
deixssemos que as questes sindicais fossem tratadas como as ques-
tes de mais uma ONG. Temos, entretanto, obrigao de articular a aco
do movimento sindical com outros movimentos sociais e tambm com
as ONGs, mas tambm aqui precisamos de um debate, pois os movi-
mentos sociais so uma realidade muito concreta. Concordo com Alain
Touraine quando ele afirma que um movimento social pe sempre em
causa relaes de poder institudas. Penso que nos situa bem em rela-
o gnese do prprio movimento sindical, da qual as ONGs diferem
profundamente.
Na articulao de aco que defendo como estratgia de interven-
o dos movimentos sociais, quer eles se organizem em torno do tema
da excluso, quer do ambiente, quer da igualdade, quer da paz, etc.,
ter que se clarificar os espaos, as representatividades especficas e ter
respeito por todos, pois no por um ser muito representativo e o outro
ser pouco que o tratamento tem de ser diferente, ter que ser diferen-
ciado. Na sociedade actual, h uma carncia de participao e da uma
necessidade de pluralidade de movimentos e de dinamizao da sua
aco. Uma viso ampla do conceito de trabalho, como a que referi, con-
duz hoje obrigatoriamente os sindicatos para um trabalho de articula-
o com a generalidade desses movimentos sociais.
loao |oeoa
O trabalho est a mudar de uma maneira cada vez mais acelerada,
no quadro das mudanas que ocorrem nas empresas, sujeitas a uma
competitividade crescente, com necessidade de uma resposta cada vez
mais rpida aos desafios da globalizao e da evoluo tecnolgica. Sur-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 293
gem novas formas de organizao de trabalho, quer no interior das em-
presas, quer em situaes muitas vezes de fronteira entre o trabalho
dependente e o trabalho independente (como acontece com o
teletrabalho). Mas, ao contrrio do que muitos previam, o trabalho por
contra de outrem permanece largamente predominante. Os sindicatos,
como organizaes de defesa dos interesses destes trabalhadores, so
cada vez mais necessrios, tanto mais que as condies de vida e de
trabalho esto cada vez mais dependentes de decises fora da empresa,
quer a nvel nacional, quer internacional. O aumento do desemprego,
no fim dos anos 80 e princpio dos anos 90, trouxe grandes dificuldades
ao movimento sindical, com uma diminuio dos trabalhadores sindi-
calizados e a necessidade de se adaptarem a um mundo em mudana.
Esta situao est em grande parte ultrapassada e os sindicatos es-
to novamente em crescimento no nmero de trabalhadores filiados.
Mas o processo de adaptao mudana prossegue com vista tambm a
responder aos desafios da pobreza e da excluso (ligados na maioria
dos casos ao desemprego e precariedade), do aumento da economia
informal, da defesa de trabalhadores por conta prpria sem trabalhado-
res subordinados.
Hoje os sindicatos vm desenvolvendo experincias inovadoras no
apoio aos desempregados, desde os jovens procura do primeiro em-
prego at aqueles que, com mais de 50 anos, so confrontados com o
desemprego e perspectivas muito distantes de encontrar um novo em-
prego. No s os sindicatos os defendem e apoiam, como a luta contra o
desemprego e por melhor emprego, cada vez mais qualificado, perma-
nece como prioridade sindical. O mesmo no referente aos reformados,
que permanecem organizados nos sindicatos de que faziam parte en-
quanto empregados (veja-se, por exemplo, a experincia extremamente
rica das Seces dos Reformados dos Sindicatos Bancrios e muitos ou-
tros), mas tambm constituem uma Organizao Autnoma no interior
da UGT o Movimento Democrtico dos Reformados e Pensionistas
MODERP.
A luta contra a pobreza e excluso permanece ligada defesa do
direito ao emprego e a penses dignas, bem como ao Rendimento Mni-
mo, este no s no sentido de assegurar um mnimo de rendimentos
como tambm, e sobretudo, pela dimenso de insero social. Veja-se
tambm a luta por regular, a nvel nacional e europeu, as novas formas
294 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
de organizao do trabalho, como o teletrabalho, e a proteco dos tra-
balhadores abrangidos pela precariedade ou por formas atpicas de tra-
balho contratos a prazo e a tempo parcial, por exemplo. Alm disso,
o movimento sindical assume a luta pela integrao dos jovens e das
mulheres no mundo do trabalho, sem discriminaes. Luta pela igual-
dade de direitos, pela sindicalizao e por uma qualificao inicial.
Muitas questes permanecem em aberto na procura de solues
adequadas. o caso da representao dos trabalhadores autnomos,
em que h experincias inovadoras, por exemplo na agricultura e nos
quadros. Como tambm o caso dos trabalhadores com mltiplos em-
pregadores, para quem uma organizao sindical de carcter sectorial
no d a devida resposta. O movimento sindical vem reforando a sua
ligao a muitas organizaes no governamentais (ONGs), quer no di-
logo bilateral, quer multilateral, em especial atravs de instituies onde
esto representadas (CES, CITE, CIDM, etc.). tambm o caso do em-
prego dos trabalhadores imigrantes e da luta pela sua integrao e pela
igualdade de direitos no trabalho, em que a posio sindical portuguesa
est na primeira linha da luta sindical a nvel mundial. Aqui, no s
existe uma ligao estreita com as ONGs como tambm h um dilogo
com as Centrais Sindicais dos Pases de origem, em especial no quadro
da Comunidade Sindical dos Pases de Lngua Oficial Portuguesa. Ape-
sar disso, temos bem presente que a cooperao entre o movimento
sindical e as ONGs est ainda a dar os primeiros passos a nvel inter-
nacional. No mbito europeu a primeira declarao conjunta apenas
apareceu em 2000, no quadro da defesa da Carta Europeia dos Direitos
Fundamentais.
Tambm o movimento sindical de h muito se mostrou aberto
defesa de novos valores, como a defesa do ambiente e do desenvolvi-
mento sustentvel e a defesa dos consumidores (que levou, alis, cria-
o da Unio Geral de Consumidores), como ainda na defesa dos direi-
tos humanos, de que os direitos sindicais so uma base indispensvel.
Tambm aqui h uma clara ligao com as ONGs. evidente que nesta
ligao s ONGs se pe tambm um problema de representatividade,
em que h que reconhecer que os sindicatos so as organizaes mais
representativas da chamada sociedade civil, financiadas pelas quotas
dos trabalhadores filiados. Isto, independentemente de se reconhecer o
papel relevante que vem sendo desempenhado por muitas organiza-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 29S
es de caracter humanitrio e de apoio ao desenvolvimento, num mundo
em que se tm agravado as desigualdades e tem aumentado a pobreza e
a excluso.
2. Atcndcndo a quc os principais probIcmas com quc sc dcbatc bojc o
sindicaIismo c o mundo IaboraI sc prcndcm com a crcsccntc gIobaIiza-
o das cconomias c dos mcrcados, scr dc cspcrar quc as novas pro-
postas dc aco sindicaI ou poIticas dc aIianas (como, por cxcmpIo, as
mcncionadas na pcrgunta antcrior) dcvam ganbar um aIcancc cada vcz
mais transnacionaI: No caso portugus, cm concrcto, scro os sindica-
tos c fcdcracs nacionais capazcs dc sc tornar mais curopcus: Quc
dificuIdadcs c obstcuIos sc coIocam a uma taI cstratgia: Quc contri-
butos podcro scr dados pcIo sindicaIismo portugus ncsta matria c
como scr possvcI articuIar as Iutas dc basc nacionaI com os probIc-
mas gIobais:
\aoue| Ca.a||o Ja S||.a
Esta dinmica de globalizao em que nos encontramos tem reali-
dades muito concretas que apelam a movimentos e a iniciativas diver-
sas. Ns temos procurado estar l, temos tido alguma participao, ape-
sar de as deslocaes de Portugal para outros pases serem muito caras
e ns termos um nvel de vida muito baixo. Este aspecto pesa bastante e
afecta a postura do movimento sindical portugus na Europa. Pessoal-
mente considero, muito sinceramente, que a CGTP tem um dfice no
trabalho solidrio a nvel internacional, que advm do cruzamento de
factores diversos. Estamos num perodo de forte mudana da situao
internacional. Por outro lado, em Portugal, h ainda muito a sensao
de que as questes da Europa so de outro mundo e este pensamento
no vai ser fcil de mudar, e no sei se algum dia mudar em absoluto e
at se h caminhos alternativos. Alm destas dificuldades, teremos que
gerir o impacto de toda a transformao mundial no plano poltico. No
entanto, o reencaminhamento das solidariedades e os processos da sua
construo e reconstruo no so um problema que esteja a ser difcil
apenas para o movimento sindical portugus. Olhando a situao pre-
sente, numa perspectiva de classe sobre o conjunto do movimento sin-
dical, podemos dizer que o problema difcil para movimentos sindi-
cais de muitos outros pases, porque durante dcadas existiam dois sis-
296 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
temas que se confrontavam e os movimentos sindicais, mesmo com dis-
tanciamentos ideolgicos significativos entre si, trabalhavam tambm
com perspectivas alternativas, mas hoje no existem perspectivas de
alternativa construdas. O movimento sindical, como outros, anda um
pouco procura destes reencontros e, em Portugal, no temos uma cul-
tura de solidariedade muito slida. Aquilino Ribeiro dizia que os portu-
gueses so muito bons no primeiro contacto, mas no solidificam muito
essas relaes. Tudo isto tem a ver com o nosso posicionamento geogr-
fico e com o nosso percurso histrico. Somos uma sociedade marcada
por um percurso complexo de sculos de colonizao, sem sermos uma
potncia e, em especial, pelos 48 anos de fascismo.
Quanto aos obstculos a uma maior discusso e participao con-
creta a nvel internacional, que no se confunde com turismo ou posi-
cionamento de seguidismo face ao pensamento dominante que outros
assumem, preciso ver que os sindicatos portugueses andam muito
ocupados com problemas bsicos de ordem salarial, de condies mni-
mas de vida ou de proteco social que os ocupam nos planos sectorial
e nacional num confronto que tem a ver com a essncia do modelo de
desenvolvimento que o pas tem seguido. Continuamos a ser um pas
cuja matriz de desenvolvimento assenta nos baixos salrios, na baixa
qualificao, nas muitas precariedades, e no s no trabalho as preca-
riedades na sociedade portuguesa so uma questo complexa e somos
um pas onde se cultiva uma atitude de desrespeito pelas leis. No h em
Portugal, por exemplo, a nvel da concertao social, acordo nenhum que
depois, no perodo da sua aplicao concreta, se veja impulsionado por
uma atitude slida de compromisso quer do patronato quer dos gover-
nos. O problema dos baixos salrios e do baixo nvel de qualificao des-
gasta os sindicatos e limita a sua interveno, sendo muito difcil propor-
cionar aos trabalhadores liberdade para outros campos de interveno.
Alm disso, em Portugal, a atitude, por parte dos poderes para
com os sindicatos, uma atitude mais retractiva e retrgada em compa-
rao com qualquer outro pas da Europa. Por exemplo, na CGTP-IN
volta de 85% dos custos do global da nossa actividade so suportados
exclusivamente por quotas dos trabalhadores, o que no se verifica com
os movimentos sindicais nos outros pases e, at em Portugal, em rela-
o a outras organizaes, h apoios chorudos. Aos sindicatos, em par-
ticular CGTP-IN, apenas do combate, o que de certa forma , por outro
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 297
lado, bom sinal. E temos uma sindicalizao muito precria, dependente
dos jogos pontuais como o do patro que resolve, de um momento para o
outro, deixar de cumprir a sua obrigao do envio das quotas, face s
declaraes dos trabalhadores, ou ficar com o dinheiro dos trabalhadores,
ou do patro que impede que seja recebida a quota porta da empresa ou
a perseguio e discriminao de quem sindicalizado.
Temos um patronato muito conservador que aumenta os entraves
a uma atitude mais livre na organizao e aco dos trabalhadores no
plano interno e internacional. Seria interessante fazer um estudo pro-
fundo do que tem sido o comportamento patronal, pois de certeza que
no se descobre um grande plano de modernizao e de renovao que
signifique um desafio slido dos patres sociedade. H ainda a ques-
to do ataque legislao laboral, a insistncia em certos mecanismos
de flexibilizao, de adaptaes e polivalncias, fazendo comparaes
cegas com outros pases que tm realidades de formao e qualificao,
de salrios e de proteco social, totalmente diferentes e mais favorveis
que os nossos. Vivemos situaes de enorme instabilidade. Apesar des-
sas dificuldades, que tm tambm a ver com o estado de desenvolvi-
mento da sociedade portuguesa, temos organizaes e quadros sindi-
cais que, em algumas reas, vo tendo importante interveno tambm
a nvel europeu e no plano geral do movimento sindical. E parece-me
que, os prximos anos, trazendo novos retraimentos no comportamen-
to dos trabalhadores, vo ser ao mesmo tempo de aumento de disponi-
bilidade para o combate. O alargamento da UE est a ser e vai ser utili-
zado at ao limite pelas foras mais conservadoras e retrgradas da UE,
invocando a questo da entrada de pases onde a liberdade do merca-
do e a desregulao so totais, para um grande ataque ao modelo so-
cial europeu. Este modelo tem realidades diversas, a realidade portu-
guesa a mais frgil, mas todos vamos ter que encontrar caminhos de
unidade e luta para uma resposta adequada.
Ainda em relao interveno do sindicalismo neste processo de
globalizao, penso que o movimento sindical precisa de uma atitude
clara e de ruptura com este modelo, e no de uma atitude passiva. Sen-
do defensor dessa atitude de ruptura, vi com muito interesse que a tnica
dominante dos sindicalistas que estiveram no II Frum Social Mundial
de Porto Alegre j de ruptura e no de adocicar o actual modelo. Ao
mesmo tempo que defendo a ruptura, alerto para o facto de termos de
298 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
agir fortemente dentro do sistema e at para o facto de determinadas
dimenses de interveno se ganharem no plano institucional deste sis-
tema capitalista. E preciso articular bem todas estas direces de aco.
Face s dinmicas globais, o caminho no centrarmo-nos apenas
na viso do todo, no global. Do meu ponto de vista, preciso ver e agir
sobre o todo e as partes, isto , as dimenses macro e micro. Penso tam-
bm que estamos numa sociedade de crescentes horizontalidades e que
esse trao um desafio do ponto de vista de definio de objectivos,
mas tambm do ponto de vista da orientao que se assume para a or-
ganizao nos mais diversos planos. Temos que articular o movimento
sindical no plano mundial, mas temos que actuar ao nvel do concreto,
nas empresas, nos locais, nos pases, reagindo aos problemas com base
em movimentos organizados. A resposta dos sindicatos e dos outros
movimentos sociais ter que ser desenvolvida com base num trabalho
de formiguinha, porque no se responde a esta dinmica da globali-
zao com improvisos ou s com interveno e aco por objectivos
momentneos e dispersos. necessrio muito trabalho de base, muita
articulao e reforo dos movimentos sindicais nos locais de trabalho, a
nvel nacional e tambm uma interveno e programas de resposta aos
problemas criados pelas multinacionais.
Os processos de deslocalizao geram conflitos de interesse e am-
bientes carregados entre trabalhadores, povos, pases, e at continentes,
que no so facilmente gerveis. Por isso, ter de existir uma articulao.
A luta, por exemplo, por normas sociais mnimas numa organizao como
a Organizao Mundial do Comrcio uma luta extremamente impor-
tante, que tem reflexos depois ao nvel de cada pas. O trabalho de levar
para o interior da OMC algumas normas mnimas que tenham reflexo a
nvel concreto dos pases e que potenciem dinmicas sociais novas e mais
solidrias uma luta antiga dos sindicatos, mas que tem que ser intensi-
ficada, dado que est a andar para trs. A dinmica belicista, acelerada
depois do 11 de Setembro, tem razes e objectivos mais profundos e, por
exemplo, anula muito o efeito positivo desse trabalho de anos.
loao |oeoa
Neste novo milnio somos confrontados com o crescimento das de-
sigualdades dentro de cada pas e, sobretudo, entre pases. A pobreza
aumenta e atinge nveis insustentveis. No ltimo sculo aumentou a
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 299
desigualdade de rendimentos entre pobres e ricos: 1 para 11 em 1913; 1
para 35 em 1973; 1 para 72 em 1992. Os 20% mais ricos representam 86%
do PIB mundial; os 20% mais pobres, 1%. H mil milhes de desempre-
gados e 1,2 a 2 bilies de pobres; 250 milhes de crianas trabalham. A
populao mundial aumenta 80 milhes de habitantes por ano, dos quais
76 milhes nos pases em vias de desenvolvimento. Daqui at 2010 mais
700 milhes de jovens chegaro ao mercado de trabalho nestes pases.
A economia global acentuou as desigualdades, aumentou a pobre-
za. As bases que sustentam o actual processo de globalizao tm con-
duzido perda de soberania dos pases, a uma explorao ilimitada e
no controlada dos recursos naturais, a restries da interveno dos
sindicatos nas empresas multinacionais, ao no respeito das normas
sociais e de trabalho internacionalmente reconhecidas, a um acentuar das
desigualdades de desenvolvimento e de distribuio da riqueza entre
pases e regies e tambm a uma presso crescente para fazer recuar os
direitos dos trabalhadores e baixar as normas sociais. Desencadeou-se um
processo de desenvolvimento dual, que provocou graves disparidades,
quer entre regies e pases, quer entre os domnios econmico e social.
Este modelo dual e os seus impactos negativos no so consequn-
cia inevitvel do processo de globalizao dos mercados (cuja teorizao
aponta para um aumento global e equilibrado do bem-estar escala
mundial), mas sobretudo da opo por um modelo de desenvolvimento
econmico neoliberal, fazendo com que a globalizao assente quase
exclusivamente no pilar econmico-financeiro em detrimento dos pila-
res poltico e social. Os dogmas neoliberais tm vindo a perder a sua
credibilidade e cada vez mais reconhecida a necessidade de a globali-
zao ser sustentada num equilbrio entre a eficcia econmica, a justi-
a social e a estabilidade poltica, num contexto de pleno respeito pela
sustentabilidade ambiental.
O nosso objectivo deve ser o desenvolvimento democrtico e equi-
librado. A globalizao aparece hoje assente em quatro bases:
a) O aumento do comrcio internacional. A este respeito, h que
ter presente os seguintes dados fundamentais: (i) o comrcio
mundial, nos ltimos dez anos, mais do que duplicou, em volu-
me; (ii) as importaes e exportaes crescem a um ritmo de
cerca do dobro do crescimento do PIB; (iii) a riqueza aparece
300 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
concentrada nos pases industrializados: 29% na Amrica do
Norte e 34% na Europa e Rssia, com somente 4% em frica,
7% na Amrica Latina e Carabas, 1,5% na Ocenia e 25% na
sia; (iv) o comrcio internacional aparece tambm concentra-
do nas regies mais desenvolvidas: a Europa Ocidental perma-
nece como o maior parceiro comercial mundial, pesando 25%
em termos de exportaes entre regies contra 18% da Amrica
do Norte (se incluirmos tambm o comrcio dentro das regies,
os nmeros passam para 40% e 16%, respectivamente); (v) a
exportao de servios (a comear pelas viagens e turismo) tam-
bm cresceram acentuadamente.
b) A livre circulao de capitais. Este o factor dominante e mais
perigoso das trocas internacionais. Hoje, em cada 100 dlares que
circulam no Mundo, s 2 esto ligados a trocas de bens ou servi-
os. Dos 98% restantes, alguns, poucos, so para pagar investi-
mentos, mas a grande maioria destina-se especulao financei-
ra. Assim, h que ter presente o seguinte: (i) 85% dos capitais so
puramente especulativos; 40% vo e voltam em menos de 3 dias
e mais de 80% em menos de uma semana; (ii) os centros financei-
ros da especulao esto claramente concentrados 32% em In-
glaterra; 18% nos EUA; 8% no Japo; 7% em Singapura e 5% na
Alemanha (s estes centros representam 70% do total).
c) O peso crescente das multinacionais. As multinacionais so um
elemento estruturante da globalizao, sendo cada vez mais po-
derosas e mais numerosas. Das 60 maiores potncias econmi-
cas mundiais (Estados e empresas) 20 so empresas. A seguir
aos EUA (1), Japo (2), Alemanha (3), Frana (4) e Inglaterra
(5), aparece em 23 a General Motors, em 26 a Ford, em 28 a
Mitsui, etc. H, pois, a registar que: (i) mais de 70% das multina-
cionais so americanas; (ii) s 5% pertencem a pases em vias de
desenvolvimento; (iii) as 200 maiores empresas controlam 25%
da economia mundial e empregam 0,75% da populao mundial.
d) A evoluo tecnolgica. A evoluo tecnolgica, sobretudo nas
reas da informtica e das telecomunicaes, alterou profunda-
mente a inter-relao entre pases e entre economias. A socie-
dade da informao, de que a Internet elemento central, pro-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 301
voca alteraes profundas no prprio processo produtivo. A mu-
dana tecnolgica cada vez mais acelerada, com consequn-
cias profundas no trabalho. Em 10 anos calcula-se que 80% das
tecnologias presentes nos locais de trabalho vo mudar, enquanto
cerca de 80% dos trabalhadores se mantero, o que significa um
desafio fantstico em termos de formao ao longo da vida.
A globalizao provoca uma nova realidade econmica, em que as
empresas cada vez mais concebem as suas estratgias num espao mun-
dial. Levou criao em 1/1/95 da Organizao Mundial do Comrcio
(OMC), sucedendo ao GATT e ao ciclo de negociaes comerciais multi-
nacionais (Uruguai Round). Tais negociaes conduziram a acordos de
abertura dos mercados (com reduo dos direitos aduaneiros da ordem
dos 40%) na rea das mercadorias, servios e propriedade intelectual.
Temos que passar de uma sociedade de mercado (dominada por
este) a uma sociedade com mercado, com valores e objectivos. A socie-
dade da informao/sociedade do conhecimento e a globalizao exi-
gem uma resposta sindical cada vez mais forte, valorizando a cidadania
e o primado essencial dos direitos do homem, dos direitos e liberdades
fundamentais, dos direitos econmicos e sociais, valorizando os direitos
de terceira gerao, bem como a paridade entre mulheres e homens, o
direito a um ambiente saudvel, os novos direitos privacidade, his-
tria, identidade e memria. H que dar a nvel mundial prioridade
educao. O pleno emprego, a coeso social, o Estado-providncia ou
de bem-estar e a erradicao da pobreza no so utopias, mas sim prio-
ridades centrais. Em nome da igualdade, h que promover uma diferen-
ciao positiva em defesa dos mais fracos.
neste quadro que o movimento sindical tem conduzido uma refle-
xo no sentido de criar uma resposta tambm a nvel global. A Confedera-
o Internacional dos Sindicatos Livres (CISL), que representa hoje a es-
magadora maioria dos trabalhadores organizados a nvel mundial, con-
duziu durante dois anos um debate envolvendo os seus filiados e restan-
tes Organizaes Internacionais a chamada Reflexo do Milnio
visando uma nova Organizao Internacional capaz de dialogar com as
Organizaes que hoje controlam a globalizao, em especial a OMC, o
FMI, o Banco Mundial e o G8, bem como fazer face s diferentes Organi-
zaes Regionais Unio Europeia, Mercosul, Alca, ASEM, etc.
302 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Tal levou criao dos Sindicatos Globais, como estrutura de di-
logo entre a CISL, a CES (Confederao Europeia de Sindicatos), a TUAC
(Conselho Consultivo Sindical junto OCDE), os Secretariados Interna-
cionais da CISL e as Federaes Europeias da CES. Tal estrutura vem
trabalhando em crescente articulao com outras Organizaes Interna-
cionais, em particular a Confederao Mundial do Trabalho (CMT) e
com as Organizaes das Naes Unidas, em particular a Organizao
Internacional do Trabalho (OIT). O seu papel fundamental o da defesa
de uma globalizao diferente, associando crescente abertura dos mer-
cados a defesa da clusula social e ambiental, a eliminao da dvida
dos pases menos desenvolvidos e um novo modelo de desenvolvimen-
to, assente na diminuio das desigualdades. Os Sindicatos Globais
batem-se, em especial, pela ratificao das oito Convenes Fundamen-
tais da OIT liberdade sindical, direito negociao colectiva, igualda-
de de remunerao, luta contra a discriminao (no emprego e na pro-
fisso), proibio do trabalho infantil e do trabalho forado e por uma
associao estreita da OIT aos trabalhadores da OMC.
A UGT est filiada nestas Organizaes Sindicais Internacionais
CISL, CES, TUAC e os seus Sindicatos nos Secretariados Internacio-
nais e nas Federaes Europeias. Mas a presena portuguesa nestas or-
ganizaes exige repensar tambm a organizao interna do movimen-
to sindical, com sindicatos cada vez mais fortes, o que implica fuses e
associaes entre os mesmos, capazes de lhes garantir condies para
uma aco sindical a nvel internacional. A evoluo lenta e difcil, mas
os resultados comeam a aparecer, como prova a participao portugue-
sa nas manifestaes europeias, no Frum Econmico Mundial e no
Frum Sindical Mundial.
3. Istudos rcccntcs tm idcntificado novas formas dc inscgurana c dc
risco" quc csto a surgir no mundo IaboraI, rcIacionando-as com a
crcsccntc individuaIizao das rcIacs sociais c a conscqucntc inibio
da aco coIcctiva c da soIidaricdadc. Novas cIivagcns parcccm cmcrgir
no scio das rcIacs dc trabaIbo. Por um Iado, a cIivagcm cntrc scctorcs
Iaborais, quc sc caractcrizam por uma rcIativa scgurana c cstabiIidadc,
c os scctorcs ondc prcvaIcccm os trabaIbadorcs cm situacs mais prc-
crias. Por outro Iado, a cIivagcm cntrc os scgmcntos mais quaIificados
da fora dc trabaIbo c os mais tradicionais, ondc pontificam os trabaIba-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 303
dorcs mais vuIncrvcis c scm quaIificacs, quc sc afastam da Iuta sindi-
caI dcvido ao mcdo dc cnfrcntar um futuro profissionaI imprcvisvcI. Quc
impactos tm csscs fcnomcnos nas actuais condics da Iuta sindicaI:
Como podc o movimcnto sindicaI rcspondcr a cstas tcndncias:
\aoue| Ca.a||o Ja S||.a
A matriz de baixos salrios, de baixa qualificao e de grande pre-
cariedade e de desrespeito pelas leis que caracteriza o andamento da
sociedade portuguesa, foi dada como muito slida para um perodo tem-
poral significativo pelo capital internacional. Foi dado como adquirido
no contexto da Unio Europeia que Portugal um pas de mo-de-obra
barata e que alguns dos pases do alargamento vo chegar a uma matriz
de desenvolvimento muito mais qualitativa, primeiro do que ns. Se-
gundo alguns observadores, dado como um facto que Portugal no sai
da actual matriz pelo menos at 2012. Como sabemos, as multinacionais
deslocalizam estruturas de utilizao de mo-de-obra pouco qualificada
e baixamente remunerada, mas no deslocalizam todos os produtos. No
um processo ligado totalidade do sistema produtivo, que inclua o
conjunto de actividades a que esto ligadas as multinacionais, quando
os seus responsveis dizem isso discurso para enganar inocentes.
neste contexto de articulao das dinmicas globais com o local
que eu vejo a resposta dos sindicatos. Sobre o problema das novas
clivagens, penso que esta questo mais complexa e mais delicada. A
reflexo sobre as novas clivagens implica um estudo profundo sobre a
evoluo das profisses, das formas de prestao de trabalho, de como
se processa a valorizao das qualificaes e dos saberes, bem como das
contradies em que os trabalhadores se situam em funo de dfices de
formao ou de anseios de vida, contradies essas que hoje esto a ser
manipuladas como instrumentos de explorao. Ou seja, estas manipu-
laes esto a ser conduzidas pelo capital no sentido de manter baixos
salrios, muitas vezes para profisses altamente qualificadas, mesmo
profisses de ponta, pois estas so muito momentneas e a creditao
dos saberes adquiridos no incorporada nas relaes de trabalho pelos
gestores e pelo capital que, alis, rapidamente descarregam um indiv-
duo que domina um mecanismo ou um saber temporariamente muito
importante para um estado de desqualificao muito grande. Esta ques-
to das clivagens leva-nos necessidade de reflectir sobre este tipo de
304 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
problemas e articul-los com a tal dinmica global que hoje marca a so-
ciedade, tambm porque, como disse, precisamos de olhar a sociedade
muito transversalmente.
verdade que h sectores mais estveis. Por que que o emprego
ligado ao Estado continua mais estvel? Esta uma questo importante.
Reparemos que est a atravessar-se uma fase de presso para o aumen-
to da instabilidade e desregulao, atravs designadamente da presso
para as privatizaes e da subcontratao, mas vai mais rapidamente do
que se pensa ter que se mudar de rumo. Eu vejo a sociedade do futuro
com esperana e de forma positiva, acho que os homens e as mulheres
das novas geraes no vo abdicar do essencial dos direitos adquiri-
dos. Por exemplo, com o aumento da esperana de vida, da circulao
do conhecimento e de informao e num contexto de excepcional capa-
cidade de produzir riqueza, as sociedades tm condies e necessidade
para apelos a novas dimenses de qualidade de vida, mas isso no vai
ser obtido sem grandes conflitos. A sociedade em geral no vai abdicar
de direitos sociais e de cidadania, cuja afirmao e defesa tm que conti-
nuar a ser asseguradas pelo Estado. E no Estado que continuaro a
situar-se os mecanismos de definio e funcionamento da justia, da
sade, do ensino, da proteco social e outros e para executar estes bens
sociedade com um mnimo de qualidade preciso emprego estvel.
Quando se fala de divises no mercado de emprego, preciso olhar
para a manipulao das qualificaes, para a instabilidade, as flexibili-
dades, as polivalncias, por um lado, e para a insegurana e instabilida-
de acrescidos da prpria organizao da vida das pessoas, por outro.
Temos que procurar mecanismos de regulao e de estabilidade nestes
dois campos. Quando hoje se diz simplisticamente que desapareceram
as velhas homogeneidades (que estruturavam, por exemplo, a contrata-
o colectiva de trabalho) e que a organizao do trabalho hoje j no
taylorista, preciso reagir e mostrar que a organizao taylorista,
no-taylorista e de outros modelos de organizao que se inventaram
at agora. H milhes e milhes de seres humanos que trabalham hoje
em sistemas laborais de caractersticas do mais profundo taylorismo.
H quem diga que desapareceram as homogeneidades, que caracteriza-
vam as relaes de trabalho mas eu digo que muitas se mantm e que
surgiram e surgem novas homogeneidades. Outros dizem que hoje a
questo qualidade! E eu pergunto: quem que determina quais so os
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 30S
factores de aferio da qualidade? Quem que faz a anlise da aplicao
desses factores para chegar classificao dos trabalhadores, a uma jus-
ta remunerao e definio de horrio de trabalho?
Procure-se ento identificar os factores necessrios para essa anli-
se e ponham-se as partes a intervir na aferio desses factores. Esta
que a questo, mesmo em relao a trabalhadores jovens altamente
qualificados, que esto hoje debaixo de uma grande instabilidade. Por
isso, tem que se discutir a questo das trajectrias profissionais, das car-
reiras profissionais.
Os caminhos do sindicalismo passam pela valorizao das profis-
ses, das qualificaes. preciso dizer ainda que muitas das velhas pro-
fisses no desapareceram. Ns vamos continuar a ter trabalhadores na
construo civil, vai continuar a haver trabalhos manuais, vamos conti-
nuar a precisar de serralheiros, a precisar de electricistas, de estucadores,
de ladrilhadores, etc., etc. O movimento sindical anda a discutir isso,
mesmo que muitas vezes no transparea. Eu digo que, com maior ou
menor durao de um contrato, com maior ou menor flexibilidade, o
problema discutir e encontrar os mecanismos em que as duas partes
intervenham nas relaes de trabalho, pois estas no podem ser institu-
das unilateralmente. Daqui, tem que se partir depois para a anlise de
todas as conexes com os direitos e deveres e com toda a organizao da
vida fora do local de trabalho. este o caldo dos grandes conflitos de
hoje. O desequilbrio entre o poder patronal e o poder sindical hoje um
desequilbrio mais acentuado do que em qualquer outra fase recente da
organizao da sociedade. As relaes laborais so dominadas pelo po-
der unilateral dos patres, com cobertura e apoio do poder poltico. Pe-
rante esta situao, tambm se percebe os porqus de uma atitude de-
fensiva por parte dos sindicatos. Porque sempre que os sindicatos abrem,
o que lhes aparece do outro lado a contraposio do vazio com retirada
de direitos adquiridos. No lhes aparecem propostas de regulamenta-
o novas, valorizando o trabalho, salvo raras excepes. Portanto, esta
luta uma luta muito complicada.
loao |oeoa
Registaram-se, essencialmente na ltima dcada, progressos im-
portantes nalgumas empresas e sectores que apostaram em factores de
competitividade como a qualidade, a inovao tecnolgica, a formao
306 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
profissional e a internacionalizao. Desenvolveram-se, ainda que de
forma insuficiente, sectores e actividades ligados s novas tecnologias
de informao e de comunicao, caracterizados por melhores salrios e
elevada produtividade.
Temos, actualmente, um desenvolvimento dual caracterizado pela
coexistncia de empresas competitivas e modernas com elevados n-
veis de produtividade e de competitividade, com nveis salariais acima
da mdia e de elevada intensidade capitalista com empresas tradicio-
nais, de baixos nveis salariais e de reduzida incorporao dos avanos
tecnolgicos, modelo que tem induzido assimetrias econmicas e so-
ciais, importantes desigualdades salariais, riscos de desemprego e de
excluso diferenciados e desigualdades no desenvolvimento local. Esta
dicotomia ocorre sobretudo ao nvel das empresas mais do que ao nvel
de sectores ou ramos de actividade em que coexistem empresas com
caractersticas distintas. Esta dualidade introduz certamente riscos de
clivagens entre os trabalhadores. H igualmente riscos crescentes de uma
dualizao no mundo do trabalho em funo do tipo de vnculo laboral
separando trabalhadores com vnculo permanente dos trabalhadores
precrios, qualquer que seja a forma que assume esta precariedade e
em funo das qualificaes dos trabalhadores, separando trabalhado-
res qualificados dos trabalhadores no qualificados. Tambm as rela-
es entre empresas tm vindo a sofrer mutaes que no podem ser
ignoradas neste mbito. O recurso crescente a figuras como a concentra-
o empresarial, o outsourcing, a subcontratao, entre muitas outras,
cujo objectivo essencialmente a reduo dos custos globais da empre-
sa, tem contribudo igualmente para o acentuar de algumas desigualda-
des entre trabalhadores, na medida em que o direito do trabalho no
tem conseguido acompanhar estas mudanas, deixando bastante des-
protegidos um importante conjunto de trabalhadores afectados por es-
tes mecanismos. Esta dualidade pode verificar-se dentro de cada pas e
sobretudo entre pases. Os sindicatos tm procurado, por vias distintas,
evitar esses dualismos e as inerentes discriminaes que da resultam.
Em primeiro lugar, defendendo uma vinculao que assegure uma segu-
rana maior no emprego. Tal no significa defender a todo o custo um
emprego para a vida, mas sobretudo adoptar um modelo que assegure
que a flexibilidade e a adaptabilidade necessrias s empresas sejam
acompanhadas de um reforo da segurana para os trabalhadores, o
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 307
que deve ser obtido privilegiadamente por via da contratualizao das
relaes laborais.
Em segundo lugar, pelo combate inequvoco s formas de precarie-
dade ilegais que tm vindo a ser utilizadas como elemento central na
reduo dos custos de trabalho que, para alm de nocivas para os traba-
lhadores, so igualmente nocivas para a sociedade em geral. O nosso
objectivo o de combater estas prticas ilegais que no tm qualquer
justificao. No se trata de acabar com algumas modalidades de traba-
lho mais precrio, mas sobretudo assegurar que essa precariedade exis-
ta somente em situaes que a justifiquem, sendo igualmente indispen-
svel clarificar e avaliar as diferentes formas que assume, como os con-
tratos a prazo, o trabalho temporrio, ou outras formas atpicas de tra-
balho. Trata-se ainda de desenvolver um enquadramento jurdico que
regulamente essas novas relaes contratuais.
Em terceiro lugar, promovendo as condies para que as novas for-
mas de relacionamento entre as empresas sejam devidamente enqua-
dradas do ponto de vista legal, no apenas na vertente econmica, mas
sobretudo na do direito do trabalho. A reposio do Estado de Direito
nesta rea implica analisar, em especial, as subcontrataes, muitas ve-
zes baseadas na explorao de trabalho ilegal. Haver aqui que introdu-
zir a responsabilidade solidria do dono da obra e do empreiteiro geral,
bem como tornar obrigatrio o conhecimento de todos os sub-emprei-
teiros presentes e respectivos trabalhadores. Implica, ainda, discutir os
direitos e os deveres dos trabalhadores e das empresas em situao de
funcionamento em rede e ou grupo.
Por ltimo, por via da defesa da melhoria generalizada da qualifica-
o dos recursos humanos. Com efeito, hoje as pessoas factor com
menos mobilidade so certamente um dos recursos estratgicos para
o desenvolvimento do pas, por via da sua capacidade de inovao, de
adaptao sendo elementos-chave de concorrncia nos mercados inter-
nacionais. Os riscos de marginalizao e de excluso de certos indiv-
duos ou grupos o que poderia levar ao referido dualismo so tanto
maiores quanto maiores os dfices e as fragilidades das suas competn-
cias profissionais. Como sabido, a nossa populao activa tem um n-
vel de escolaridade mdia relativamente baixa uma vez que o aumento
do nmero de anos de escolaridade obrigatria bastante recente. O
mesmo no acontece com o nvel de qualificao, relativamente mais
308 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
elevado fruto de uma formao no posto de trabalho, sendo contudo
ainda bastante frgil. Portanto, necessrio desenvolver esforos conti-
nuados neste domnio.
Apesar dos significativos desenvolvimentos das ltimas dcadas
veja-se o crescimento intenso do nmero de licenciados em Portugal
, continuam a existir importantes dfices de profissionais qualifica-
dos, nomeadamente ao nvel da engenharia, matemticas, arquitectura,
medicina, entre outros. Temos defendido que a melhoria das habilita-
es escolares e da formao inicial s ser plenamente frutuosa se asso-
ciada a uma formao e aprendizagem ao longo da vida que permita
uma permanente actualizao de saberes, reforando a adaptabilidade
dos indivduos, promovendo a sua mobilidade e permitindo as necess-
rias adaptaes das empresas. O movimento sindical tem estado atento
a estes problemas, como bem o provam os Acordos de Concertao So-
cial celebrados nestas matrias.
4. Concorda com a crtica, j antiga, scgundo a quaI tcm cxistido no
sindicaIismo portugus, dcvido propria bistoria da sua organizao
no pcrodo do pos-2S dc AbriI dc 1974, um cxccsso dc instrumcntaIi-
zao" poItico-partidria: Ixistc ou no uma infIuncia partidria for-
tc, intcrna s cstruturas dirigcntcs, c com podcr para infIucnciar as agcn-
das c iniciativas sindicais: Acba quc sc prcndc com isso o facto dc, por
cxcmpIo, a ccIcbrao do dia 1 dc Maio continuar a scr cfcctuada cm
scparado por partc das duas confcdcracs sindicais portugucsas: I
dcscjvcI uItrapassar taI situao: Sob quc condics:
\aoue| Ca.a||o Ja S||.a
Eu vou tentar ser directo e muito objectivo. Em relao instru-
mentalizao do movimento sindical, a maior tentativa de instrumenta-
lizao a que se assiste hoje a do poder econmico e os grandes entra-
ves a uma dinmica forte de evoluo do movimento sindical e de en-
tendimento no seio dos trabalhadores, vem da, inquestionavelmente.
Isto deriva da ideologia dominante que profundamente conservadora
e continua a remar contra os avanos que, ao longo de sculo e meio, os
trabalhadores, com a sua luta, foram incorporando nas relaes de tra-
balho e na sua condio na sociedade.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 309
Eu acho que h trs problemas complicados: Primeiro, como j aqui
referimos, h na sociedade portuguesa muito pouca valorizao do tra-
balho e pouca valorizao do sector produtivo. E debaixo desta limita-
o muito difcil o movimento sindical evoluir mais. Por exemplo,
quando se referem s grandes taxas de sindicalizao e grandes lutas a
seguir ao 25 de Abril, preciso dizer que no eram s as condies pol-
ticas no pas e fora dele, eram tambm as condies sociais, sociolgicas,
o ambiente todo, era tambm uma afirmao forte de valores como o
trabalho, e o papel do sector produtivo que contribuam para essa situa-
o. Hoje no estamos nesse estdio e o sindicalismo encontra-se por
isso fragilizado em determinadas vertentes. Segundo aspecto: h uma
ausncia muito grande, por parte das foras polticas da esquerda em
geral (numas mais do que noutras), de reflexo sobre as questes do
trabalho e do sindicalismo. Sendo o Partido Comunista historicamente
influente no movimento sindical portugus, acho que muito interes-
sante a relao que muitas vezes se pretende colocar entre os seus pro-
blemas e a situao de dificuldades do movimento sindical, da CGTP e
das suas perspectivas de aco. No negando a importncia de analisar
essa questo vale a pena entretanto perguntar, por exemplo, quanto tem-
po que os dirigentes do Partido Socialista dedicam num ano s ques-
tes do trabalho e do sindicalismo? Como que o PS reflecte sobre as
questes do trabalho? Que reflexo introduzem? Pouca! E mesmo as
dinmicas polticas novas que surgiram na sociedade e que se associam,
por exemplo, ao Bloco de Esquerda como fora poltica emergente nes-
tes ltimos anos, nos devem levar a reflectir. Que reflexo trazem sobre
o trabalho? E as organizaes catlicas que no nosso pas tm um per-
curso e aco importantes na caminhada do movimento sindical e na
abordagem dos problemas do trabalho que dificuldades manifestam hoje?
E, portanto, o sindicalismo sofre tambm com isto.
O terceiro aspecto refere-se, digamos, fragilizao que est inerente
mudana que aqui j abordmos provocada pela situao poltica no
plano internacional. Muita da afirmao dos sindicatos depois da II
Guerra Mundial foi feita mobilizando os trabalhadores do ponto de vis-
ta de contedos reivindicativos, econmicos e sociais muito concretos,
mas tendo sempre a hiptese de uma alternativa de modelo da socieda-
de para ser esgrimida. E isso hoje est fragilizado.
310 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Depois da chamada queda do Muro de Berlim houve um america-
no administrador da OIT que chegou a uma reunio e disse: isto, a
OIT, j no se justifica, porque a ameaa de uma alternativa que em
ltima instncia mobilizava os trabalhadores j no se coloca e, portan-
to, elimine-se isto. Essa posio tem que ser contestada e combatida.
Continuamos e continuaremos a ter que defender direitos e interesses
dos trabalhadores e a situar as suas responsabilidades no trabalho e fora
dele e temos que o fazer enquanto procuramos alternativas a este siste-
ma capitalista. Muitos dos caminhos e valores que Marx traou h 150
anos continuam vlidos. Com certeza que devem ser readaptados, ten-
do em conta as conquistas que foram feitas ao longo do tempo pelos
trabalhadores apoiados nesses valores e h novas aspiraes que so
possveis na sociedade actual, que muito diferente e est sempre em
mudana. A sociedade actual apela a que se cruzem todas as teorias e
experincias. Estamos num outro estdio de desenvolvimento das so-
ciedades humanas. No tenho dvidas que as fragilidades existem e
preciso discutir mais as questes do sindicalismo e do trabalho, mas no
vejo perspectivas que isso acontea facilmente a curto prazo, com a di-
menso que a sua importncia exige. Nesta fase de mudanas, o que eu
posso dizer que a CGTP tem aguentado razoavelmente o espao sindi-
cal e pela nossa parte tudo estamos a fazer para o aguentar. Julgo que
tem as foras, e experincia para agir neste sentido. O nmero de sindi-
calizados que a Central tem significativo. No ltimo congresso esta-
vam representados 879 000 trabalhadores. Houve uma crise crescente
at meados dos anos 90, mas estabilizmos a partir de 1997 e temos tido
um ligeiro crescimento geral da sindicalizao.
Em 1999 lanmos uma campanha visando em 4 anos fazer 200 000
novas sindicalizaes e eleger 4000 novos delegados sindicais e este ano
estvamos com receio de no atingir a meta necessria (50 000) na
contabilizao final de 2001, e que o segundo semestre de 2001 revelasse
uma primeira queda naquele crescimento. No entanto, os ltimos da-
dos mostram o contrrio. Conseguimos em 2001 fazer 59 257 novas
sindicalizaes, o que um resultado muito significativo. Alm disso,
um outro indicador importante o facto de o nmero de mulheres ser
superior ao nmero de homens. Em 2000 a relao j era de 53% para
47%, em nmeros redondos, e em 2001, o nmero de mulheres aumenta
ainda mais. um indicador muito positivo porque, como sabemos, est
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 311
a aumentar o nmero de mulheres no mercado de trabalho quer do pon-
to de vista quantitativo quer qualitativo. A isto junta-se ainda um outro
dado interessante que o aumento do nmero de jovens. Os dados de
2001 apontam para 39% dos novos sindicalizados terem at 30 anos, o
que, face s idades de entrada no mercado de trabalho hoje, muito
animador.
verdade que tudo isto resulta muito de um trabalho organizado,
e no de uma mera procura espontnea, em termos gerais. H um esfor-
o, no trabalho de base, mas tem que se reconhecer que muitos sindica-
tos esto desadequados na forma de contacto regular com os trabalha-
dores e nos processos de recrutamento de novos sindicalizados. Isso
deve-se em arte a uma estrutura sindical que privilegia a estrutura e pr-
ticas verticalizadas, o que no se compadece com a realidade de hoje.
preciso mais descentralizao, apostar na organizao e aco articulada
a nvel local e regional, sem descaracterizar os laos profissionais e de
sector. Esse um aspecto que tem que mudar. Tambm a articulao do
movimento sindical com outros movimentos sociais vai depender des-
tas mudanas.
Um outro indicador interessante sobre a sindicalizao o volume
das declaraes do IRS de 2000, que apresentam 672 000 agregados fa-
miliares que incluram na sua documentao a declarao da quotizao
sindical. A anlise destes dados complexa porque, por exemplo, h
muitos sindicatos que s enviam ao trabalhador o documento
confirmativo do desconto se o trabalhador o pedir. Esta observao que
fizemos vai obrigar-nos a chamar a ateno dos sindicatos e dos traba-
lhadores para o uso das declaraes de quotizao. Se jogarmos com o
facto de os agregados familiares em muitos casos incorporarem mais do
que um elemento que trabalha, com o nmero de trabalhadores que por
diversas razes no incluem as declaraes, estes dados que referi apon-
tam para um nmero real de sindicalizados superior a 1 milho.
A CGTP paga quotizaes CES por 705 000 trabalhadores, isto ,
em nmero de sindicalizados regulares somos a maior central sindical
da Pennsula Ibrica. bom referir que na CES cada confederao paga
quotas de acordo com o nmero de filiados e tanto paga um trabalhador
portugus como um alemo ou noruegus, razo pela qual o nmero
que declaramos um bocado inferior ao real da nossa representao.
312 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Claro que uma central no se mede s pelo nmero de scios, tambm
pela actividade desenvolvida, por muitas outras coisas, mas isto tem o
seu significado. H, portanto, uma base orgnica muito significativa que
a CGTP aguentou, devida interveno sindical nos locais de trabalho,
interveno social e temtica, que tem desenvolvido.
A propsito das influncias partidrias tantas vezes invocadas por
comentadores da aco do movimento sindical, apetece-me dizer que,
comparando-se o nmero de sindicalizados por exemplo com o nmero
de militantes ou eleitores dos partidos (do PCP e dos outros), facilmente
se conclui do espao prprio, amplo e unitrio da CGTP-IN e do movi-
mento sindical.
Sobre as agendas sindicais e a definio de iniciativas e temas cen-
trais de aco posso dizer com toda a segurana que a agenda da CGTP-
IN tem sido rigorosamente definida pelos seus rgos, observando e
analisando a situao social e poltica em cada momento e tendo em
conta a estratgia e as opes tcticas que o poder patronal, o poder
poltico e todas as foras sociais e polticas vo esboando em cada con-
texto. Em Portugal, temos um movimento sindical preparado ideologi-
camente a partir preponderantemente de escolas como a formao na
rea social da igreja e na militncia no partido comunista. Mas se estas
duas fontes se fragilizaram ao longo das ltimas dcadas, ao nvel do
que muitas vezes chamamos de conscincia operria e conscincia sin-
dical, tambm se fragilizaram outras.
Quanto CGTP-IN as relaes com os partidos, como se sabe, no
so directas no sentido orgnico ou de comportamentos de dirigentes
que se portem como burocratas partidrios em tarefa sindical, nem em
relao ao PCP nem com nenhum outro. Alm disso, h uma outra coisa
que gostaria de dizer: parece-me que as dificuldades mas tambm os
desafios que se colocam hoje aos partidos de esquerda, a todos eles,
esto a conduzir a um aumento de sinais dos prprios partidos para se
debruarem mais sobre a actividade de mltiplos movimentos sociais e
sobre a aco dos sindicatos. O movimento sindical manter-se- como
ancoradouro importante de interveno social e isso produz efeitos no
posicionamento dos partidos. curioso que nesta campanha eleitoral
(as Legislativas de 17 de Maro de 2002), essa nota de ateno aos sindi-
catos e aos movimentos sociais, cruzou partidos como o PS, o PCP e o
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 313
Bloco de Esquerda. Nesta campanha, curioso tambm que, a determi-
nada altura, a marca CGTP (usando uma expresso de um nosso diri-
gente) era mais utilizada pelo Partido Socialista do que pelo Partido
Comunista. H dirigentes sindicais que tm referido que seria justo ana-
lisar se, em funo das polticas desenvolvidas, o PS no deveria, pelo
menos no plano tico, ser mais moderado. Tudo isto confirma afinal,
que a marca CGTP-IN tem valor prprio e significativo na sociedade.
Pode-se observar que h ancoradouros e h razes bastante significati-
vas na Central que lhe garantem o futuro, independentemente de ins-
tabilidades e evolues nos partidos. Como j disse, acho que o Partido
Comunista desempenha na sociedade portuguesa um papel muito im-
portante e a fragilizao do Partido Comunista, em relao ao sindicalis-
mo, uma perda muito grande. Quanto a isso no tenho dvidas, por
aquilo que conheo do todo do movimento sindical. Claro que pode
haver, no seio da CGTP-IN, alguma repercusso dos problemas pr-
prios do PCP, admito que sim... Pode haver salpicos.
E, perante as dificuldades, no PCP, como noutros partidos, h por
vezes a tentao de substituir a interveno e aco poltica, que dese-
jvel e importante, pela influncia administrativa de presena simblica
ou de presena e controlo burocrticos que apenas serve para descarre-
gar a conscincia de quem a promove, provocando na prtica fragilida-
des na construo de uma aco sindical dinmica e de uma proveitosa
poltica unitria.
A primeira vez que eu fui eleito para o Sindicato das Indstrias
Elctricas do Norte como dirigente, da equipa de 9 membros da Comis-
so Administrativa ramos apenas dois militantes do PCP no conjunto.
Com o nosso trabalho, com a aco e dinmica dos delegados e activistas,
desenvolvamos influncia e construamos orientao sindical unitria,
com importante contributo das perspectivas que trazamos do debate
no seio do PCP. Este meu exemplo como o de muitos outros sindicalis-
tas comunistas, socialistas, independentes, catlicos ou outros, consti-
tuem o essencial do caminho seguido e a seguir no seio da CGTP-IN.
Em relao unidade, apenas uma nota muito curta, que a se-
guinte: eu sou convictamente pela unidade e pela unidade na aco. Por
exemplo, unidade orgnica para paralisar no interessa. Portanto, h
um aspecto em relao ao qual no vale a pena andar volta. Unidade
314 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
na aco implica, em primeiro lugar, aco! No possvel discutir uni-
dade sem haver compromisso de aco. E o problema do movimento
sindical portugus para dar saltos qualitativos, de unidade, de conver-
gncia de projectos, de propostas, passa por isto. um erro continuar-se
a falar em unidade, partindo de um pressuposto de que h duas realida-
des idnticas e simtricas no movimento sindical portugus (CGTP-IN
e UGT). A CGTP no o movimento sindical todo e cometeria uma ton-
tice se construsse anseios de monopolizao do movimento sindical.
Mas o cerne do movimento sindical portugus com todas as virtudes e
os muitos defeitos que tem! a essncia do movimento sindical que
actua, que age para transformar a sociedade.
A UGT uma realidade e uma componente do processo, mas uma
componente muito relativa, sem qualquer representatividade em vrios
sectores e regies, comprometida na base de uma aliana social de direi-
ta, que a paralisa na sua aco, com uma estrutura dependente dos po-
deres poltico e at econmico. E continua a reger-se por preconceitos
anti-comunistas, o que um absurdo. Mas, pontualmente, em funo
de problemas concretos pontuais ou globais, no temos qualquer pro-
blema em desenvolver iniciativas conjuntas. Neste momento, a retraco
est do outro lado. Mas reconheo que durante mais de uma dcada
houve, no meu entender, um erro estratgico claro, que passou por per-
mitir que a UGT fosse empolada como inimigo muito referido, o que
possibilitou UGT afirmar-se mais do que a sua base real de partida
permitia, com os patres a explorarem esse facto na negociao colectiva
e no s.
loao |oeoa
O movimento sindical portugus encontra-se profundamente mar-
cado pelo ocorrido na semana que se seguiu ao 25 de Abril de 1974:
grande nmero de sindicatos corporativos foram tomados de assalto
por militantes do nico partido que estava organizado na altura o
PCP. Aconteceu mesmo que direces democrticas de sindicatos que
tinham estado na gnese da criao da CGTP na clandestinidade foram
objecto de tentativas de substituio pela fora. Deveriam ter-se seguido
eleies democrticas nesses sindicatos, o que na sua esmagadora maio-
ria no aconteceu. Por isso, surgiu o Movimento Carta Aberta, anima-
do por 34 sindicatos e por militantes sindicais de todas as correntes de-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 31S
mocrticas, o que veio a originar a criao da UGT em 1978 e o apareci-
mento de novos sindicatos, geralmente nacionais e verticais, que fez
com que na UGT se pudessem filiar trabalhadores de todos os sectores
de actividade. A UGT orgulha-se de ter sindicatos com maiorias de to-
das as tendncias poltico-sindicais e de se terem verificado alternncias
em muitos dos seus sindicatos, resultantes de eleies democrticas. Nos
rgos nacionais da UGT esto representadas todas as tendncias e as
decises so normalmente por unanimidade ou por grandes maiorias,
nunca se tendo verificado rupturas por posies assumidas face s polti-
cas dos vrios governos (salvo num caso greve geral que deu ori-
gem a um congresso extraordinrio). Hoje, em toda a Europa h liberda-
de sindical, que leva possibilidade de os trabalhadores escolherem livre-
mente os seus sindicatos. Em todos os pases, salvo em Inglaterra, Irlanda
e ustria, existem duas ou mais centrais sindicais, por razes que tm a
ver com opes livremente assumidas pelos trabalhadores.
Nos pases do Sul da Europa existem centrais com representao
geral (abrangendo trabalhadores de todos os sectores de actividade) que
ultrapassaram divises e procuram a unidade na aco. o caso de It-
lia (com as suas 3 grandes centrais sindicais), Espanha (com as suas 2
grandes centrais), Frana (com as suas 5 grandes centrais) que hoje pros-
seguem formas diversas de unidade na aco, independentemente de
divergncias pontuais. De registar que na recente manifestao europeia
de Barcelona o secretrio-geral da CGT (de orientao comunista) falou
em nome das centrais francesas presentes, demonstrando assim que hoje
as barreiras entre centrais j no existem e que o dilogo possvel,
tanto mais que todas as centrais esto filiadas na Confederao Europeia
de Sindicatos.
Infelizmente, em Portugal ainda persistem divises, originadas por
tentativas hegemnicas e marcadas profundamente por divises entre
aqueles que preferem o dilogo, a negociao e a concertao permanen-
tes e aqueles que persistem numa poltica de conflito pelo conflito e que
s pensam que unidade na aco discutir greves e manifestaes e no
as polticas reivindicativas que se pretendem levar prtica, procurando
aqui definir objectivos comuns e modos de os alcanar.
por isso que no so ainda possveis comemoraes comuns do
1 de Maio em Portugal, para as quais a UGT sempre manifestou a sua
316 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
disponibilidade. At 1981 nunca houve reunies entre confederaes sin-
dicais e patronais, apesar de os sindicatos e as associaes empresariais
se sentarem repetidamente mesma mesa para negociar contratos. Tal
situao foi ultrapassada nesta data, com a deslocao de uma delega-
o da UGT sede da CIP. Em 1984 foi criado o Conselho Permanente de
Concertao Social (CPCS), mas s quatro anos depois a CGTP ocupou a
o seu lugar e reunies bilaterais formais UGT-CGTP s surgiram no fi-
nal dos anos 80 e mesmo essas s em sede de CPCS.
Hoje, estas barreiras formais j no existem. Esperemos que no fu-
turo a nvel de empresa, dos sindicatos e das confederaes sindicais
tambm deixem de existir tentativas permanentes de imposio de pol-
ticas de facto consumado e sejam possveis aces reivindicativas co-
muns, visando a obteno de resultados concretos na negociao colectiva
sectorial e de empresa e na concertao social.
S. I possvcI promovcr uma cconomia compctitiva cm PortugaI, com
dircitos Iaborais cfcctivos c rcspcitados no scio das cmprcsas: Como
compatibiIizar justia sociaI no trabaIbo com produtividadc c crcsci-
mcnto cconomico: Acba fundamcntaI quc o discurso sindicaI dcva, no
panorama actuaI, dar maior atcno s qucstcs do dcscnvoIvimcnto c
da modcrnizao do nosso tccido produtivo (rcconvcrso dc trabaIba-
dorcs, formao profissionaI, ctc.):
\aoue| Ca.a||o Ja S||.a
Durante estes ltimos 6-7 anos ouvimos horas e horas de discurso
do primeiro ministro Antnio Guterres sobre o futuro, apresentando
sempre o caminho do futuro numa construo seguidista em relao s
posies dominantes na actual globalizao capitalista e pela via linear
que outros pases seguiram, sem ter em conta a realidade que somos do
ponto de vista do nosso estdio de desenvolvimento econmico, da for-
mao e qualificao das pessoas, das capacidades e dfices que temos
nos mais diversos planos. Por exemplo, apresentou-nos o futuro das
profisses e actividades luz da introduo em Portugal de doses signi-
ficativas de novas tecnologias e de mecanismos de informao e de co-
municao, (que no passaram de intenes, no essencial) falando-nos
de profisses do futuro, num abstraccionismo quase total, uma coisa
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 317
distante, mas apresentado como o moderno. Eu penso que a moder-
nizao no isso. H inmeras velhas profisses e saberes que vo
continuar a ter que ser valorizados.
necessrio valorizar os trabalhadores e valorizar a responsabili-
dade, pois h pouca cultura de responsabilidade. O que que os sindi-
catos podem fazer? O programa de formao e qualificao dos traba-
lhadores ter que ser articulado com a escola, pois debatemo-nos simul-
taneamente com um dfice enorme de formao escolar e de formao
profissional, mas no naquela viso de pr toda a gente a trabalhar com
as tecnologias, que hoje o uso horizontal da Internet nos apela a fazer e
que necessrio incorporar, mas no numa viso absolutista. Ter que
se ter em linha de conta a formao concreta, a qualificao dos traba-
lhadores, saber onde esto as carncias. Faltam-nos hoje inmeras pro-
fisses produtivas, como j atrs referi, e os patres ganharam dinheiro
a despedir precocemente centenas de milhar de trabalhadores, desses
trabalhadores qualificados e produtivos.
Os sindicatos tm que exigir um grande esforo de combate s te-
ses dominantes, de valorizao produtiva, de valorizao das profis-
ses. Por exemplo, temos mais de 250.000 jovens no mundo do trabalho
que j no vo sair dele para irem para a escola, jovens que tm no
mximo o 9 ano de escolaridade. Eles precisam de aprendizagem, de
saberes prticos, mas precisam tambm de aprendizagens escolares, e
isto implicava uma estratgica de responsabilizao, por parte das em-
presas, para propiciarem formao. Podiam-se articular aqui as disponi-
bilidades de milhares de professores que esto numa situao precria,
jovens professores que no tm onde dar aulas, etc. O movimento sindi-
cal disponibilizar-se-ia para um compromisso, por exemplo, para um
programa destes. E era um desafio interessante, que, entretanto, impli-
cava romper com a matriz de desenvolvimento que vem sendo seguida
e fazer-se formao a srio, mas esta formao que reclamo no d van-
tagens financeiras directas e imediatas aos patres nos moldes a que
eles esto habituados.
Podemos agora ver o problema dos acidentes de trabalho e das
doenas profissionais, que se actussemos sobre ele poderia produzir-se
uma alterao muito significativa nas condies de organizao e gesto
das empresas, com impacto na produtividade e competitividade.
318 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
Quanto ideia de que os trabalhadores mais qualificados e com
mais instruo se tornaro inevitavelmente mais individualistas, acho
que isso no bem assim. A tendncia dos mais qualificados para o
individualismo muito passageira.
Quero lembrar tambm que as questes da inovao, da formao
e das qualificaes especficas podem levar a lgicas reivindicativas de
pendor corporativo, mas no so os sindicatos e, em particular, os do
sector produtivo que as impulsionam. A lgica corporativista no campo
da educao, por exemplo, teve avano na segunda metade da dcada
de 80. Esse corporativismo foi alimentado como instrumento para a
manuteno do poder, foi para conquistar votos. Essa foi uma das mar-
cas dos governos do professor Cavaco Silva.
A conscincia dos trabalhadores depende de misturas complexas,
como o meio envolvente, as suas vivncias, os seus anseios e expectativas
nesta sociedade de consumo o seu envolvimento nas dinmicas do traba-
lho na empresa, ou nos servios, sejam escolas, hospitais, etc. A conscin-
cia trabalhada, um produto de aco, inter-aco do indivduo.
Quanto ao posicionamento face questo do desenvolvimento,
os sindicatos, quando chamados, respondem positivamente aos ape-
los do contributo para o desenvolvimento. Mas preciso alguma refle-
xo sobre o conceito de desenvolvimento e a contestao de mltiplas
verdades que nos so hoje apresentadas como dados adquiridos sobre
a situao econmica das empresas. A manipulao de carteiras de en-
comendas, da contabilidade, de processos de subcontratao, os pro-
cessos de deslocalizao, exigem que um sindicalista tenha sempre
presente a preocupao de recusar o conceito de adaptao tal como
ele hoje apresentado.
E a atitude de reserva face aos argumentos patronais ou do poder
ela prpria dinamizadora de muitos processos de desenvolvimento. Por
exemplo, todo o processo de evoluo do Vale do Ave ou do sector vi-
dreiro, ou da TAP, como tantos outros mostram imensas situaes de
resistncia que foram factor de mudana e desenvolvimento muito sig-
nificativos. As atitudes de resistncia no tm a carga de rejeio dos
processos de desenvolvimento que muitas vezes se quer fazer crer, e os
sindicatos so produtores de propostas de desenvolvimento e so tam-
bm, com a sua aco, dinamizadores da modernizao e da competiti-
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 319
vidade, atravs dos impactos sociais e econmicos, das reivindicaes
que fazem, dos quadros que formam para a interveno nas mais diver-
sas reas, da dinmica da participao cvica que concretizam, etc.
loao |oeoa
A melhoria da produtividade e da competitividade das nossas em-
presas e da nossa economia certamente um dos grandes desafios de
curto e mdio prazo para Portugal, devendo ser entendida como uma
prioridade nacional. A UGT entende que modernizar as nossas empre-
sas e sectores e reforar a sua competitividade interna e internacional
compatvel com a efectiva garantia dos direitos dos trabalhadores. Mas,
tal implica abandonar um modelo de desenvolvimento que durante d-
cadas apostou nos baixos salrios e nos baixos custos do trabalho como
nico factor de competitividade, modelo que hoje, dado o contexto de
crescente mundializao dos mercados, se encontra esgotado.
Implica igualmente que, neste contexto, a modernizao das em-
presas deixe de ser feita custa dos trabalhadores: da perda de direi-
tos sociais, do incumprimento das normas de trabalho, do aumento do
desemprego, do aumento da precariedade e da instabilidade do em-
prego, do afastamento do mercado de emprego de grupos de trabalha-
dores como os mais idosos, as mulheres, os menos qualificados e os
jovens, do aumento da pobreza e da excluso social e do aumento das
desigualdades na distribuio de rendimentos e qualidade de vida entre
os cidados.
Com efeito, temos vindo a assistir a um crescente recurso a prticas
perversas, muitas delas ilegais, que acabam por subverter o nosso orde-
namento laboral e fiscal, ameaando a sociedade, quer em termos de
justia humana e social, quer em termos econmicos. Estas formas no
prejudicam apenas os trabalhadores. So igualmente nocivas para as
empresas que cumprem a legislao laboral e fiscal, que se debatem com
uma distoro das normais e ss condies de concorrncia e para a
sociedade em geral. A sociedade e a economia no podem continuar a
permitir tais situaes que, para alm de inaceitveis socialmente, no
so economicamente sustentveis a mdio e longo prazo. Assim, fun-
damental que a generalidade das nossas empresas reencontre novos e
mais dinmicos factores de competitividade, o que exigir certamente
320 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
uma reflexo sobre a modernizao da organizao do trabalho e sobre
o envolvimento dos seus trabalhadores, hoje principal elemento nestes
processos de modernizao.
Esta modernizao tem de assentar num conjunto de objectivos
mltiplos que tm de ser prosseguidos articuladamente, nomeadamen-
te o reforo da competitividade e da produtividade das empresas, a con-
ciliao entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar do trabalha-
dor, a humanizao do trabalho e a melhoria das condies de trabalho
e a igualdade de oportunidades entre trabalhadores. A aposta na valori-
zao dos recursos humanos , sem dvida, um instrumento fulcral para
a competitividade das empresas, garantindo maiores competncias e
capacidades de adaptabilidade e mobilidade interna aos trabalhadores.
A competitividade no se constri na base da desregulao das condi-
es de trabalho, sendo o Modelo Social Europeu uma componente fun-
damental da competitividade das empresas europeias, que faz com que
a Unio Europeia seja o maior parceiro comercial a nvel mundial. Mo-
delo este que implica, tambm, uma participao na vida das empresas,
atravs do dilogo, da negociao e da concertao, para discutir situa-
es como as da recuperao de sectores e empresas em dificuldades
(matria includa num acordo de concertao) e funes profissionais
mais enriquecidas atravs da devida qualificao inicial e continua.
6. O diIogo sociaI nas suas difcrcntcs cxprcsscs c nvcis dc ncgocia-
o constitui uma caractcrstica cstruturantc do mundo IaboraI. Por outro
Iado, as razcs" nacionais da ncgociao socio-IaboraI vo scndo cada
vcz mais dcsafiadas pcIas opcs" do diIogo sociaI supra-nacionaI,
como succdc com a Unio Iuropcia c a OlT. Quc baIano faz da cxpc-
rincia portugucsa dc diIogo sociaI, nomcadamcntc, cm scdc dc
conccrtao sociaI, ncgociao coIcctiva, diIogo nas cmprcsas, partici-
pao cm instituics tripartidas como o lIfP, ctc.: Como pcrspcctiva
as possibiIidadcs dc articuIao cntrc o diIogo sociaI dc basc nacionaI
c o diIogo sociaI dcscnvoIvido cm instncias supra-nacionais:
\aoue| Ca.a||o Ja S||.a
Quando se fala dos desafios crescentes do dilogo social suprana-
cional, temos que lembrar aquilo que j referi em relao globalizao,
que a necessidade de o movimento sindical olhar para o global e os
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 321
problemas pontuais concretos e assumir uma atitude de ruptura face ao
modelo dominante. Para falarmos em dilogo social, consideremos duas
variveis indispensveis quando se procuram alternativas: uma a par-
ticipao, outra o exerccio geral da democracia.
Nos debates que os sindicalistas fizeram em Porto Alegre, a deter-
minada altura considerava-se que o papel desempenhado pelas organi-
zaes supranacionais, principalmente o Banco Mundial e a OMC, est
absolutamente instrumentalizado pelos poderosos nesta globalizao co-
mandada por um capitalismo selvagem e com uma actuao muito dura.
Por outro lado, h hoje toda uma camuflagem e subverso de cer-
tos conceitos (como o de solidariedade ou o de mercado livre) que
esvaziam o prprio conceito de democracia que est cada vez mais des-
pido de valores. Isto precisa de ser reconsiderado, pois no possvel
um processo de dilogo social, limpo, numa sociedade que est com
estes problemas todos. Mas estamos nela e temos que agir. Entretanto
penso que a luta por uma nova tica do trabalho e pela sua valorizao
vai provavelmente ser to difcil e demorada quanto foi a luta pelos
direitos sociais e laborais durante o sculo XX. Ela vai ter de conjugar a
dimenso local com a dimenso internacional, na abordagem da carac-
terizao das novas relaes de trabalho, na inerente definio de direi-
tos e deveres, nas estratgias da sua afirmao, quer no plano indivi-
dual, quer colectivo, assumidas pelas organizaes dos trabalhadores e
tambm, por exemplo, pelos construtores e executores do direito do tra-
balho. Essa luta tem de confrontar os interesses dos trabalhadores de
uma regio com os dos trabalhadores de outra regio, na procura de
novos equilbrios entre interesses diversos nas vrias regies do mun-
do, tendo sempre presente que a solidariedade uma construo huma-
na e quantas vezes obtida a partir de conflitos bem fortes e por isso
nunca admitindo a consagrao de tratamentos discriminatrios e desi-
guais. neste contexto que vemos hoje a interveno sindical no que se
refere a patamares e exerccio de dilogo social supranacional.
necessrio avanar com reivindicaes globais articuladas, no
nosso caso, em primeiro lugar a nvel europeu, acompanhadas de nego-
ciao, mas tambm no plano mundial, designadamente, em funo da
actuao das multinacionais, no quadro da OMC, como instituio re-
guladora do comrcio internacional que deve, obrigatoriamente, incor-
322 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
porar regulamentaes sociais em articulao com a actividade norma-
tiva da OIT, o que convoca tambm a revitalizao desta organizao
das Naes Unidas, designadamente como espao de negociao im-
portante de normas e fonte de afirmao da dignidade do trabalho. No
plano europeu, o Tratado prev que os parceiros sociais possam partici-
par na elaborao de legislao social europeia, segundo regras fixadas
no Protocolo Social de Maastricht e que, no essencial, foram inseridos
no Tratado de Amesterdo.
Abrangendo domnios muito largos, que vo desde o ambiente de
trabalho, condies de trabalho, informao e consulta dos trabalhado-
res, questes da igualdade, etc., a negociao europeia conheceu alguns
desenvolvimentos, espelhados em vrios acordos de que so exemplos
a licena parental, o trabalho a tempo parcial, os contratos de durao
determinada, at negociao, em curso, do teletrabalho. Este processo
continuar a desenvolver-se. Por outro lado, a participao dos traba-
lhadores nas suas diferentes condies uma questo central para en-
contrar caminhos alternativos. preciso descobrir formas de aumentar
a participao. H dimenses de participao no mundo do trabalho
que esto institucionalizadas, a nvel nacional e a nvel internacional.
No devemos abdicar delas, mas a participao no se esgota na verten-
te institucional. Tem que ser e muito mais do que isso, tem que ver
com outros campos.
O dilogo social e a negociao que se desenvolvem a nvel da
concertao social, fazem-se dentro dessa dimenso institucional de par-
ticipao feita por grupos de interesses credenciados pelo poder poltico
(confederaes sindicais e organizaes patronais) e dentro duma cultu-
ra de compromisso capital/trabalho que, como se sabe, questionvel
sempre e, em particular, quando em determinados contextos histricos
se torna arreata para os trabalhadores e seus sindicatos. Essa credencia-
o, perante a sociedade , muitas vezes, frgil. No caso portugus
muito frgil. O poder poltico trata mal os sindicatos, desvaloriza-os, e
no age de forma a que, quando se estabelecem compromissos, eles se-
jam respeitados na sua aplicao. Por exemplo, para que os sindicatos
se envolvessem mais em questes como as da inovao e da moderniza-
o de estruturas da sociedade, tinha que haver negociao sustentada,
ou seja, com a certeza do respeito pelo que se estabelece em negociao.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 323
A histria da concertao social em Portugal mostra que o desen-
volvimento dos processos teve muito a marca da instrumentalizao dos
governos para a gesto de determinados processos polticos ou para
amarrar os sindicatos a compromissos laterais do patronato com o go-
verno, deixando aos sindicatos uma mo cheia de promessas.
No incio dos anos noventa (1990-91) houve um processo de nego-
ciao com uma dimenso e percurso que no se encontra paralelo at
1998-99. Nessa altura, houve algumas discusses com profundidade e
abordagem de temas com uma certa abertura. Cavaco Silva tinha, na
altura, alguma sensibilidade em relao a alguns problemas sociais, coi-
sa que hoje o PSD no mostra e, por outro lado, sentia necessidade de
um ancoradouro para estabilizar a sua governao. Mas depois optou
por fechar um acordo com os patres e a UGT, sem levar o processo at
s suas ltimas consequncias, e continuou o processo de instrumenta-
lizao e gesto governamentalizada e pequenina das coisas da
concertao...
Pela nossa parte, demos um contributo significativo nos ltimos
anos para inverter as coisas, eliminar instrumentalizao e corporativi-
zao do sistema de concertao. O Eng. Guterres, que na oposio ha-
via aberto alguma perspectiva de mudana, na aproximao s eleies
de 1995, fez um compromisso sobre algumas matrias com sectores pa-
tronais portugueses, um dos quais era a alterao do conceito de tempo
do trabalho, a clebre questo introduzida no processo da reduo do
horrio formal de trabalho para as 40 horas, com alterao do conceito
de perodo normal de trabalho. Como se sabe, desse compromisso do
governo com os patres surgiu a base de uma proposta de acordo es-
tratgico que em 1996 o governo subscreveu com a UGT e os patres.
No foi assinado pela CGTP porque o processo estava envenenado des-
de o incio com esse compromisso. Para mim, foi um pouco doloroso ver
a ministra da altura (Maria Joo Rodrigues) a querer fazer a quadratura
do crculo. Tentaram aplic-lo numa perspectiva administrativa e toman-
do uma estratgia corporativa de excluso da CGTP-IN. Com esse acor-
do introduziam-se alteraes noutros contedos da legislao laboral
que eram preocupantes, como o conceito de retribuio, o trabalho a
tempo parcial (que mais tarde se conseguiu que ficasse num quadro
razovel). Os patres tinham ainda outras pretenses em relao a ma-
trias como os despedimentos, que nunca abandonaram
324 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
A CGTP resistiu ao acordo de 1996, o que foi um processo interes-
santssimo, de luta laboral e social. Conseguiu-se desenvolver a luta pelas
40 horas com uma certa expresso e isso foi um grande contributo para
o acordo ser desarmado. Fizemos tambm simultaneamente e com gran-
de xito um debate significativo do ponto de vista terico. Conseguiu-se
dizer e provar que o funcionamento da comisso de acompanhamento
do acordo era corporativa, pois previa que quem no assinasse o acordo
ficava de fora, ou seja, os subscritores do acordo substituam o rgo de
concertao. Fizemos essa travagem que provocou efeitos polticos de
dimenso: a demisso da prpria Maria Joo Rodrigues e do Secretrio
de Estado Monteiro Fernandes e, por arrastamento, do Ministro da Eco-
nomia (Augusto Mateus) que estava instvel. Ferro Rodrigues foi para
ministro (ele tinha percebido o que se passava) e voltmos ao apelo ini-
cial que tnhamos feito a Antnio Guterres, que era a concertao ser um
processo de negociao contnua e com discusses mltiplas em funo
dos temas, sem pretenso de as inscrever todas num acordo e podendo
haver acordo sobre umas e desacordo sobre outras, processo de nego-
ciao esse que o 1 Ministro definiu de geometria varivel, e a partir
da introduziu-se a discusso temtica.
A concertao social produziu, assim, nos ltimos anos trs acor-
dos importantes: os acordos do emprego, da higiene e segurana no
trabalho (que so, de certa forma, a repetio de acordos de 1991, o que
no por acaso) e o da segurana social. O acordo sobre o emprego um
acordo estruturalmente muito importante que vai muito mais longe do
que o de 1991. Um acordo que tem contedo, mas a questo est em
termos ou no condies para a sua aplicao, ou seja, o Governo e o
patronato assumirem-no de facto, mas isso um outro problema. O acor-
do da segurana social tambm muito importante, visto ser uma das
matrias estruturantes na sociedade. Como se sabe, o acordo da segu-
rana social foi trabalhado durante quase dois anos e s foi possvel nos
termos em que est porque os intrpretes foram quem foram, ou seja, a
CGTP respondeu positivamente ao desafio. Foi muito difcil gerir a sua
discusso, porque havia um distanciamento muito grande no plano
poltico entre as posies do PS e do PCP. As posies do Governo esta-
vam longe das da CGTP-IN e dentro da CGTP havia diferentes posi-
es, o que era tambm muito complicado. Mas tratava-se de algo mui-
to importante, pois um novo sistema de financiamento e um novo
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 32S
sistema de clculo que esto em jogo. Assim sendo, concretizou-se um
salto qualitativo, e fundamental que o movimento sindical tenha reali-
zado nestes anos a credibilizao da segurana social, uma questo, re-
pito, com um impacto muito grande no pas (o papel poltico e de nego-
ciao de Ferro Rodrigues e Paulo Pedroso nesta matria foi positivo).
No entanto, o sistema de segurana social no est garantido indefini-
damente, dadas todas as presses ligadas evoluo do mundo do tra-
balho, evoluo da esperana de vida, s mltiplas contradies e alte-
raes na sociedade. E tudo isto agora vai estar debaixo de fogo, pois o
actual Governo contra a essncia estrutural do sistema, como sistema
pblico, universal e solidrio.
Poder dizer-se assim que houve o incio de um processo novo na
concertao social, houve contornos novos, com uma dimenso mais
profunda. Primeiro, uma travagem a uma dinmica corporativa e, se-
gundo, a introduo da ideia da concertao como um processo cons-
tante, de debate, de auscultao. Aumentou-se significativamente este
tipo de actividades, o que passou por mais iniciativas, mais debates te-
mticos mesmo sobre coisas em que no se avanou com acordos. Mas,
como j disse, no se esgota a o exerccio do direito de participao e da
interveno dos cidados.
Tambm existem, no que respeita ao dilogo social em instituies
tripartidas, como o IEFP, limitaes e obstculos que tm relao com a
tal viso instrumental que o poder tem de tais instituies. Por exemplo,
entendo que a participao (da qual tambm aqui no devemos abdicar)
dos sindicatos, se se limitar presena no Conselho de Administrao,
no passa de um simulacro de participao. essencial que, a nvel dos
Conselhos Consultivos Regionais, se introduzam, acima de tudo, prti-
cas e contedos que confiram sentido participao, sob pena de esva-
ziamento total do conceito de dilogo social nestes espaos de gesto de
mltiplas vertentes do emprego e da qualificao/formao. Por exem-
plo, em relao s Comisses de Trabalhadores (CTs), elas esto hoje
muito fragilizadas, mas no se podem desprezar. Os patres, ao desarti-
cularem as comisses de trabalhadores, esto a dar uma machadada
numa cultura de participao dos trabalhadores nas empresas, muito
importante quer pelas funes que lhes esto cometidas, quer pelo seu
carcter unitrio. O movimento sindical ganhava muito se conseguisse
326 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
uma dinamizao significativa das CTs, mas claro, depois coloca-se o
desafio da evoluo orgnica por parte dos sindicatos para acompanhar
esse trabalho das CTs, pois se no h essa evoluo, elas distanciam-se
dos sindicatos e entram facilmente em conflito com estes, o que por ve-
zes as torna organizaes de fcil instrumentalizao por parte da entida-
de patronal, uma vez que esto isoladas no espao da empresa e falta-lhes
uma articulao com o conjunto do movimento sindical. Os ataques s
CTs a que se tem assistido ou se devem a essa razo estratgica patronal
ou a uma viso de preconceitos ideolgicos, de anti-comunismo, de for-
as polticas e sociais, sempre no pressuposto de atacar influncias do
PCP, mas objectivamente destruindo mecanismos de participao dos
trabalhadores nas empresas. Acho lamentvel que na direco da UGT
haja uma predominncia de preconceitos ideolgicos a esse respeito, o
que se traduz na desvalorizao desses importantes orgos dos traba-
lhadores nos locais de trabalho. A luta pela democracia nas empresas
deve ser o princpio de enquadramento da atitude dos sindicatos do
ponto de vista estratgico, para o desenvolvimento de todas as formas
de participao. Entretanto, um dos problemas srios com que nos de-
batemos tem que ver com a limitao de direitos que, como se sabe,
imposta unilateralmente pelo poder patronal.
loao |oeoa
O modelo de desenvolvimento econmico-social foi, nestes ltimos
anos, marcado por um maior protagonismo das figuras da participao
consultiva, da concertao e da co-deciso como formas de regulao,
dando novos contornos democracia participativa. Os parceiros sociais e
os sindicatos tm sido crescentemente chamados a participar em instn-
cias e rgos, na maioria de carcter consultivo, no domnio econmico e
social e particularmente nas questes relacionadas com o mercado de
emprego e condies de trabalho, a educao e a formao profissional, a
proteco social e as polticas sectoriais. Alguns anos de acordos de
concertao social evidenciaram potencialidades e fragilidades desta for-
ma de democracia participativa, que urge discutir e repensar. A concertao
social tem sido, para alm de um elemento essencial de dinamizao da
mudana, um elemento de consensualizao dessa mudana, asseguran-
do menores custos nos ajustamentos estruturais empreendidos.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 327
A concertao social desempenhou um importante papel no de-
senvolvimento equilibrado da economia, atravs dos acordos sobre a
poltica de rendimentos. Efectivamente, nos anos em que tais acordos
foram subscritos, alcanou-se um elevado crescimento econmico, uma
descida e controlo das taxas de inflao e, em simultneo, um cresci-
mento positivo dos salrios reais e da aproximao destes mdia co-
munitria. A renovao dos temas da negociao colectiva, defendida
h vrios anos, tem avanado de forma desequilibrada e a passos len-
tos. Contudo, esta mudana s poder produzir os seus efeitos em ple-
nitude se se discutir um novo enquadramento da negociao colectiva,
que evite o seu gradual esvaziamento e com uma renovao da legisla-
o do trabalho, que adapte a proteco dos trabalhadores mudana
ocorrida no seio das relaes de trabalho.
A negociao colectiva tem de ser capaz de reencontrar a capacida-
de de desenhar e regular as relaes de trabalho, respondendo s for-
mas de trabalho e de organizao que se foram desenvolvendo e garan-
tindo uma adequada proteco a todos os trabalhadores. O dilogo so-
cial na empresa certamente o nvel privilegiado de negociao e de
consensualizao quanto a estratgias de modernizao, nomeadamen-
te em domnios como a competitividade, produtividade, carreiras pro-
fissionais, formao profissional, reduo e adaptao dos tempos de
trabalho em articulao com a conciliao entre o tempo de trabalho e a
vida familiar, entre muitos outros. Para assegurar a eficincia deste di-
logo e o seu contributo positivo para o pas h que assegurar, em pri-
meiro lugar, os direitos informao, consulta e participao dos traba-
lhadores no dia-a-dia da empresa e uma verdadeira cooperao entre
trabalhadores e administrao. A articulao dos diferentes nveis de
dilogo social bem como as respectivas modalidades um tema que
merece ser debatido com profundidade.
A Europa Social baseou-se naquilo que os diferentes pases tinham
em comum: altos nveis de relaes de trabalho, elevada proteco so-
cial (na sade e segurana social) e de interveno do Estado na econo-
mia. A dimenso europeia na Europa Social desenvolve-se sobretudo a
partir dos anos 80: criao do Dilogo Social Europeu em 1985, direito
negociao colectiva europeia em 1991, introduo dum captulo do
emprego nos Tratados, em 1997. A moeda nica vem reforar a necessi-
328 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
dade de uma articulao entre o dilogo e concertao nacional e os de
nvel europeu, havendo que rediscutir as bases em que assenta a nego-
ciao colectiva nacional. A globalizao d competio um quadro
mundial, que deve garantir um desenvolvimento sustentado pelo au-
mento do nvel de vida e este baseado na negociao livre entre traba-
lhadores e empregadores, no respeito pelas Convenes da OIT.
O sistema de relaes de trabalho est em profunda interaco com
a sociedade e a economia em cada pas e, por isso mesmo, na Unio
Europeia, cada pas tem o seu sistema de relaes de trabalho, diferente
dos restantes. Mas se no possvel importar modelos, todos temos a
ganhar com a anlise das experincias alheias, tanto mais que a moeda
nica vai introduzir novos parmetros negociais, exigindo maior coor-
denao europeia e nacional da negociao, sem prejuzo do facto de as
negociaes salariais estarem excludas do mbito europeu. necess-
rio continuar a reforar o dilogo, a negociao e a concertao a nvel
europeu, assumindo cada vez mais a complementaridade do legislativo
com o contratual, como bem o demonstra o recente Relatrio do Grupo
Europeu de Alto Nvel sobre o futuro das Relaes de Trabalho, presidi-
do pela Prof Maria Joo Rodrigues.
No devemos fugir ao debate da trilogia crescimento-competitivi-
dade-emprego e das questes da produtividade e de uma maior adapta-
bilidade das empresas associadas e a uma maior segurana do empre-
go, esta mesma condio sustentada pela melhoria das qualificaes por
via da formao contnua. O que exige reforar o papel da contratualiza-
o das relaes sociais, em especial atravs do reforo da participao e
da negociao directa entre trabalhadores e empregadores. Numa socie-
dade e economia em mudana, tambm o sistema de relaes de traba-
lho est em evoluo, sendo importante discutir o enriquecimento da
negociao colectiva e o seu papel, que no se pode resumir a uma ne-
gociao de mnimos e da qual devem sair as bases da adaptabilidade
nas empresas. Repensar a negociao colectiva implica discutir os actuais
bloqueamentos e o modo como se deve desenvolver no respeito pela
liberdade sindical, pelo direito negociao colectiva e pela vontade
maioritria dos trabalhadores na empresa ou no sector. Repensar tam-
bm o reforo da negociao colectiva de empresa, complementar de
sector.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 329
Acreditamos que no Portugal de hoje, com a moeda nica e o alar-
gamento aos pases do Leste europeu, as mudanas so necessrias e
urgentes, mas as mesmas no so possveis em climas de ruptura social.
E, tal como os adiamentos, tambm tm custos muito elevados para
todos. Na negociao, como na concertao, s so possveis acordos
quando todos ganham. No estamos perante um jogo de soma zero
(o que uns ganham, os outros perdem), mas perante a natural diferena
de interesses possvel partir para compromissos/acordos em que cada
um veja salvaguardados os seus principais objectivos negociais, nomea-
damente uma adaptabilidade interna crescente na empresa, associada a
uma maior segurana de emprego e melhores condies de trabalho.
Precisamos em Portugal de uma concertao social diferente, com
maior continuidade, centrada nas questes que mais directamente en-
volvem trabalhadores e empregadores e visando acordos especficos,
eles prprios incentivadores da negociao colectiva. Acordos que pro-
curem envolver todos, na negociao como na sua celebrao, assumin-
do que sindicalismo reivindicativo e sindicalismo de participao no
so alternativas, mas sim duas faces da mesma moeda, e que h vanta-
gens para todos em procurar os caminhos da unidade na aco, nomea-
damente em termos de proposio e negociao.
330 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
331
Nota sobro os autoros
ANTONlO CASlMlRO fIRRIlRA
(casimiro@fe.uc.pt)
Professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Investigador Permanente do Centro de Estudos Sociais. Publicaes recentes:
Para uma concepo decente e democrtica do trabalho e dos seus direitos,
in B. S. Santos (org.), Globalizao: Fatalidade ou Utopia?, Porto: Afrontamento,
2001; O sistema portugus de resoluo dos conflitos de trabalho: Dos mode-
los paradigmticos s organizaes internacionais, in J. M. Pureza e A. C.
Ferreira (orgs.), A Teia Global: Movimentos Sociais e Instituies, Porto, Afronta-
mento, 2002; Trabalho procura Justia: A Resoluo dos Conflitos Laborais na Socie-
dade Portuguesa (Dissertao de Doutoramento em Sociologia), Coimbra, Fa-
culdade de Economia, 2003.
OAVINTURA DI SOUSA SANTOS
(bsantos@fe.uc.pt)
Professor catedrtico da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Director do Centro de Estudos Sociais. Publicaes recentes: Toward a New Le-
gal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation, London, Butterworths,
2002; Democracia e participao. O caso do Oramento Participativo de Porto Alegre,
Porto, Afrontamento, 2002; Conflito e transformao social: uma paisagem das jus-
tias em Moambique (org.), Porto, Afrontamento, 2003 (2 volumes); Conheci-
mento Prudente para uma Vida Decente: um Discurso sobre as Cincias Revisitado,
Porto, Afrontamento, 2003; Reconhecer para Libertar: os caminhos do cosmopolitis-
mo cultural, Rio de Janeiro, Record, 2003; Boaventura de Sousa Santos (org.)
Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa, Porto, Afron-
tamento, 2003/Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira, 2002.
332 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
ItlSlO ISTANQUI
(estanque@fe.uc.pt)
Professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Investigador Permanente do Centro de Estudos Sociais. Publicaes recentes:
Entre a Fbrica e a Comunidade: subjectividades e prticas de classe no operariado do
calado, Porto, Afrontamento, 2000; Class and Social Inequalities in Portugal
in F. Devine and M. Waters (eds.), Social Inequality in Comparative Perspective,
Oxford/Malden-MA: Blackwell, 2004; O efeito classe mdia: desigualdades e
oportunidades no limiar do sculo XXI, in M. Villaverde Cabral et al. (orgs.),
Desigualdades e Justia Social em Perspectiva Comparada, Lisboa: ICS, 2003; Tra-
balho e aco sindical num contexto de despotismo paternalista, Manifesto, 4,
2003; A Reinveno do Sindicalismo e os Novos Desafios Emancipatrios: do
despotismo local mobilizao global, in Boaventura de Sousa Santos (org.),
Trabalhar o mundo: os caminhos do novo internacionalismo operrio, Porto, Afron-
tamento, 2004/Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira, 2005).
fRANClSCO DI OtlVIlRA
(Chicool@uol.com.br)
Professor titular de Sociologia da Universidade de So Paulo. Director do Cen-
tro de Estudos dos Direitos da Cidadania (CENEDIC/USP). Publicaes recen-
tes: Os direitos do antivalor: a economia poltica da hegemonia imperfeita, Petrpolis,
Vozes, 1997; (co-organizador com Maria Clia Paoli), Os Sentidos da Democracia:
polticas do dissenso e hegemonia global, Petrpolis, Vozes, 1998; Crtica razo dua-
lista: o ornitorrinco, So Paulo, Boitempo, 2003; Who is Singing lInternationale
again? A Brazilian illustration, in Boaventura de Sousa Santos (ed.), Another
production is possible: beyond the capitalist canon, London, Verso, 2004.
HIRMIS AUGUSTO COSTA
(hermes@fe.uc.pt)
Assistente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Investi-
gador Permanente do Centro de Estudos Sociais. Publicaes recentes: A eu-
ropeizao do sindicalismo portugus: entre novos discursos institucionais e
velhas prticas sociais, in J. M. Pureza e A. C. Ferreira (orgs.), A teia global:
movimentos sociais e instituies em tempo de globalizao, Porto, Afrontamento,
2002; A integrao regional do sindicalismo: uma viso comparativa Brasil-
Portugal, Novos Estudos-CEBRAP, 65, 2003; Saving jobs, protecting rights:
the Autoeuropa Agreement, Transfer European Review of Labour and Research,
10 (1), 2004; Portuguese trade unionism vis--vis the European Works
Councils, South European Society and Politics, 9 (2), 2004.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 333
tIONARDO MIttO I SltVA
(leomello@usp.br),
Doutor em Sociologia. Professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias
Humanas da Universidade de So Paulo (USP). Pesquisador do Centro de Es-
tudos dos Direitos da Cidadania (CENEDIC/USP). Publicaes recentes: No-
vas formas de ao sindical. as cmaras setoriais e a cmara setorial do com-
plexo qumico, in Paulo Fontes (org.), A qumica da cidadania, So Paulo,
Viramundo, 2002; Trabalhadores do Mercosul, uni-vos! A construo de uma
voz colectiva contra-hegemnica: quando o dissenso pr-se de acordo com,
a propsito de, in Boaventura de Sousa Santos (org.), Trabalhar o mundo: os
caminhos do novo internacionalismo operrio, Porto, Afrontamento, 2004/Rio de
Janeiro, Civilizao Brasileira, 2005; Trabalho em grupo e sociabilidade privada,
So Paulo, Editora 34, 2004.
PITIR WATIRMAN
(waterman@antenna.nl)
Investigador do Institute of Social Studies (Haia). Coordenador do Global
Solidarity Dialogue (www.antenna.nl/~waterman/). Publicaes recentes: (co-
organizador com Ronaldo Munck), Labour worldwide in the era of globalization:
alternative union models in the new world order, London, MacMillan Press, 1999;
Globalization, Social Movements and the New Internationalisms, London,
Continuum, 2001; (co-organizador com Jane Wills), Place, space and the new labour
internationalisms, Oxford, Blackwell, 2001; Adventures of emancipating labour
strategy as the new global movement challenges international unionism, Journal
of World-Systems Research, 10 (1), 2004; Emancipating Labour Internationalism,
in Boaventura de Sousa Santos (ed.), Another production is possible: beyond the
capitalist canon, London, Verso, 2004.
ROIRTO VIRAS
(rbveras@uol.com.br),
Doutor em Sociologia pela Universidade de So Paulo (USP). Professor Adjunto
da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), pesquisador do Centro
de Estudos dos Direitos da Cidadania (CENEDIC/USP) e colaborador da
Fundao Interuniversitria de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho
(UNITRABALHO). Publicaes recentes: O Sindicalismo Brasileiro e os De-
safios do Poder Local: Riscos ou Oportunidades?, Organizaes e Trabalho,
27, Lisboa, 2002; A Ousadia da Resistncia: A Luta dos Trabalhadores da Ford
Contra 2800 Demisses, Revista Crtica de Cincias Sociais, 62, Coimbra, 2002;
334 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
O ABC da Resistncia: Quando Certos Personagens Resistem para Permane-
cer em Cena, So Bernardo do Campo, Sindicato dos Metalrgicos do ABC,
2002; O Sindicalismo Metalrgico, o Festival de Greves e as Possibilidades
do Contrato Coletivo Nacional, in Boaventura de Sousa Santos (org.), Traba-
lhar o mundo: os caminhos do novo internacionalismo operrio, Porto, Afrontamen-
to, 2004/Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira, 2005.
RlCHARD HYMAN
(r.hyman@lse.ac.uk)
Professor de relaes laborais na London School of Economics. Director do
European Journal of Industrial Relations. Publicaes recentes: (co-organizador
com Anthony Ferner), Changing industrial relations in Europe. Oxford: Blackwell,
1998; Understanding European trade unionism. London, Sage, 2001; European
integration and industrial relations: a case of variable geometry?, in P.
Waterman e J. Wills (eds.), Place, space and the new labour internationalisms,
Oxford: Blackwell, 2001; The Future of Unions, Just Labour,1, 2002; An
emerging agenda for trade unions?, in Ronaldo Munck (ed.), Labour and
Globalisation: Results and Prospects, Liverpool, Liverpool University Press, 2004.
MUDANAS NC 1kAALHC L AAC SlNDlCAL 33S
336 LS1ANQUL MLLLC L SlLVA VLkAS lLkkLlkA CCS1A
You might also like
- Ditadura e Serviço Social: Uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64From EverandDitadura e Serviço Social: Uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64No ratings yet
- Como destruir ditaduras através da resistência não violentaDocument116 pagesComo destruir ditaduras através da resistência não violentajuliano marxs100% (2)
- MulheresFrom EverandMulheresNo ratings yet
- A definição de fato social na sociologia de DurkheimDocument5 pagesA definição de fato social na sociologia de Durkheimsarah oliveira100% (1)
- Serviço social brasileiro em tempos regressivos: formação e trabalho profissional em debateFrom EverandServiço social brasileiro em tempos regressivos: formação e trabalho profissional em debateNo ratings yet
- A ascensão da extrema-direita no Brasil contemporâneoDocument186 pagesA ascensão da extrema-direita no Brasil contemporâneoAdriano SantosNo ratings yet
- Gênero em Movimento: Mulheres na Organização SindicalFrom EverandGênero em Movimento: Mulheres na Organização SindicalNo ratings yet
- Teorias do currículo na perspectiva de Tomás Tadeu da SilvaDocument9 pagesTeorias do currículo na perspectiva de Tomás Tadeu da SilvaAdriano BarrosNo ratings yet
- SOUZA, Jessé (Org.) - Os Batalhadores Brasileiros - Nova Classe Média Ou Nova Classe Trabalhadora-Editora UFMG (2012)Document406 pagesSOUZA, Jessé (Org.) - Os Batalhadores Brasileiros - Nova Classe Média Ou Nova Classe Trabalhadora-Editora UFMG (2012)João Dias79% (14)
- Teorias Sobre A Origem Da Sociedade HumanaDocument19 pagesTeorias Sobre A Origem Da Sociedade Humanaevertonsp2000No ratings yet
- Construindo A História 1º AnoDocument19 pagesConstruindo A História 1º AnoMárcio Josué100% (1)
- Trabalhadores e trabalhadoras: Capítulos de história socialFrom EverandTrabalhadores e trabalhadoras: Capítulos de história socialNo ratings yet
- História do trabalho: Entre debates, caminhos e encruzilhadasFrom EverandHistória do trabalho: Entre debates, caminhos e encruzilhadasNo ratings yet
- Humanidades e pensamento crítico: processos políticos, econômicos, sociais e culturais: - Volume 6From EverandHumanidades e pensamento crítico: processos políticos, econômicos, sociais e culturais: - Volume 6No ratings yet
- Direito Penal I 40cDocument2 pagesDireito Penal I 40cDonaciano DuarteNo ratings yet
- Diálogos em sociologia do trabalho: A precariedade laboral do BrasilFrom EverandDiálogos em sociologia do trabalho: A precariedade laboral do BrasilNo ratings yet
- Globalização, correlação de forças e serviço socialFrom EverandGlobalização, correlação de forças e serviço socialNo ratings yet
- Trabalho, Poder e Sujeição: trajetórias entre o emprego, o desemprego e os "novos" modos de trabalharFrom EverandTrabalho, Poder e Sujeição: trajetórias entre o emprego, o desemprego e os "novos" modos de trabalharNo ratings yet
- Midia - Noam Chomsky PDFDocument50 pagesMidia - Noam Chomsky PDFMatheus MajorNo ratings yet
- Resenha CristicaDocument26 pagesResenha CristicaGlayce Batista100% (1)
- Livro TRABALHO JUVENTUDE E PRECARIEDADE Org 2009Document216 pagesLivro TRABALHO JUVENTUDE E PRECARIEDADE Org 2009Giovanni Alves100% (1)
- Trabalhadores e Sindicatos No Brasil Marcelo Badaro Mattos PDFDocument160 pagesTrabalhadores e Sindicatos No Brasil Marcelo Badaro Mattos PDFcelianevbsNo ratings yet
- Homo Ecologicus - Educação Ambiental, Ecologia e SustentabilidadeDocument179 pagesHomo Ecologicus - Educação Ambiental, Ecologia e Sustentabilidademarcelopelizzoli100% (4)
- v10n27 - 4 - Dossiê - CostaDocument17 pagesv10n27 - 4 - Dossiê - Costaelizardo costaNo ratings yet
- Transformações no mundo do trabalho e os desafios para a Sociologia do TrabalhoDocument6 pagesTransformações no mundo do trabalho e os desafios para a Sociologia do TrabalhoEunice RamosNo ratings yet
- Juventude e Política (Trecho Selecionado) - Estudantes Universitários e Luta de Classes (1960-2012)Document30 pagesJuventude e Política (Trecho Selecionado) - Estudantes Universitários e Luta de Classes (1960-2012)Carlos Henrique MenegozzoNo ratings yet
- 15 - FRIGOTTO - Fundamentos Científicos e Técnicos Da Relação Trabalho e Educação No Brasil HojeDocument48 pages15 - FRIGOTTO - Fundamentos Científicos e Técnicos Da Relação Trabalho e Educação No Brasil HojeRubens DonaldsonNo ratings yet
- Análise do desemprego em Salvador (1997-2000Document111 pagesAnálise do desemprego em Salvador (1997-2000Lu SilvaNo ratings yet
- Terceiro Setor e Democracia - OngsDocument25 pagesTerceiro Setor e Democracia - Ongstamy_87No ratings yet
- Relações de gênero e trabalho na era da globalizaçãoDocument144 pagesRelações de gênero e trabalho na era da globalizaçãoESCRIBDA00No ratings yet
- O TRABALHO DOCENTE PAUPERIZAÇÃO PRECARIZAÇÃO E Proletarização PDFDocument16 pagesO TRABALHO DOCENTE PAUPERIZAÇÃO PRECARIZAÇÃO E Proletarização PDFMandrake FernandezNo ratings yet
- Livro - Estado e Dominação de ClassesDocument209 pagesLivro - Estado e Dominação de ClassesKallyne AlbuquerqueNo ratings yet
- Igualdade de Genero No Seculo Xxi - Uma Analise Do Desenvolvimento para IgualdadeDocument34 pagesIgualdade de Genero No Seculo Xxi - Uma Analise Do Desenvolvimento para IgualdadeMatiasNo ratings yet
- Crise econômica e o mercado de trabalho no BrasilDocument106 pagesCrise econômica e o mercado de trabalho no BrasilRaphael OliveiraNo ratings yet
- Mazin Novaes Pires Lopes Questao Agraria Cooperacao e Agroecologia Vol II Baixa PDFDocument496 pagesMazin Novaes Pires Lopes Questao Agraria Cooperacao e Agroecologia Vol II Baixa PDFRafael BritesNo ratings yet
- 3+ST+37164+Finalizado+ (P +16-30)Document15 pages3+ST+37164+Finalizado+ (P +16-30)Ailton SilvaNo ratings yet
- Horizontes 109Document341 pagesHorizontes 109Letícia de AzevedoNo ratings yet
- eDUCAÇÃO E SOCIEDADE PDFDocument18 pageseDUCAÇÃO E SOCIEDADE PDFCandido VieiraNo ratings yet
- Slogans educacionais e projeto neoliberalDocument288 pagesSlogans educacionais e projeto neoliberalLuana100% (2)
- O PrecariadoDocument276 pagesO PrecariadoClaudinhaPinheiro75% (4)
- BARBOSA DE OLIVEIRA Carlos Alonso e HENRIQUE Wilnês. Determinantes Da Pobreza No Brasil - Um Roteiro de Estudo PDFDocument12 pagesBARBOSA DE OLIVEIRA Carlos Alonso e HENRIQUE Wilnês. Determinantes Da Pobreza No Brasil - Um Roteiro de Estudo PDFPriscilavonDietrich100% (1)
- Ensaio Paulo Valente - FILOSOFIA MARXISTADocument19 pagesEnsaio Paulo Valente - FILOSOFIA MARXISTAPaulo ValenteNo ratings yet
- O desemprego e as políticas de emprego, trabalho e renda no Brasil contemporâneoFrom EverandO desemprego e as políticas de emprego, trabalho e renda no Brasil contemporâneoNo ratings yet
- Desafios da mudança de papel social e profissionalDocument78 pagesDesafios da mudança de papel social e profissionalAlcindo AntónioNo ratings yet
- Laboreal 1012Document4 pagesLaboreal 1012somdoroqueNo ratings yet
- Silo Tips o Construtivismo e A Inserao Do Movimento de Genero NaDocument57 pagesSilo Tips o Construtivismo e A Inserao Do Movimento de Genero NaViviane MunizNo ratings yet
- Artigo Com Rafael Livro Movimentos Populares e UniversidadeDocument151 pagesArtigo Com Rafael Livro Movimentos Populares e UniversidadeDeise RochaNo ratings yet
- Questao Agraria Cooperacao e AgroecologiDocument496 pagesQuestao Agraria Cooperacao e AgroecologiRaqueline SantosNo ratings yet
- Adolescência sem fim e violência na juventudeDocument11 pagesAdolescência sem fim e violência na juventudeJulia VeigaNo ratings yet
- O Brasil e a ALCA: uma reflexão analítica dentro do contexto histórico – perspectivas e entravesFrom EverandO Brasil e a ALCA: uma reflexão analítica dentro do contexto histórico – perspectivas e entravesNo ratings yet
- LIVRO - Geografia e Trabalho No Século XXI - Vol. 4Document218 pagesLIVRO - Geografia e Trabalho No Século XXI - Vol. 4Eduardo Von DentzNo ratings yet
- Ee MsDocument12 pagesEe MsMauricio MornaNo ratings yet
- Centrlidade e Metamorfoses Do TrabalhoDocument14 pagesCentrlidade e Metamorfoses Do TrabalhoJuliana SengèsNo ratings yet
- Mutações do trabalho e experiência urbanaDocument23 pagesMutações do trabalho e experiência urbanaLeandro SaraivaNo ratings yet
- O Trabalho Do Assistente SocialDocument17 pagesO Trabalho Do Assistente SocialRegis TavaresNo ratings yet
- Relações de trabalho e educação no capitalismoDocument12 pagesRelações de trabalho e educação no capitalismomierjamNo ratings yet
- A narrativa da profissão: notas sobre a organização e a constituição da imagem profissional de assistentes sociais no Rio de Janeiro (1930 – 1940)From EverandA narrativa da profissão: notas sobre a organização e a constituição da imagem profissional de assistentes sociais no Rio de Janeiro (1930 – 1940)No ratings yet
- Os Fenômenos de Segregação e Exclusão SocialDocument16 pagesOs Fenômenos de Segregação e Exclusão SocialLuciana CarmoNo ratings yet
- Educação e o Mundo Do TrabalhoDocument7 pagesEducação e o Mundo Do Trabalhomarcos_cassinNo ratings yet
- Nps 1 B13Document280 pagesNps 1 B13luis_groppo5075No ratings yet
- Adeus Ao Trabalho Ensaio Sobre as MetamoDocument4 pagesAdeus Ao Trabalho Ensaio Sobre as MetamoThaís LimaNo ratings yet
- Hilsenbeck - o MST No Fio Da NavalhaDocument291 pagesHilsenbeck - o MST No Fio Da NavalhaFernanda de PaulaNo ratings yet
- Transformações no mundo do trabalho e desafios para o sindicalismoDocument3 pagesTransformações no mundo do trabalho e desafios para o sindicalismoVictor GabrielNo ratings yet
- Entre sociologias: percursos do cenário de pesquisa recente: Volume 2From EverandEntre sociologias: percursos do cenário de pesquisa recente: Volume 2No ratings yet
- Seminario Envelhecimento MasculinoDocument100 pagesSeminario Envelhecimento MasculinoIvanda TudescoNo ratings yet
- Relatório FinalDocument302 pagesRelatório FinalRaquel CostaNo ratings yet
- GILMAISADocument10 pagesGILMAISAalmeidaebezerraNo ratings yet
- Sindicatos e Autonomia Privada Coletiva: Perspectivas ContemporâneasFrom EverandSindicatos e Autonomia Privada Coletiva: Perspectivas ContemporâneasNo ratings yet
- EBOOK DE HISTORIA 3o ANOpdf-193140222040318Document28 pagesEBOOK DE HISTORIA 3o ANOpdf-193140222040318Keila Paixão de LanaNo ratings yet
- A Acao Executiva No Novo Codigo de Processo CivilDocument26 pagesA Acao Executiva No Novo Codigo de Processo CivilDonaciano DuarteNo ratings yet
- Principios Fundamentais Do Direito de Trabalho1 Trabalho de GrupoDocument4 pagesPrincipios Fundamentais Do Direito de Trabalho1 Trabalho de GrupoDonaciano DuarteNo ratings yet
- A Acao Executiva No Novo Codigo de Processo CivilDocument26 pagesA Acao Executiva No Novo Codigo de Processo CivilDonaciano DuarteNo ratings yet
- Atendimento Publico - Curso de Oficiais de JustiçaDocument38 pagesAtendimento Publico - Curso de Oficiais de JustiçaDonaciano DuarteNo ratings yet
- Compilação legislativa sobre sociedades comerciais e registo comercialDocument170 pagesCompilação legislativa sobre sociedades comerciais e registo comercialPauloNo ratings yet
- Goffman sobre estigma e desvioDocument5 pagesGoffman sobre estigma e desvioThayanne FernandesNo ratings yet
- A Teoria Dos PapeisDocument2 pagesA Teoria Dos PapeisMarcus OliveiraNo ratings yet
- Viii Anais Cultura Negra 2017Document645 pagesViii Anais Cultura Negra 2017Jade LuizaNo ratings yet
- Educação intercultural e culturas indígenasDocument13 pagesEducação intercultural e culturas indígenasnicole jordanNo ratings yet
- A Contribuição Da Análise Das PráticasDocument18 pagesA Contribuição Da Análise Das PráticasLaíza Erler JanegitzNo ratings yet
- CF e RS na SociolinguísticaDocument21 pagesCF e RS na SociolinguísticaAna FabroNo ratings yet
- Apostila de Administração Enfase em Departamento PessoalDocument50 pagesApostila de Administração Enfase em Departamento Pessoalgabriela_saldan2552No ratings yet
- Diversidade cultural e estratificação social no BrasilDocument18 pagesDiversidade cultural e estratificação social no BrasilAnalice VinholoNo ratings yet
- Caderno de Resumos Siliafro 2012Document119 pagesCaderno de Resumos Siliafro 2012Leno CallinsNo ratings yet
- Relação entre cultura e educação segundo professoresDocument13 pagesRelação entre cultura e educação segundo professoresViviane Castro CamozzatoNo ratings yet
- Cid 10Document181 pagesCid 10Eduardo BarrosoNo ratings yet
- Desenvolvendo A Identidade Filipina Nas ArtesDocument47 pagesDesenvolvendo A Identidade Filipina Nas ArtesScribdTranslationsNo ratings yet
- Sociologia Do Desenvolvimento e Da Mudança SocialDocument19 pagesSociologia Do Desenvolvimento e Da Mudança SocialGerson BrasilNo ratings yet
- Aula 2 - 13.02 - Esfera PúblicaDocument20 pagesAula 2 - 13.02 - Esfera PúblicaDávilla G. PNo ratings yet
- Conflito de FeitiçariaDocument6 pagesConflito de FeitiçariaManuela Eguiberto AgostinhoNo ratings yet
- História Económica e Social - Resumo Propostas de Trabalho - Célia Silva PDFDocument28 pagesHistória Económica e Social - Resumo Propostas de Trabalho - Célia Silva PDFHugo Rodrigues100% (3)
- Atividade 08 - Documentário_ “Sociedade do Cansaço”, de Byung-Chul Han - 211039591Document3 pagesAtividade 08 - Documentário_ “Sociedade do Cansaço”, de Byung-Chul Han - 211039591Luiz Gabriel Morais GarciaNo ratings yet
- NEE: conceitos, classificação e CIFDocument71 pagesNEE: conceitos, classificação e CIFDora Bela BritoNo ratings yet
- Aula 11 - Sistema Penal e Reprodução Da Realidade Social (Slide)Document9 pagesAula 11 - Sistema Penal e Reprodução Da Realidade Social (Slide)contra o crime sempreNo ratings yet
- A face privada na gestão das políticas públicas: Organizações da Sociedade Civil e a prestação de serviços sociaisDocument406 pagesA face privada na gestão das políticas públicas: Organizações da Sociedade Civil e a prestação de serviços sociaisJailton LiraNo ratings yet
- RESUMO Introdução Ao Estudo Do DireitoDocument12 pagesRESUMO Introdução Ao Estudo Do DireitoArthur HendrixNo ratings yet