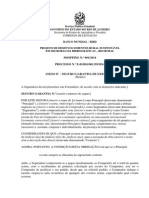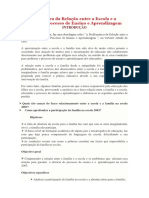Professional Documents
Culture Documents
Planejamento Como Instrumento de Gestao Educacional Uma Analise Historica e Filosofica
Uploaded by
ruthvloCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Planejamento Como Instrumento de Gestao Educacional Uma Analise Historica e Filosofica
Uploaded by
ruthvloCopyright:
Available Formats
125 E
m
A
b
e
r
t
o
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
7
,
n
.
7
2
,
p
.
1
2
5
-
1
4
0
,
f
e
v
.
/
j
u
n
.
2
0
0
0
.
No momento em que o planejamento assume to im-
portante destaque, como um dos elementos essenciais da gesto
educacional, minha pretenso trazer para o debate questes
imbricadas com a sua concepo e com a forma como ele foi in-
corporado ao desenvolvimento educacional. Assim, ao leitor, fa-
miliarizado com a utilizao do planejamento como instrumento
de gesto, convido a efetuar comigo uma incurso pelos cami-
nhos da histria e da filosofia, na busca de uma nova maneira de
compreend-lo e, conseqentemente, introduzi-lo como elemento
de reflexo, de organizao e de participao na construo da qua-
lidade do processo educacional.
Estabelecendo as bases para a reflexo
Iniciarei partindo do pressuposto de que o planejamen-
to como instrumento racional de controle social tem a sua histria
passvel de ser assimilada numa perspectiva de Histria da Razo.
Por ser permanentemente manifestao da racionalidade tcnica, o
planejamento acaba por se constituir fundo e forma da racionalidade
do nosso sculo.
Esta tarefa parece tornar-se um pouco menos rdua, a
partir da busca de respaldo na obra de Franois Chtelet Uma His-
tria da Razo (1994). Nesta obra encontrei o eixo norteador de
anlise e (re)conheci o ncleo de idias que compem o quadro de
referncias necessrio para a associao da Histria do Planejamento
Histria da Razo.
Em entrevistas concedidas mile Nol, Chtelet tra-
a uma histria da razo ocidental, partindo de um trao
constitutivo do nosso tempo: a racionalidade tcnica, a do mundo
industrial (Chtelet, 1994, p. 11).
Na introduo da obra feita por Jean-Toussaint
Desanti, este pensador nos convida a um passeio pelos textos de
Chtelet que, para ele, mantm a caracterstica de palavra viva.
Assim nos lembra que Chtelet recusou-se a ser espectador dos
acontecimentos (idem, p. 8), neles interferindo como sujeito que
O Planejamento como
Instrumento de Gesto
Educacional: uma anlise
histrico-filosfica
Maria Amelia Sabbag Zainko
Doutora em Educao pela Universidade Estadual Paulista (Unesp)
de Marlia; professora e pesquisadora do Programa de Mestrado em
Educao e diretora-geral da Faculdade de Educao da Pontifcia
Universidade Catlica do Paran (PUC-PR).
126 126
E
m
A
b
e
r
t
o
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
7
,
n
.
7
2
,
p
.
1
2
5
-
1
4
0
,
f
e
v
.
/
j
u
n
.
2
0
0
0
.
pensa e que, portanto, toma partido e luta. Ainda, segundo Desanti,
neste livro Chtelet
nos conta algo como uma histria da racionalidade, que ain-
da vivemos, desde as origens gregas, atravs de suas crises,
suas revolues, suas tenses e tambm seus impasses, que
so, contudo, em cada oportunidade, sempre superadas. De-
cididamente, esse demnio gosta da luz. Mas, acima de
tudo, gosta de d-la de presente. E era bem com esse espri-
to que Chtelet amava e praticava a Histria. Dizem que a
Matemtica a irm gmea da Filosofia. A Histria tam-
bm, por aquilo que oferece para ser compartilhado: o ca-
minho, o longo percurso, as promessas do futuro que vi-
vem nas pegadas do passado, embora meio desfeitas e par-
cialmente esquecidas (Chtelet, 1994, p. 9).
Toda rememorao apropriao, germe do pensamen-
to que se abre para um futuro necessrio (idem, p. 9).
Respondendo questo de mile Nol: a razo ine-
rente ao pensamento ou foi inventada? Chtelet parte da idia de
que se pode falar de uma inveno da razo e busca situar seu ra-
ciocnio desde a Grcia antiga com Scrates, Plato e Aristteles.
Na sua anlise, estabelece a definio de idia como
uma essncia. Valendo-se de definio de Spinoza, conceitua es-
sncia como aquilo sem o qual uma coisa no seria o que ela
(idem, p. 41). Ela o ncleo a partir do qual podem desenvolver-se
mltiplas variaes.
Com Plato e sua filosofia, surge a distino entre es-
sncia e aparncia, e Chtelet enfatiza que durante o perodo medi-
eval os filsofos cristos explicaro que Deus, quando criou o
mundo, tinha no seu entendimento, no seu esprito, essncias eter-
nas a partir das quais criou o que chamamos hoje criao, isto , o
mundo das aparncias (idem, p. 49).
Aristteles, diferentemente de Plato, pensa que no
assim que se deve apresentar as coisas, se o que se quer uma filoso-
fia ativa, e desenvolve o seu raciocnio na linha de um empirismo,
baseado na mxima de que para aprender preciso fazer.
Com uma atitude de experimentalista, Aristteles se
inscreve em uma tradio relativamente nova, a dos engenheiros,
dos mdicos, dos fsicos, que se baseiam na experincia para cons-
truir os enunciados. Desse ponto de vista, Aristteles surpreen-
dentemente moderno (Chtelet, 1994, p. 50).
A partir de um salto de quase 20 sculos, no tempo,
Chtelet vem analisar o dilogo que a filosofia trava com a cincia
da natureza, cujos expoentes so Coprnico, Galileu e Descartes.
Sua nfase recai em Descartes que, com sua teoria do
Cogito, provoca uma revoluo filosfica que d sustentao ori-
gem intelectual do mundo moderno.
Suas Meditaes Metafsicas estabelece que na ori-
gem deste Mundo, que pensamento puro e matria pura, h Deus,
todo poderoso e benevolente criador do mundo segundo leis sim-
ples (idem, p. 65).
Esta afirmao pea fundamental para a sustenta-
o da fsica de Galileu, que considera a matemtica como a lin-
guagem da racionalidade integral, de tal sorte que a perfeio
divina exige que o prprio Deus escreva em linguagem matem-
tica ao criar o mundo. Na administrao do sistema proposto
por Galileu, Descartes, que considerado o Pai da
Modernidade, continua afirmando de forma bastante clara que
a existncia de Deus um dado da luz natural e no da luz
sobrenatural. a razo que demonstra a existncia de Deus
(idem, p. 67).
Com a evoluo do mundo pelos grandes descobrimen-
tos, com a Reforma, com o impulso das cincias e das tcnicas que
revolucionaram o tecido social e, conseqentemente a racionalidade,
a filosofia se v s voltas com novos conceitos polticos.
Nesta nova etapa, surgem os estudos de Maquiavel,
Bodin, Hobbes e Locke, que vo desempenhar na histria das idias
um importante papel na definio do Estado, nos direitos humanos,
no conceito de liberdade, de igualdade e de contrato social.
127 E
m
A
b
e
r
t
o
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
7
,
n
.
7
2
,
p
.
1
2
5
-
1
4
0
,
f
e
v
.
/
j
u
n
.
2
0
0
0
.
Com Kant, no sculo XVIII, considerado o sculo dos
filsofos que se opem no s aos telogos, mas tambm aos
metafsicos, vamos reencontrar pessoas que s confiam na experi-
ncia, que se interessam pela cincia terica, pelas tcnicas, pela
vida cotidiana, pelas transformaes dos costumes (Chtelet, 1994,
p. 88), enfim, pessoas mais prximas da realidade.Nesta categoria
de filsofos, situam-se Hume, Voltaire e Vico.
Para Kant, na Crtica da Razo Pura,
Embora para esses trs elementos ela tenha fontes de co-
nhecimento a priori que, primeira vista, parecem ultra-
passar os limites da experincia, uma crtica completa
nos convence, entretanto, de que ... todo conhecimento
humano comea com intuies, eleva-se at conceitos e
termina com idias. Toda razo, no uso especulativo,
nunca pode, com esses elementos, ir alm do campo da
experincia possvel e de que o prprio destino desse
poder supremo de conhecer (...) acompanhar a natu-
reza at naquilo que ela tem de mais ntimo (...) sem nunca
sair dos seus limites, fora dos quais s h, para ns, um
espao vazio (idem, p. 98).
Chtelet atribuiu a Kant o ttulo de pensador da
modernidade, porque entende que ele o filsofo que funda o pen-
samento experimental e, conseqentemente, o racionalismo crtico.
Ele nos mostra que o pensamento humano deve re-
nunciar idia que, no fundo, estava na origem do projeto platni-
co: construir um saber absoluto. No existe saber absoluto. Todo
saber relativo estrutura do homem (idem, p. 99).
Kant nos assegura que a realidade existe fora do pen-
samento humano. A coisa em si existe.
A sua afirmao de que s a cincia pode desenvolver
enunciados verificveis e que, portanto, s ela produz enunciados
verdadeiros, poderia aproxim-lo do pensamento positivista de
Augusto Comte. Porm, a diferena entre os dois pensadores est
no fato de que produzir enunciados verdadeiros no fornecer a
totalidade da verdade.
Por outro lado, a perspectiva de Augusto Comte de que
a metafsica morreu, porque a cincia a matou, no verdadeira,
pois mesmo com os progressos cientficos, os filsofos e os cientis-
tas continuam desenvolvendo metafsicas ou ontologias.
O projeto kantiano que se desenvolveu no sculo das
Luzes, de tal sorte, a ser ele prprio um Aufklrer, um pensador das
luzes como Voltaire, Rousseau, Diderot e dAlembert, considerados pen-
sadores militantes tem como objetivos, alm da fundamentao das
cincias experimentais, dar humanidade um esquema para sua ao.
Ao enunciar esse programa, Kant retoma a idia de alguns
pensadores do sculo XVIII, que desejariam reunir todos os
homens de boa cultura, de boa moral, todos os homens de
reflexo e de progresso, em torno de uma perspectiva de
salvao, fundada sobre a luta contra o obscurantismo e a
misria (Chtelet, 1994, p. 106).
Tal perspectiva tinha por objetivo reuni-los em torno
de uma outra forma de razo: a razo prtica.
Ao esforo e ao pensamento de Kant, impe-se um
outro vulto confrontando filosofia e histria: Hegel. Em Hegel,
a idia de progresso intelectual e material, herdada da Ida-
de das Luzes, radicalizada por um acontecimento maior, a
Revoluo Francesa. Os governantes e os povos compreen-
dem, custa do sofrimento, o seu destino histrico. Hegel
formaliza esse acontecimento. Tenta construir o saber que
torna inteligvel o dever da humanidade de organizar o seu
presente sob os auspcios da razo (idem, p. 106).
Por isso, constitui uma sntese de todo o saber filosfi-
co passado, reunindo em seus textos as descobertas feitas pelo pen-
samento moderno.
128 128
E
m
A
b
e
r
t
o
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
7
,
n
.
7
2
,
p
.
1
2
5
-
1
4
0
,
f
e
v
.
/
j
u
n
.
2
0
0
0
.
Uma vez que Chtelet continua sua histria da razo
trazendo para a reflexo a proposta do marxismo, a partir do enten-
dimento de que s h uma cincia, a cincia da histria, e um s
pressuposto, o homem emprico (Chtelet, 1994, p. 133), e a idia
do futuro da filosofia calcada em breves anlises sobre o pensa-
mento de Nietzsche e Freud, importante estabelecer um corte para
apreciar de forma mais aprofundada o prprio sentido de histria
e, a partir dele, refletir sobre a histria do planejamento no plano
da histria das idias.
Para tal, necessrio desde logo trazer luz a distin-
o que Hegel faz dos dois significados do termo histria.
Ao afirmar que o termo histria une o lado objetivo e o
lado subjetivo, Hegel estabelece para ela o significado tanto de his-
tria rerum gestarum, quanto de res gestae. Este termo (res gestae)
refere-se s coisas feitas, ao processo histrico objetivo; aquele
(rerum gestarum), ao processo subjetivo, narrao das coisas fei-
tas (Hegel, 1967, p. 54-55).
Destacando, para efeitos da anlise pretendida, duas
correntes de pensamento de filsofos modernos como Comte e Hegel
o positivismo e o idealismo , no posso me esquecer que ambas
comportam concepes opostas histria, orientadas por modelos
tambm opostos ao conhecimento.
Segundo Cunha (1981), a concepo positivista da ci-
ncia da histria elaborada em princpios do sculo XIX, por
Humboldt, Fustel de Coulanges, Acton e Ranke , entende que a
histria, no sentido de res gestae, existe objetivamente, em termos
ontolgicos e gnoseolgicos, como uma estrutura dada de uma vez
por todas. O expoente mximo da concepo positiva, Ranke, rea-
gindo contra a histria moralizante que imperava nas primeiras
dcadas do sculo passado, defendia que o historiador deveria
mostrar o sucedido como efetivamente sucedeu, uma expresso
tomada como lema por toda uma escola. Mas, sem se libertar de
uma referncia teolgica, acreditava que a Divina Providncia cui-
daria do significado da histria se ela cuidasse dos fatos (como efe-
tivamente ocorreram). Na mesma direo, Acton orientava os cola-
boradores da primeira Cambridge Modern History para que sua
narrao da batalha de Waterloo fosse de tal forma objetiva, que
satisfizesse a ingleses, franceses, alemes e holandeses (Carr, 1976).
Essa concepo de cunho mecanicista coloca o objetivo
do conhecimento (a histria como res gestae) como um produto pron-
to e acabado que atua sobre o sujeito/historiador, imprimindo sua
cpia fiel, s perturbada pelas diferenas individuais ou genticas.
A sociedade, cuja histria se procura elaborar, vista
como um todo harmonioso do qual se afasta toda negatividade, a
no ser como desvio.
O verdadeiro sentido do termo positivo, utilizado por
Augusto Comte para denominar essa corrente de pensamento, est na
oposio s perigosas teorias negativas, crticas, destrutivas,
dissolventes, subversivas, em uma palavra revolucionrias da filo-
sofia das Luzes, da Revoluo Francesa e do Socialismo (Lowy, 1975).
Nessa concepo de histria, o papel do historiador
resume-se ao de um colecionador de fatos. A histria (como hist-
ria rerum gestarum) nasceria espontaneamente da colheita e da
ordenao de um nmero suficiente de fatos bem documentados.
Para Renato Janine Ribeiro (apud Ghiraldelli Jnior,
1994, p. 22), termina no sculo XVIII uma idia de histria en-
quanto elenco de exemplos.
A histria exemplar, de acordo com ele, o alimento
da reflexo sobre as paixes, reflexo que tem na corte, seu melhor
laboratrio. a histria que no se importa se sucedeu o fato nar-
rado mas, importa-se sim, se dele pode extrair uma regularidade
importante para o conhecimento do homem, ou uma lio signifi-
cativa para nossa conduta.
Essa idia de histria, lembra ele, perde terreno quan-
do os historiadores no somente passam a adotar o trabalho de pes-
quisa rigorosa, com preocupao com as fontes, mas principalmen-
te, quando o homem passa a ser considerado historicamente, isto ,
passvel de mudanas e que na definio de acontecimento se con-
sidere o estar marcado pela mudana, pela novidade (Ribeiro, 1993,
apud Ghiraldelli Jnior, 1994).
129 E
m
A
b
e
r
t
o
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
7
,
n
.
7
2
,
p
.
1
2
5
-
1
4
0
,
f
e
v
.
/
j
u
n
.
2
0
0
0
.
Planejamento, manifestao
da racionalidade instrumental
A associao pretendida no pode prescindir da viso
de Nietzsche, cujas justificaes tericas marcam verdadeiramente a
transio entre razo clssica e a situao na qual nos encontramos.
A relao da cincia e da tcnica, hoje, no a mesma que
aquela que existia no tempo de Descartes. No tempo de Des-
cartes, os progressos foram to fulgurantes que se podia
pensar que a tcnica era sempre benfica e que o domnio
da natureza no tardaria. Ora, nosso sculo revelou (...) que
a cincia est cada vez mais submetida s exigncias tcni-
cas e que isso se reflete na sua capacidade de inveno
(Chtelet, 1994, p. 151).
Na linha de pensamento que venho desenvolvendo,
uma histria do planejamento da educao orientada pelo
positivismo apenas daria continuidade ao que fizeram Betty Mindlin
Lafer (1970), que colecionou artigos sobre a histria do planeja-
mento no Brasil, ou Robert Dalland (1968) que, a partir dos docu-
mentos disponveis, analisou de forma fragmentada a estratgia e o
estilo do planejamento brasileiro.
Numa concepo oposta ao modelo mecanicista do
positivismo, o idealismo defende um papel ativo para o sujeito que
conhece, o qual percebe o objeto do conhecimento como sua pro-
duo. Neste modelo ativista, o objeto do conhecimento tende a
desaparecer, ao mesmo tempo em que o sujeito que conhece cria,
no processo de conhecimento, a realidade.
Na anlise em pauta, a histria do planejamento parti-
ria de um modelo idealizado de planejamento, modelo este situ-
ado no passado, no futuro ou mesmo no presente.
No pensamento sobre o planejamento no Brasil, h
importantes estudos dentre os quais se destacam os de Ianni, Baia
Horta, Calazans, Cardoso e Pereira que, no obstante abordarem
paradigmas de valor, tm sido insuficientes para aclarar questes
imbricadas prpria evoluo desse processo de controle social.
Embora seja perceptvel uma certa sensibilidade pela
Histria, por parte dos que se dedicam a estudar os fenmenos edu-
cacionais, assim como a evoluo dos acontecimentos na rea da
formulao dos planos e da poltica educacional, as dificuldades
relacionadas com a documentao, fontes, historiografia e arqui-
vos histricos em condies de pleno uso, trazem empecilhos para
o conhecimento e o conseqente enfrentamento dos problemas
prprios de uma formao social.
com Adam Schaff (1977), em Histria e Verdade, que
vamos ter uma viso de Hegel como o precursor do presentismo e
de Benedetto Croce como o pai dessa nova concepo:
O que em Hegel no mais do que idias deixadas em esbo-
o, sem laos de coerncia com a totalidade da sua obra,
torna-se em Croce um sistema coerente de reflexes idea-
listas sobre a histria, fazendo deste filsofo o pai espiritu-
al do presentismo inteiramente baseado na tese de que a
histria o pensamento contemporneo projetado no pas-
sado (Schaff, 1977, p. 103).
Para Croce, a histria (enquanto res gestae) histria
do esprito, o qual se faz transparente a si mesmo como pensamento
na histria (enquanto histria rerum gestarum). Um fato histrico
quando pensado, pois nada existe fora do pensamento. Por outro
lado, fato no-histrico seria um fato no pensado, logo inexistente.
Alm do pensamento no h coisa alguma: o objeto natural torna-se
um mito quando afirmado como objeto (Croce, 1920).
Assim concebida, no se poderia dizer que existe uma
histria, mas vrias, tantas quantas forem os espritos que as criam.
No s cada poca teria sua prpria viso da histria sua prpria
histria como cada nao, cada classe social, cada historiador.
Dessa maneira, uma histria do planejamento da edu-
cao elaborada com base na concepo idealista ou de acordo com
130 130
E
m
A
b
e
r
t
o
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
7
,
n
.
7
2
,
p
.
1
2
5
-
1
4
0
,
f
e
v
.
/
j
u
n
.
2
0
0
0
.
a concepo positivista no atenderia s exigncias do trabalho cient-
fico. Porque, segundo Cunha (1981), os idealistas, desprezando a for-
a da realidade, privilegiam o papel do historiador na confirmao do
passado e, os positivistas, por sua vez, empenhados em dissimular as
contradies sociais e em elidir o papel do pensamento como fora
social (no fundo, esconder a prpria luta de classes) tentam impor ao
historiador uma viso unilateral dos fatos, o que, paradoxalmente, no
deixa de ter um contedo idealista. No se trata, pois, de rejeit-los ou,
mesmo de tentar concili-los, mas de super-los, incorporando seus
elementos vlidos numa sntese dialtica. Para isso,
preciso reconhecer a procedncia da colocao dos
positivistas quanto existncia objetiva do processo hist-
rico (histria como res gestae) independente do historia-
dor; ao mesmo tempo, preciso reconhecer a procedncia
dos argumentos que os presentistas levantam contra os
positivistas, mostrando o carter ativo e interessado de todo
historiador, de sua inevitvel tomada de partido na elabo-
rao da cincia da histria (histria rerum gestarum). (Cu-
nha, 1981, p. 38).
Schaff, em vez de privilegiar um dos termos da rela-
o cognoscitiva, o objeto, consoante o positivismo, ou o sujeito,
segundo o idealismo, prope estabelecer, como princpio, sua
interao: tanto o sujeito, quanto o objeto tm existncia objetiva e
real, atuando um sobre o outro.
A partir dessa constatao, nada mais natural que, apoi-
ado em Marx (Tese VI contra Feuerbach) que concebe o homem
como o conjunto das relaes sociais e a atividade do sujeito en-
quanto atividade prtica de transformao da realidade apreendi-
da , Schaff enfatiza o conhecimento como momento da prxis
humana que supera a sua viso como atividade contemplativa ou
como fico especulativa.
, portanto, no materialismo histrico dialtico, que
entende possvel ultrapassar as concepes positivista e idealista,
ressaltando que o homem faz histria nas condies dadas pela
Histria, sendo livre e criativo mas, ao mesmo tempo, enraizado,
que pretendo centrar a minha anlise, considerando a relao
dialtica entre sujeito e objeto no processo de conhecimento.
Dessa maneira, o historiador no parte propriamente
dos fatos e sim de materiais histricos, fontes, com a ajuda dos
quais constri os fatos histricos.
Se ele os constri, os fatos histricos, mais do que ponto
de partida, so resultado de um processo. Nesse processo de pro-
duo do conhecimento, o sujeito assume um papel ativo, ao con-
siderar os dados da realidade concreta, onde intervm no s sua
subjetividade mas, principalmente, as determinaes sociais.
A questo da objetividade do conhecimento, da sua
verdade, fica contida, na perspectiva marxista, na questo de que
todo conhecimento no , na verdade, um conhecimento individu-
al e sim de classe. Portanto, conhecimento interessado e, de algu-
ma forma, coletivo.
A anlise do planejamento como ao humana, com o
compromisso de vir a se constituir um movimento dialtico entre
teoria e prtica, possibilitando ao educador discernir que meios
no so fins em si mesmos, deve auxiliar na compreenso do papel
que o planejamento deve desempenhar na Modernidade: poca por
excelncia da racionalidade tcnica, ou da razo instrumental, de
tal sorte que o planejador, ao planejar, tenha claro que:
... no pretende deter a marcha do processo, a pretexto de
conduzi-lo. Ao afirmar o futuro, ao antecipar o acontecer, a
forma crtica de planejar tem em conta o concurso da liber-
dade, e sabe que lhe compete utilizar as oportunidades ori-
ginais e os aspectos imprevisveis surgidos com a execuo
do prprio plano. Mesmo acreditando que o plano contm
uma certa prefigurao do futuro e no poupando esforos
para realiz-lo conforme deseja, sabe que tanto o plano quan-
to os esforos para implant-lo so outros tantos dados que
se incorporam ao processo (Horta, 1987, p. 218).
131 E
m
A
b
e
r
t
o
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
7
,
n
.
7
2
,
p
.
1
2
5
-
1
4
0
,
f
e
v
.
/
j
u
n
.
2
0
0
0
.
O planejamento, como processo social, e como tal em
estreita conexo com a poltica, requer para sua melhor
explicitao ser compreendido no contexto de uma Sociologia do
Planejamento, to bem formulada por Luiz Pereira. Assim ele
que nos assegura que
... as categorias chaves da sociologia so as de estrutura so-
cial e processo social. Como se sabe, as duas noes so
complementares: aquela, apanha a configurao da prxis
coletiva; esta, a prpria prxis como totalidade em ato. Jo-
gando com ambas, a prxis coletiva determina-se como
estruturao, desestruturao, reestruturao. Nestes ter-
mos, a noo de estrutura apanha a prxis respectiva, ou
processo de reatualizao de uma configurao estrutural
prvia; e a noo de processo desdobra-se, ento, nas de
processo no-inovador e de processo inovador. Em outras
palavras, em termos esquemticos e polares, no primeiro
caso temos o homem inserido na prxis repetitiva; no se-
gundo temos o homem inserido na prxis inovadora. Isso
equivale a ter o homem como ator ou objeto, como autor ou
sujeito da histria (Pereira, 1970, p. 12).
O planejamento, como controle inovador, caracteri-
za-se como processo instrumental de fazer histria, decorrente de
opes conscientes por determinado caminho, dentre os poss-
veis que se apresentam no momento histrico. Isto significa dizer
que o planejamento,
como uma das configuraes da prxis inovadora, exprime
as determinaes essenciais do tipo macroestrutural hist-
rico em que ocorre (capitalista e socialista). Em outras pala-
vras, ele sempre processo de desenvolvimento do tipo e
no de implantao histrica deste ou de implantao de
uma das etapas de seu desenvolvimento. Em suma, plane-
jamento no poltica, que no limite consiste na prxis ino-
vadora mxima (idem, p. 17).
O que equivale a dizer que ele pode implementar ra-
cionalmente uma poltica, mas incapaz de assumir seu lugar,
exceto ideologicamente.
Retomando a idia de que o planejamento a
... explorao consciente de um dos possveis histricos,
o movimento para apresent-lo como poltica espao
praxstico onde se realiza... a negociao de etapas de
um tipo macroestrutural histrico e sua substituio por
outra e, mais ainda a negao de um tipo e sua substitui-
o por outro quase que lgico: a sociedade, tomada
como um sistema em evoluo, exige como correlato na
poltica to-somente uma tcnica social aplicada que cui-
da para que a evoluo prossiga em direo a seu fim
(Gallo, 1995, p. 104).
A ao planejada, quando realizada dentro da pers-
pectiva anterior, como vem ocorrendo historicamente, coloca em
evidncia a alienao do poder poltico, caracterstica do Estado
moderno, com a sociedade civil, distanciando-se progressivamen-
te do exerccio efetivo da soberania, sendo as decises cada vez
mais tomadas em seu nome.
Como conseqncia, h uma autonomizao das esfe-
ras decisrias, com a sociedade servindo s instituies, amplian-
do a heteronomia social, a legislao ou regulao pelo discurso
do Outro, um discurso estranho que est, em mim e me domina:
fala por mim... um imaginrio vivido como mais real que o real,
ainda que no sabido como tal, precisamente porque no sabido
como tal (Castoradis, 1975, p. 124, apud Gallo, 1995).
Neste quadro de referncias, o planejamento da edu-
cao no Brasil, ou seja, o processo social de formulao de polti-
cas pblicas, como manifestao da racionalidade instrumental,
tem-se constitudo mais um instrumento da burocracia estatal que,
ao invs de apresentar alternativas para o problema educacional,
agudizou-o, medida que se estigmatizou como exerccio
132 132
E
m
A
b
e
r
t
o
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
7
,
n
.
7
2
,
p
.
1
2
5
-
1
4
0
,
f
e
v
.
/
j
u
n
.
2
0
0
0
.
tecnocrtico distante da realidade social em que se localizam os
problemas que demandam soluo.
Isto remete reflexo sobre a eficcia do planeja-
mento como instrumento de formulao de polticas pblicas, prin-
cipalmente porque um plano de educao compromissado com a
transformao do real deveria ter como propsito:
Uma reforma integral da organizao e dos mtodos de toda
a educao nacional, dentro do mesmo esprito que substi-
tui o conceito esttico de ensino por um conceito dinmi-
co, fazendo um apelo, dos Jardins de Infncia Universida-
de, no receptividade, mas atividade criadora do aluno
(Horta, 1982, p. 20-21).
No estudo da histria do planejamento, fundamental
no apenas descrever aes desenvolvidas e imediatamente percebi-
das, mas tambm procurar compreender as razes histricas que as
determinaram, contribuindo assim para a insero do planejamento
como processo de formulao de polticas pblicas (ele prprio como
um elemento constitutivo da Modernidade) no amplo campo de ho-
rizontes possveis que nos so dados pela utopia da Ps-Modernidade.
Planejamento no Brasil, sua histria,
sua prtica
1
A exigncia do planejamento como instrumento
racionalizador do desenvolvimento do ensino brasileiro ganha for-
a extraordinria a partir da dcada de 60, inclusive no mbito do
ensino superior, com o advento da Reforma Universitria de 1968 e
da aceitao geral de que a universidade brasileira, bem como as
instituies de ensino, especialmente as pblicas devem, neste fi-
nal de sculo, incorporar aos seus desempenhos critrios como pro-
dutividade, eficincia e eficcia.
No contexto de uma anlise histrico-sociolgica, o
debate sobre a possibilidade terica do planejamento, data da d-
cada de 20, mesmo nos pases mais avanados.
Segundo Lafer (1970, p. 7), o planejamento nada mais
do que um modelo terico para a ao: prope-se a organizar o
sistema econmico, a partir de certas hipteses sobre a realidade.
Naturalmente, cada experincia de planejamento se afasta de sua
formulao terica e o que interessante na anlise dos planos
justamente separar a histria do modelo previsto.
Tendo surgido como instrumento do desenvolvimento
econmico, o planejamento no Brasil tambm acompanhou a ten-
dncia mundial.
A partir da dcada de 40, vrias foram as tentativas de
coordenar, controlar e planejar a economia brasileira (Lafer, 1970,
p. 18), mas configuraram-se com propostas: o Relatrio Simonsen
(1944-1945); como diagnsticos: a Misso Cooke (1942-1943), a
Misso Abbink (1948), a Comisso Mista Brasil-EUA (1951-1953);
como esforos no sentido de racionalizar o processo oramentrio:
o Plano Salte (1948); como medidas puramente setoriais, o caso do
petrleo ou do caf. Todas estas experincias no se enquadravam
na noo de planejamento, propriamente dita.
O perodo 1956-1961, no entanto, deve ser interpretado de
maneira diferente, pois, o plano de metas, pela complexi-
dade de suas formulaes quando comparado com essas
tentativas anteriores e pela profundidade de seu impacto,
pode ser considerado como a primeira experincia efetiva-
mente posta em prtica de planejamento governamental no
Brasil (Lafer, 1970, p. 30).
Sendo tambm este o plano que, pela primeira vez no
Pas, introduz formalmente a educao como um dos setores
prioritrios para o desenvolvimento econmico, convm relembrar
que, j em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova acenava
para a necessidade de um plano de educao.
1
As idias aqui contidas encontram-se mais detalhadas em Zainko (1998).
133 E
m
A
b
e
r
t
o
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
7
,
n
.
7
2
,
p
.
1
2
5
-
1
4
0
,
f
e
v
.
/
j
u
n
.
2
0
0
0
.
Na constituio de 1934, estruturado um captulo
sobre a Educao e mantida a idia de plano de educao, ainda
que a sua concepo estivesse atrelada de diretrizes.
Encarregado de elaborar o Plano, o Conselho Nacional
de Educao o faz em 1937, sob a forma de lei, encaminhando-o ao
Congresso Nacional, em maio daquele ano.
O Golpe de Estado de 1937 no permite a sua discusso
e, na seqncia, o Ato Adicional no faz meno a planos de educao.
Segundo Ribeiro, a opo pelo rpido desenvolvimen-
to exigiu do presidente Juscelino Kubstcheck acenar com a priori-
dade para a educao, porque era preciso ampliar o sistema educa-
cional no Pas, para coloc-lo a servio do desenvolvimento.
Se o desenvolvimento econmico a meta suprema que
orienta o Governo e se esse desenvolvimento entendido
como progresso, emancipao econmica, despauperizao,
superao do atraso e alcance de prosperidade, faz-se ne-
cessria uma educao que privilegie a especializao e a
tcnica, na medida em que qualifique o povo para este novo
tipo de sociedade (Ribeiro, 1989, p. 38).
Ao exigir maior produtividade da fora de trabalho, o
modo de produo capitalista valoriza a escola e a educao, pois,
por meio da formao de recursos humanos que se pode, de for-
ma eficaz, aumentar os ganhos e a produtividade.
Neste sentido, o Governo JK assegurou, no Plano de
Metas 1956-1961, a Meta 30, voltada para uma educao compro-
metida com a formao de pessoal tcnico, necessria ao processo
de crescimento acelerado do Pas.
A pretensa valorizao do homem garantida por uma
educao atrelada idia do treinamento para maior qualificao
do capital humano certamente no era a pretendida pela popula-
o, que aspirava universalizao do ensino primrio.
No perodo de Jnio Quadros, a educao ganha novos
contornos, pois ao lado da inteno de manter a fase acelerada do
desenvolvimento industrial, como requisito para o crescimento
econmico do Pas, no plano educacional, a preocupao funda-
mental era com a elevao cultural de todo o povo. Ao lado da
formao tcnica para o trabalho, a educao, como formao e
caminho para a maior politizao da populao.
Com a renncia de Jnio Quadros, inicia-se o Governo
Joo Goulart, no qual
conviveram duas tendncias no que diz respeito (...) edu-
cao e ao ensino. Uma delas, a contida no Plano Nacional
de Educao (...), estabelecia as diretrizes e bases da educa-
o nacional. Outra, a que refletia a posio ideolgica do
governo, ambas consubstanciadas no Programa de Emergn-
cia do MEC para 1962 e no Plano Trienal 1963-1965 (Ribei-
ro, 1989, p. 40).
No Plano Trienal, a Educao tratada como pr-inves-
timento para aperfeioamento do fator humano, devendo constituir-
se um direito de todos. Est inserida no processo de desenvolvimen-
to da Nao e, como parte dele, no apenas se ajusta, mas interfere
nas aes, e sofre influncias, em especial, as de ordem poltica.
Na viso de Horta (1982), as diretrizes do Plano Trienal,
no que tange especificamente ao ensino superior, reportaram-se
ampliao das matrculas e diversificao dos cursos, no
quantificando esta ampliao, na forma de metas. Indicavam medi-
das no sentido de criar programas especficos para as reas de me-
dicina, engenharia e filosofia, com vistas expanso e melhoria
dos cursos de graduao, criao de cursos de ps-graduao e
formao de pesquisadores.
Ao lado dessa ampliao do conceito de educao e da
certeza da sua importncia para o processo de desenvolvimento
econmico, nascia a conscincia da necessidade de se planejar a
educao em articulao com o planejamento econmico e social
global, no s como forma de vincular a preparao de mo-de-
obra ao crescimento econmico, como tambm uma forma de pre-
134 134
E
m
A
b
e
r
t
o
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
7
,
n
.
7
2
,
p
.
1
2
5
-
1
4
0
,
f
e
v
.
/
j
u
n
.
2
0
0
0
.
parar o povo para a aceitao das reformas institucionais de bases
pretendidas (Ribeiro, 1989, p. 40).
Com a influncia tecnocrtica apontando ao poder, a
necessidade de racionalizao social, econmica e poltica, e a educa-
o considerada como um instrumento eficaz de difuso ideolgica,
era natural que ela fosse vista como um setor a ser planejado.
O Plano Nacional de Educao respondia a essa exi-
gncia, principalmente, no que concerne racionalizao das polti-
cas, porm, a sua formulao em nada se diferenciava de um progra-
ma de distribuio de recursos financeiros aos trs graus de ensino,
o que inviabilizava a sua execuo como plano.
ainda, Ribeiro (1989, p. 42) quem assegura que,
na sociedade brasileira, sobretudo no perodo de 1964 a 1970
(...), os interesses das classes no poder estavam intimamen-
te associados aos interesses do capital internacional e que,
nesse sentido, (...) a qualificao da fora de trabalho, sob a
tica da teoria do capital humano (...) representava para a
educao uma limitao, uma vez que ela (...) poderia qua-
lificar, a um nvel, que apenas satisfizesse a reproduo do
capital, no a sua socializao.
Os programas de desenvolvimento elaborados nesse
perodo, mesmo os relacionados com a rea setorial da educao
mantiveram-se numa linha tecnocrtica, com ntida opo pela
racionalidade, produtividade e eficincia, categorias que nortearam
(...) a concepo e (...) a qualidade do ensino neles defendida
(idem, p. 42).
Na rea propriamente educacional e, em especial,
atinente ao ensino superior, foi um momento prdigo em termos de
atendimento aos interesses do capital internacional, com a presen-
a, no Pas, de muitos consultores internacionais, em especial, os
norte-americanos, graas aos acordos MEC/Usaid.
Segundo Cunha (1988), os consultores norte-america-
nos (Atcon era grego, naturalizado norte-americano) desembarca-
vam em todos os lugares, acionados pelo governo dos Estados Uni-
dos e pelas empresas multinacionais, sendo recebidos como os
mestres da nova ordem pelos antigos dirigentes (reforados) e pe-
los novos (ansiosos por solidificar seu domnio). As universidades
brasileiras no ficaram imunes a esse clima. O antigo e firme im-
pulso de modernizao se articulou com a ideologia tecnocrtica
do planejamento na busca de mudanas que permitissem controlar
as irracionalidades, como eram definidas as movimentaes po-
lticas de professores e estudantes, assim como os desvios
curriculares. Mas, se havia propostas genricas de sobra, faltava
quem dissesse o que fazer em cada caso especfico de servios.
Atcon propunha autonomia de gesto para as univer-
sidades brasileiras, principalmente para as federais. Autonomia,
entendida como a no-interveno do Estado na administrao fi-
nanceira, acadmica e cientfica da universidade. Significaria sua
liberdade para selecionar, contratar pessoal, moldar sua prpria es-
trutura, elaborar sua poltica de desenvolvimento e crescimento, or-
ganizar e eliminar cursos, ensinar e pesquisar sem interferncias.
Este entendimento muito auxiliaria as instituies de ensino a
estruturar as suas formas de gesto de maneira racional e, com possi-
bilidade de se resguardar os limites da qualidade, to necessrios.
A conquista da autonomia deveria ser precedida por uma
reforma administrativa, entendida como a implantao de
uma administrao central, baseada nos princpios da efi-
cincia da empresa privada e no nos moldes da estagna-
o centralizada do servio pblico, pois uma entidade
autnoma uma grande empresa, no uma repartio p-
blica (Cunha, 1988, p. 207).
Os planos de desenvolvimento e os setoriais da rea
educacional (1972-1974 e 1974-1979), ainda do perodo militar,
garantiam o carter centralizador, e uma forma explcita de gesto,
presente em toda a evoluo do planejamento brasileiro, principal-
mente da educao.
135 E
m
A
b
e
r
t
o
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
7
,
n
.
7
2
,
p
.
1
2
5
-
1
4
0
,
f
e
v
.
/
j
u
n
.
2
0
0
0
.
A partir do contexto socioeconmico e poltico vi-
gente, os planos continham-se em uma metodologia bsica, que
no poderia ser outra seno a de talhe logstico. Tanto quanto eles
eram a formalizao da tica centralista do Governo Federal, seu
modo de ver e interpretar a realidade educativa condicionava-se
aos objetivos reais da logstica do crescimento acelerado (Gusso,
1980, p. 111).
Uma anlise da gnese ideolgica e poltica do plane-
jamento no Brasil indica que do mesmo modo que se formava a
estrutura terica e tcnica da poltica econmica, a da poltica edu-
cacional assentava-se na transposio acrtica das concepes e
modelos em voga nos pases desenvolvidos.
Os esforos de aperfeioamento no foram suficientes
para evitar que houvesse uma ritualizao do planejamento, em
todos os nveis, resultando na reproduo de objetivos e modelos
de ao, previamente determinados, que conseguiam, no limite,
acentuar o imobilismo do sistema educacional diante das presses
sociais por sua transformao.
O III Plano Setorial de Educao (PSEC) 1980-1985,
j em tempo de abertura poltica, introduz a idia do planejamento
participativo.
Com a descoberta feita pelos planejadores de que os
seus planos feitos com requintes tcnicos ou no eram levados
prtica, ou quando levados no conseguiam nela interferir, no sen-
tido de modific-la, vrias pesquisas foram feitas e acabaram por
demonstrar que tais planos no contavam com a participao da
comunidade na sua elaborao.
poca de elaborao do III PSEC, essa constatao
associada crise do milagre econmico somada necessidade de
reduo das desigualdade sociais, s era passvel de explicao,
com a participao poltica dos trabalhadores.
Foi ento que se introduziu no Pas a idia do planeja-
mento participativo, portanto, apontando para a gesto participativa
e democrtica da educao, como superao do modelo tecnocrtico,
reunindo educadores, representantes dos segmentos organizados
da sociedade civil, para pensar o desenvolvimento educacional
como um todo e em seus segmentos.
O planejamento participativo
constitui um processo poltico, um contnuo propsito co-
letivo, uma deliberada e amplamente discutida construo
do futuro da comunidade, na qual participe o maior nme-
ro possvel de membros de todas as categorias que a consti-
tuem. Significa, portanto, mais do que uma atividade tcni-
ca, um processo poltico deciso da maioria, tomada pela
maioria, em benefcio da maioria. Baseado na Pedagogia da
Libertao de Paulo Freire, parte da crena no potencial
humano, prope que o povo seja encarado como sujeito da
histria, como ator e no como mero espectador e aceita
que o desenvolvimento no um pacote de benefcios da-
dos populao necessitada, mas um processo atravs do
qual a populao adquire maior domnio sobre seu prprio
destino (Cornely, 1980, p. 30).
Ao lado de inmeros argumentos favorveis ao planeja-
mento participativo, muitos tcnicos e pensadores, dentre os quais
Marcuse, Paulo Freire, Fernando Guilln, Carlos Acedo Mendoza,
Kasperson e Bretkbart, Franz Faon e C. Wright Mills, atribuem valores
ticos participao da populao no planejamento de seu destino.
Vrios desses autores acusam de abertamente imoral o
processo de planejamento tecnocrtico que, sob o pretexto da neu-
tralidade, alija o povo das decises, avocando-as ao tcnico (idem,
p. 30). Na viso destes pensadores, o planejamento tecnocrtico re-
duz os homens condio de objetos e no a sujeitos da ao
planejadora, acentuando a ruptura entre o saber e o poder e forta-
lecendo o poder dos tcnicos em detrimento dos demais.
A experincia de planejamento participativo incorre,
porm, consciente ou inconscientemente em alguns riscos, ou at
mesmo em certos equvocos, sendo o mais freqente o de manipu-
lao da comunidade.
136 136
E
m
A
b
e
r
t
o
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
7
,
n
.
7
2
,
p
.
1
2
5
-
1
4
0
,
f
e
v
.
/
j
u
n
.
2
0
0
0
.
A ineficcia do planejamento tradicional e a necessida-
de de incorporar algo novo fizeram com que a idia fosse em parte
absorvida e experimentada, ainda que com outras denominaes na
experincia de planejamento educacional, que tem re(incio) com o
retorno do Pas democracia e com a assuno de presidentes civis.
A necessidade de transformar medidas de interesse da
populao em um plano, que pudesse encaminhar solues para
os graves problemas herdados pela Nova Repblica, levou o presi-
dente Sarney a orientar a elaborao do I Plano Nacional de Desen-
volvimento da Nova Repblica.
Este plano, prenunciando mudanas, substitua o
Combate Pobreza do ltimo plano do regime militar, pela
Prosperidade para Todos. Esta norma muito mais que um slogan
traduzia-se em medida orientadora fundamental, enfatizando as
questes sociais como to prioritrias quanto s questes de na-
tureza econmica.
Ao tratar da questo educacional, como uma das priori-
dades sociais, o I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova Re-
pblica comea por um relato da situao no Pas, por grau e moda-
lidade de ensino, alm de se reportar s tecnologias educacionais,
especialmente s de comunicao: rdio, televiso, cinema e
informtica (Gabardo, 1991, p. 121).
O Plano estabelece programas de ao por nveis de
ensino e continua a incentivar a gesto democrtica. Na rea do
ensino superior, prope o Programa Nova Universidade que visa
estabelecer padres mais elevados de desempenho acad-
mico, com vistas formao da conscincia crtica nacio-
nal e reduo da dependncia cientfica e tecnolgica
do pas, e atravs da reviso dos currculos, do estabele-
cimento de condies satisfatrias de infra-estrutura fsi-
ca e fortalecimento da base cientfica nacional. Determi-
na o apoio crescente aos programas de ps-graduao e s
atividades de pesquisa, destacando que as pesquisas edu-
cacionais devem voltar-se tanto para a conexo entre as
questes educacionais e os problemas da sociedade brasi-
leira, quanto para a superao dos obstculos encontra-
dos nos sistemas de 1 e 2 graus. Enfatiza as aes con-
juntas entre universidades e os sistemas de 1 e 2 graus,
a serem desenvolvidos, com a finalidade de elevar a qua-
lidade da educao oferecida nesses nveis de ensino. E,
tambm, determina o fortalecimento dos processos de
aperfeioamento e valorizao dos docentes de nvel su-
perior (Brasil, 1986, p. 67-69).
Com a eleio direta de 1989, quando a crise do Pas
atingia nveis inimaginveis, ascende ao poder, como primeiro pre-
sidente civil da Nova Repblica, eleito diretamente pelo povo,
Fernando Collor de Mello, e com ele medidas contra a inflao, a
corrupo, a sonegao de impostos, etc.
Na rea educacional, a prioridade para o ensino de
1 grau, cujo reforo vem inclusive da Constituio de 1988. pre-
ciso universalizar a educao bsica, destinando-lhe uma fatia maior
do bolo de recursos de que dispe o MEC.
O projeto para a rea educacional fica conhecido na
comunidade como projeto, dada a fragmentao que continua a
ser caracterstica da poltica educacional.
Para o ensino superior elaborado o projetinho que
continha a clebre proposta de modernizao e de aumento da pro-
dutividade da universidade brasileira, pela autonomia, pela avalia-
o, pelo exame de habilitao profissional (uma espcie de exame
de ordem) e pelo servio civil obrigatrio.
Com a eleio de Fernando Henrique Cardoso, como
presidente da Repblica, na esteira do sucesso e um novo plano de
estabilizao econmica o Real tem incio em 1995 o
detalhamento das propostas de governo contidas no documento
Mos--Obra, Brasil.
Os pilares bsicos de sua poltica para o ensino supe-
rior so: avaliao, autonomia universitria plena e melhoria do
ensino (Sousa, 1996, p. 4).
137 E
m
A
b
e
r
t
o
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
7
,
n
.
7
2
,
p
.
1
2
5
-
1
4
0
,
f
e
v
.
/
j
u
n
.
2
0
0
0
.
A nfase continua sendo a universalizao da educa-
o bsica, h uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educao
Nacional e, pela primeira vez, uma possibilidade concreta de se
pensar em uma proposta de formao do cidado, com incio na
escola bsica indo at a universidade. Novas formas de planeja-
mento e gesto so encaminhadas.
Mas tambm nesse perodo de governo que as diver-
gncias entre dirigentes do MEC e comunidade universitria so
acentuadas, embora haja convergncia de posies sobre: o esgota-
mento do modelo de universidade vigente; a necessidade de avali-
ao, como uma forma de autoconhecimento e de prestao de con-
tas sociedade; a necessidade de autonomia como elemento de
melhoria da qualidade do ensino e da gesto universitria, etc.
Na histria do planejamento, por fora das influncias
da reforma universitria e da onda modernizante que atinge a edu-
cao nacional, o planejamento estratgico de roupagem nova
chega educao, especialmente universidade, tentando conju-
gar aspectos tcnicos, polticos e de participao comunitria.
Planejamento estratgico:
modernidade ou modernizao?
Neste item, portanto, guisa de colaborao, concen-
tro minhas anlises nos resultados das investigaes que venho
realizando, bem como nos nortes para os quais eles apontam.
Peo licena para, a partir da minha prtica cotidiana, trazer refle-
xes sobre planejamento e gesto, no contexto universitrio.
Nos ltimos dois anos, desenvolvi uma pesquisa
intitulada Planejamento Universitrio: requisito da modernidade
ou instrumento de modernizao da universidade brasileira? Nesta
pesquisa, procurei buscar respostas para os agoras do Planeja-
mento, em especial, na sua utilizao nos meios universitrios, como
manifestao da racionalidade instrumental.
A partir de um olhar histrico, busquei os fundamentos
para anlise da realidade contempornea da universidade brasileira.
Tal anlise contou com a manifestao dos dirigentes
mximos das instituies universitrias, e mais do que apontar para
concluses, trouxe outras tantas indagaes.
Por que, com o mundo em mudana, a idia de univer-
sidade em crise, as administraes universitrias, ainda se preocu-
pam em procurar respostas tcnicas para questes polticas, como
a da modernizao das universidades? preciso refletir com
Habermas que estamos terminando o sculo XX em uma situao
preocupante e tal preocupao deve-se aos efeitos do que batiza-
mos de globalizao (Habermas, 1995, p. 87-101).
Referindo-se a esta questo e analisando os reflexos
das transformaes ocorridas na economia mundial e os conseqen-
tes desafios que so estabelecidos para as universidades, o profes-
sor Paul Singer chama a ateno especial para dois deles: a crise
das especialidades tradicionais e a rpida expanso da demanda
por profissionais cultos, dotados de conhecimentos gerais e por
isso mesmo flexveis com capacidade de assumir diferentes fun-
es e, sobretudo, de enfrentar solues e problemas inditos
(Singer, 1996, p. 23).
Se forem considerados apenas esses dois desafios, se-
remos forados a admitir que ambos so suficientes para causar
uma revoluo no entendimento do que qualidade acadmica,
com as necessidades imediatas de adoo de novos paradigmas para
o currculo, o processo de ensino/aprendizagem e a avaliao intra
e extra-sala de aula.
Tudo isto baseado na to simples, quanto complexa,
aceitao de que o conhecimento especializado pode, com muita
facilidade, ser colocado no crebro de um computador e ser acessado
por pessoas no-versadas num campo estreito de atuao, mas com
cultura ampla para mover-se, por muitos deles.
Est a universidade brasileira estruturalmente organiza-
da para enfrentar esse desafio? H consenso na comunidade univer-
sitria de que preciso, no sentido mais radical do termo, mudar?
A crise do Estado, as freqentes ameaas s universi-
dades, em especial as pblicas e gratuitas, isto , mantidas pelo
138 138
E
m
A
b
e
r
t
o
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
7
,
n
.
7
2
,
p
.
1
2
5
-
1
4
0
,
f
e
v
.
/
j
u
n
.
2
0
0
0
.
poder pblico, a ameaa de autonomia plena, tm levado a deba-
tes efetivos e conscientizao da comunidade universitria,
concernente idia de uma universidade que possa fazer frente a
esses desafios?
O sentimento que tenho, vivendo o cotidiano da vida
universitria e refletindo sobre as anlises realizadas nesta pesqui-
sa, o de que, no obstante os ingentes esforos, a to freqente
quanto intensa luta dos dirigentes para contornar a atual, e sempre
presente, crise da insuficincia de recursos financeiros, parece que
continuamos caminhando em crculos. No fazemos mais e me-
lhor, porque as reformas preconizadas pelo governo federal nos
estrangulam com a escassez de recursos financeiros, humanos e
materiais, com mudanas repentinas nas regras do jogo, como a
perda da filantropia pelas universidades comunitrias. Mas, se os
tivssemos em quantidade suficiente, teramos clareza sobre a sua
aplicao, em uma nova universidade?
O esgotamento do modelo hbrido de universidade,
desenhado aps 1968, incorporando traos do modelo norte-ame-
ricano base da tradicional concepo europia, est a apontar que
a diversidade de regies do Pas reclama novos modelos de univer-
sidade a serem construdos.
No entanto, apesar da conscincia de que se pratica
um modelo de universidade que no mais atende s necessidades,
em torno dele que concentramos nossas anlises e elaboramos
nossas propostas, de tal sorte que hoje uma parte considervel da
comunidade universitria (...) participa de debates, defende auto-
nomia, sem entender corretamente a sua razo, o seu significado, a
sua forma de ser exercida (Buarque, 1986, p. 44). Isto porque no
est claro para eles: autonomia para quem, para qual universidade,
enfim: uma autonomia sem contedo. Legal, estrutural,
organizacional, mas sem contedo.
Neste sentido, mais do que necessrio, fundamental
que a universidade repense a sua misso buscando seu novo papel
na nova economia e na sociedade em gestao. Neste papel, segun-
do ainda o professor Singer,
devem caber tanto a produo de servios para as empre-
sas, como para os governos e para o pblico em geral e a
discusso dos rumos alternativos que se abrem evoluo
social e econmica. Se as mudanas propostas pelo gover-
no federal e pelas entidades financiadoras podem piorar uma
situao que em si indefensvel, a ttica de meramente se
opor a estas propostas no basta.
O pensamento progressista no deve sucumbir a uma ali-
ana com os interesses constitudos, contrrios a qual-
quer mudana. A globalizao, a reforma do Estado e a
crise universitria exigem mais do que um mero no. Elas
exigem respostas criativas (Singer, 1996, p. 26).
neste quadro referencial que se deve pensar o plane-
jamento universitrio, ou estratgico, para ser fiel forma como ele
chegou s universidades.
Como ser criativo, estabelecendo a misso, os obje-
tivos e as metas para a universidade, sem ter clareza da idia
que conforma, neste final de sculo, essa complexa e to impor-
tante instituio?
Como solicitar da comunidade de dirigentes que esta-
belea as suas prioridades, perante a escassez de recursos financei-
ros, a partir de planilhas padronizadas, que nada mais so do que
tentativa de fazer com que a realidade caiba no modelo?
Como desburocratizar, agilizar procedimentos,
(re)organizar, atender s necessidades de infra-estrutura, enfim, racio-
nalizar, com a aplicao de instrumentais que reproduzem, na prtica,
camisas de fora que mais do que auxiliar, engessam a gesto?
Como auxiliar a universidade a desenvolver processos
participativos e legtimos de envolvimento da comunidade na bus-
ca de objetivos que dem voz e rosto aos que constroem as aes e,
portanto, devem planej-las?
Embora, com algumas diferenas em relao ao pla-
nejamento tradicional, o planejamento estratgico vem se constitu-
139 E
m
A
b
e
r
t
o
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
7
,
n
.
7
2
,
p
.
1
2
5
-
1
4
0
,
f
e
v
.
/
j
u
n
.
2
0
0
0
.
indo elemento presente em todas as administraes universitrias,
na busca da melhoria da qualidade da gesto. Porm, os equvocos
que envolvem a sua concepo, a ausncia de cuidados no tocante
indispensvel adaptao s especificidades da instituio univer-
sitria, que no uma empresa, mas sim uma organizao de car-
ter pblico, pois todas elas sem distino foram criadas para servir
ao pblico, a certeza de que ele reproduz na prtica uma manifes-
tao da racionalidade instrumental, colocam-no como elemento
de modernizao sim, como o so a compra de equipamentos sofis-
ticados, a instalao de laboratrios de ltima gerao, mas no
parceiro da Universidade na sua busca de modernidade.
Como um elemento da tecnoburocracia, o planejamen-
to tem exercido o poder de seduo que leva dirigentes universit-
rios esclarecidos e combativos a dedicar parte de seu precioso tempo
a longos e incuos exerccios de tecnocracia explcita, quando seus
esforos poderiam convergir para a aventura de criar novos pensa-
mentos e us-los na busca de um mundo novo, uma universidade
nova, capaz de planejar a sua prpria utopia de modernidade, com
democracia interna, participao, representatividade e legitimidade.
Sem isso, o planejamento universitrio continuar a
ser um mero exerccio de anlise de cenrios, previso de tendn-
cias, formulao de misses, etc., sem rever os fins e o papel da
instituio (alis, uma das suas exigncias) e, portanto, sem ser o
parceiro da universidade nas aventuras de um pensamento que a
faz moderna e vivendo uma era de modernidade.
Referncias bibliogrficas
BRASIL. Presidncia da Repblica. I Plano Nacional de Desen-
volvimento da Nova Repblica I PND/NR 1986-1989.
Braslia, 1986.
BUARQUE, C. Uma idia de universidade. Braslia : Ed. UnB, 1986.
CARR, Eduard H. Que histria? Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1976.
CROCE, Benedetto. Teoria e storia della storiografia. Bari :
Laterza, 1920.
CHTELET, Franois. Uma histria da razo : entrevistas com mile
Nol. Rio de Janeiro : Zahar, 1994.
CUNHA, Luiz Antonio. Histria do ensino superior no Brasil. Frum
Educacional, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 36-52, abr./jun. 1981.
. A universidade reformanda. Rio de Janeiro : Francisco
Alves, 1988.
DALLAND, Robert. Estratgia e estilo do planejamento brasileiro.
Rio de Janeiro : Lidador, 1968.
FEBVRE, Lucien. Contra a histria historicizante. In: MOTA, Carlos
Guilherme. A ideologia da cultura brasileira. So Paulo : tica,
1977.
GABARDO, Cleusa V. Planejamento da educao no Brasil : limites
e possibilidades. Curitiba, 1991. Dissertao (Mestrado) Uni-
versidade Federal do Paran.
GALLO, Edmundo. Razo e planejamento. Rio de Janeiro : Hucitec/
A. Brasco, 1995.
GHIRALDELLI JNIOR, Paulo. Educao e razo histrica. So
Paulo : Cortez, 1994.
GUSSO, Divonzir. Subsdios ao planejamento participativo. In:
PLANEJAMENTO educacional. Braslia : MEC, 1980.
HABERMAS, J. O estado-nao europeu frente aos desafios da
globalizao. Novos Estudos, So Paulo, n. 43, p. 87-101, nov.
1995. Traduo de Antonio Srgio Rocha.
HEGEL, Friedrich. Leons sur la philophie de lhistoire. Paris : I.
Urin, 1967.
HORTA, Jos Silvrio Baia. Liberalismo, tecnocracia e planejamen-
to educacional no Brasil. So Paulo : Cortez, 1982.
. Planejamento Educacional. In: FILOSOFIA da educa-
o brasileira. 7. ed. Rio de Janeiro : Civilizao Brasileira, 1987.
LAFER, Betty Mindlin. Planejamento no Brasil. So Paulo : Pers-
pectiva, 1970.
LOWY, Michel. Mtodo dialtico e teoria poltica. Rio de Janeiro :
Paz e Terra, 1975.
MARX, Karl. Introduo crtica da economia poltica. In:
GIANNOTTI, Jos Arthur (Org.). Karl Marx, manuscritos
140 140
E
m
A
b
e
r
t
o
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
7
,
n
.
7
2
,
p
.
1
2
5
-
1
4
0
,
f
e
v
.
/
j
u
n
.
2
0
0
0
.
econmico-filosficos e outros textos escolhidos. So Paulo : Abril
Cultural, 1974.
PEREIRA, Luiz. Histria e planificao. In: PEREIRA, Luiz. Ensaios
de Sociologia do Desenvolvimento. So Paulo : Pioneira, 1970.
RIBEIRO, Renato Janine. A ltima razo dos reis. So Paulo : Com-
panhia das Letras, 1993 apud GHIRALDELLI JNIOR, Paulo.
Educao e razo histrica. So Paulo : Cortez, 1994.
SCHAFF, Adam. Histria e verdade. Lisboa : Estampa, 1977.
SINGER, Paul. Globalizao, Estado e universidade. In: SEMINRIO
GLOBALIZAO E ESTADO. Anais... Curitiba : 1996.
ZAINKO, Maria Amelia S. Planejamento, universidade e
modernidade. Curitiba : All Graf AUGM, 1998.
You might also like
- Língua, linguagem e ensinoDocument15 pagesLíngua, linguagem e ensinoruthvloNo ratings yet
- Potências e suas propriedadesDocument7 pagesPotências e suas propriedadesruthvloNo ratings yet
- Funcao LiteralDocument2 pagesFuncao LiteralHenrique ProençaNo ratings yet
- Matemática ANEF 8a sérieDocument48 pagesMatemática ANEF 8a sériewndel1100% (2)
- Realizado Por: Vânia OliveiraDocument8 pagesRealizado Por: Vânia OliveiraquintodquintoeNo ratings yet
- AP. Geometria PlanaDocument12 pagesAP. Geometria PlanaruthvloNo ratings yet
- CEESV Dinheiro Porcentagem MedidasDocument28 pagesCEESV Dinheiro Porcentagem MedidasJoão SantosNo ratings yet
- Avaliação Diagnósticade MatemáticaDocument8 pagesAvaliação Diagnósticade MatemáticaruthvloNo ratings yet
- O Planejamento em EducaçãoDocument8 pagesO Planejamento em EducaçãoLayanne Lira LopesNo ratings yet
- Funções do Primeiro GrauDocument11 pagesFunções do Primeiro GrauAnderson Ubiratan100% (1)
- 2c2ba Ano Lista de Exercc3adcios 1c2ba Bimestre1Document2 pages2c2ba Ano Lista de Exercc3adcios 1c2ba Bimestre1Cesimar BarrosNo ratings yet
- Disserta o Ana Catarina Cantoni RoqueDocument148 pagesDisserta o Ana Catarina Cantoni RoqueruthvloNo ratings yet
- CBC MatematicaDocument80 pagesCBC MatematicaAline Cristina Pereira100% (5)
- Polígonos RegularesDocument23 pagesPolígonos RegularesedpsousaNo ratings yet
- 6c2ba Ano Proposta Anual Matemc3a1tica Contec3bado Bc3a1sicoDocument3 pages6c2ba Ano Proposta Anual Matemc3a1tica Contec3bado Bc3a1sicoadenilsonsantossantaNo ratings yet
- Matemática Financeira - 216 Questões Com GabaritoDocument52 pagesMatemática Financeira - 216 Questões Com GabaritoAdm. Dheymia LimaNo ratings yet
- Algoritmo para Extração Da Raíz QuadradaDocument5 pagesAlgoritmo para Extração Da Raíz QuadradaKelvin MattosNo ratings yet
- Filosofia Da Educação LivroDocument438 pagesFilosofia Da Educação LivrofabioguitNo ratings yet
- 123listadeexercicios2bim8ano 100517130141 Phpapp02Document4 pages123listadeexercicios2bim8ano 100517130141 Phpapp02ruthvloNo ratings yet
- Vetores (Ângulo Entre Dois Vetores)Document17 pagesVetores (Ângulo Entre Dois Vetores)Laudio ClaudaresNo ratings yet
- Cartilha Da CidadaniaDocument40 pagesCartilha Da CidadaniaLourdes HTNo ratings yet
- AnguloDocument6 pagesAnguloMilena SouzaNo ratings yet
- 2 Lista Exercicios ComplementaresDocument7 pages2 Lista Exercicios ComplementaresPaulo Rico EstevãoNo ratings yet
- Apostila de Sociologia e Educacao IDocument107 pagesApostila de Sociologia e Educacao IruthvloNo ratings yet
- A importância do Teorema de Pitágoras no ensino de CiênciasDocument78 pagesA importância do Teorema de Pitágoras no ensino de CiênciasruthvloNo ratings yet
- Potências e suas propriedadesDocument7 pagesPotências e suas propriedadesruthvloNo ratings yet
- Potências e suas propriedadesDocument7 pagesPotências e suas propriedadesruthvloNo ratings yet
- Aula7 EPNDocument5 pagesAula7 EPNruthvloNo ratings yet
- Operações com Números InteirosDocument8 pagesOperações com Números InteirosCaren FontellaNo ratings yet
- Cadernos-IPUB-No8-1997-Noção de Pessoa e Institucionalização Dos Saberes... - CompletoDocument194 pagesCadernos-IPUB-No8-1997-Noção de Pessoa e Institucionalização Dos Saberes... - CompletoEduardo Popinhak FrancoNo ratings yet
- Evolução histórica da cidadaniaDocument22 pagesEvolução histórica da cidadaniaLeonardo MeiraNo ratings yet
- Motor Portão Deslizante Kit e Manual InstalarDocument23 pagesMotor Portão Deslizante Kit e Manual InstalarMario Costa FhNo ratings yet
- A percepção das mães sobre a fototerapia neonatalDocument8 pagesA percepção das mães sobre a fototerapia neonatalalmeida_2003No ratings yet
- Raízes sociais da violência em MoçambiqueDocument18 pagesRaízes sociais da violência em MoçambiqueJoaquim MaloaNo ratings yet
- Modelos Gestão Pública BrasilDocument75 pagesModelos Gestão Pública BrasilPaulo Henrique Almeida TeixeiraNo ratings yet
- Per139955 1935 00009Document287 pagesPer139955 1935 000091dennys5No ratings yet
- Exemplo de Seguro GarantiaDocument2 pagesExemplo de Seguro GarantiaFernando CamposNo ratings yet
- Caderno de História PDFDocument101 pagesCaderno de História PDFJéferson GesteiraNo ratings yet
- Apostila de Sociologia - Instituições SociaisDocument147 pagesApostila de Sociologia - Instituições SociaisDaniel LuizNo ratings yet
- Disciplina e Controle Na Escola - Do Dócil Ao Flexível - Edit Final - 20jul08Document12 pagesDisciplina e Controle Na Escola - Do Dócil Ao Flexível - Edit Final - 20jul08rubens_gurgelNo ratings yet
- Apostila LiberdadeDocument12 pagesApostila LiberdadeAntonio NeresNo ratings yet
- As Culturas Híbridas em Tempos de GlobalizaçãoDocument370 pagesAs Culturas Híbridas em Tempos de GlobalizaçãoGabriela BonNo ratings yet
- Revista 6 SNIGDocument45 pagesRevista 6 SNIGBruno Filipe PiresNo ratings yet
- Direitos Sociais - O Artigo 6º Da Constituição Federal e Sua EfetividadeDocument274 pagesDireitos Sociais - O Artigo 6º Da Constituição Federal e Sua EfetividadeAmanda EvansNo ratings yet
- Sei - Dpu - 5862176 - OfícioDocument5 pagesSei - Dpu - 5862176 - OfícioGuilherme Delinardi ResckNo ratings yet
- Relação Escola-Família no EnsinoDocument31 pagesRelação Escola-Família no EnsinoAnatoli Jose Abel GingaNo ratings yet
- 7º Ano de Escolaridade PDFDocument22 pages7º Ano de Escolaridade PDFRoberta NogueiraNo ratings yet
- A Parte do Cauim dos JurunaDocument456 pagesA Parte do Cauim dos JurunaPriscilla100% (1)
- Constituição Brasileira - Artigos 205 a 214 sobre EducaçãoDocument5 pagesConstituição Brasileira - Artigos 205 a 214 sobre EducaçãoVanusa63% (8)
- O turismo na ótica geográficaDocument9 pagesO turismo na ótica geográficaFrancisco DantasNo ratings yet
- Diário Oficial do TCU de MT divulga julgamentos e atos de gestãoDocument175 pagesDiário Oficial do TCU de MT divulga julgamentos e atos de gestãoRafael Lopes GonzalezNo ratings yet
- Saúde, corpo e educação físicaDocument23 pagesSaúde, corpo e educação físicaThanandraPSRochaFerreiraNo ratings yet
- 8º Ano - M1 - Prova de Geografia - 1º BM 2022Document2 pages8º Ano - M1 - Prova de Geografia - 1º BM 2022Edinaldo LuzNo ratings yet
- O Intelectual Público, A Ética Republicana e A Fratura Do Éthos Da Ciência Ivan DominguesDocument23 pagesO Intelectual Público, A Ética Republicana e A Fratura Do Éthos Da Ciência Ivan DominguesJéssica BleyNo ratings yet
- Etapas elaboração pedido patenteDocument3 pagesEtapas elaboração pedido patenteLeandro MartinsNo ratings yet
- Diretrizes Básicas para Arquitetura PenalDocument111 pagesDiretrizes Básicas para Arquitetura PenalIgor RezendeNo ratings yet
- Noções de Direito PenalDocument48 pagesNoções de Direito PenalDharly Oliveira100% (2)
- Sistema RPG Call of Cthulhu adaptadoDocument4 pagesSistema RPG Call of Cthulhu adaptadoPedro AssisNo ratings yet
- Sociedade Da Informação - Jorge WertheinDocument7 pagesSociedade Da Informação - Jorge WertheindiabeticoNo ratings yet