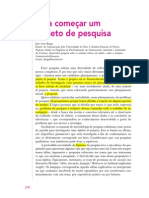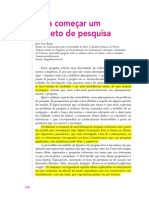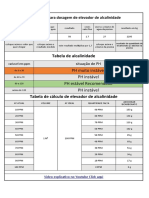Professional Documents
Culture Documents
Midia e Imaginário Gustavo de Castro
Uploaded by
Raquel Holanda0 ratings0% found this document useful (0 votes)
92 views214 pagesOriginal Title
Midia_e_Imaginário_Gustavo_de_Castro
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
92 views214 pagesMidia e Imaginário Gustavo de Castro
Uploaded by
Raquel HolandaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 214
MDIA E IMAGINRIO
Projeto, Produo e Capa
Coletivo Grco Annablume
Conselho Editorial
Eduardo Peuela Caizal
Norval Baitello junior
Maria Odila Leite da Silva Dias
Celia Maria Marinho de Azevedo
Gustavo Bernardo Krause
Maria de Lourdes Sekeff (in memoriam)
Pedro Roberto Jacobi
Lucrcia DAlessio Ferrara
1 edio: agosto de 2012
Gustavo de Castro
ANNABLUME editora . comunicao
Rua M.M.D.C., 217. Butant
05510-021 . So Paulo . SP . Brasil
Tel. e Fax. (011) 3539 0226-6764 Televendas 3539 0225
www.annablume.com.br
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao - CIP
C355 Castro, Gustavo de, Org.
Mdia e imaginrio. / Organizao de Gustavo de Castro. Introduo
de Srgio Dayrell Porto. So Paulo: Annablume, 2012.
214 p. ; 14x12 cm
Linha de pesquisa Imagem e Som, do Programa de Ps-Graduao em
Comunicao da UnB
ISBN 978-85-391-0425-3
1. Lingustica. 2. Comunicao. 3. Linguagem Miditica. 4. Mdia.
5. Imaginrio. 6. Anlise do Discurso. 7. Braslia. I. Ttulo. II. Porto, Srgio
Dayrel. III. Kamper, Dietmar. IV. Wulf, Christoph. V. Dravet, Florence. Vi.
Montoro, Tnia. VII. Madeira, Lavinia. VIII. Ferreira, Clodomir. IX. De-
sidrio, Plbio. X. Oliveira, Selma. XI. Renault, Letcia. XII. Silva, Gislene.
XIII. Vincent, Frdric. XIV. Castro, Gustavo de, Organizador.
CDU 82.0.03
CDD 418
Catalogao elaborada por Ruth Simo Paulino
La imaginacin es un msculo como otro
cualquiera y hay que desarrollarlo.
Laura Gallego
O mundo se torna uma fbula.
Friedrich Nietzsche
Imaginar uma lmpada at acend-la.
Roberto Juarroz
A imaginao, a poesia e a fantasia
so mdias porque transportam o homem
para estados supra-reais. So canais que
irrigam a realidade, o pensamento e a ideia.
Eugenio Montale
Sumrio
Primeiras linhas 00
Srgio Dayrell Porto
Abertura s linhas imaginrias 00
Gustavo de Castro
1. Imagem 00
Dietmar Kamper
2. Imagem e fantasia 00
Christoph Wulf
3. Imaginrio, literatura e mdia 00
Gustavo de Castro
4. Imaginrio e narrativa 00
Selma Regina Nunes Oliveira
5. O imaginrio da linguagem entre logos e mythos 00
Florence Dravet
6. A cincia no imaginrio miditico 00
Lavina Madeira Ribeiro
7. Imaginando o tringulo: msica, comunicao e histria 00
Clodomir Ferreira
8. O imaginrio, o sensvel e o jornalismo 00
Gislene Silva
9. O imaginrio, web e telejornalismo 00
Letcia Renault
10. Imaginrio inicitico, imerso e cibersociabilidade 00
Frdric Vincent
11. Mito e imaginrio na telenovela 00
Plbio Desidrio
12. Imagens e imaginrios de Braslia no cinema 00
Tnia Montoro
Primeiras linhas
Michel Foucault, em seu livro A Ordem do Discurso (1971),
nos fala da gura do sujeito fundador. Da imagem extrada da
sua conscincia losca e potica, a que o tradutor chamou de
sujeito fundante, refere-se funo primordial do sujeito identi-
cado com a ideia de que o universo est repleto de lugares vazios e
que cabe a esse sujeito fundador o preenchimento desses espaos,
utilizando-se da linguagem de que possuidor nato.
As intuies, as iluminaes, os conceitos, as ideias, as ima-
gens, as proposies, as frases, as sentenas, as oraes, os discur-
sos, as narrativas que o sujeito fundante capaz de fazer e ter,
esto a para preencher essa enorme lacuna do mundo, mundo
vazio, por mais que a notcia e a informao queiram trazer para
si o direito roubado de que nunca elas sero demais, por mais,
outros vazios, elas possam causar.
So Joo, o evangelista do quarto evangelho, que o mesmo
So Joo, o escatologista do apocalipse, preenchendo os espaos
vazios em torno de Jesus Cristo vivo e amigo, portando-se como
sujeito fundador nos traz as seguintes imagens que j pr-exis-
tiam em sua conscincia de poeta:
10
No princpio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o ver-
bo era Deus. No princpio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por
meio dele e sem ele nada foi feito. E o que foi feito nele era a vida, e a
vida era a luz dos homens; e a luz brilha nas trevas, mas as trevas no
a apreenderam Prlogo do evangelho de So Joo, versculos 1 a 4.
Imagens tambm que j ocupavam seu imaginrio apocalp-
tico e escatolgico:
Depois disso, tive uma viso: havia uma porta aberta para o
cu, e a primeira voz, que ouvira falar-me como trombeta, disse:
sobe at aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acon-
tecer depois destas. Fui imediatamente movido pelo Esprito: eis
que havia um trono no cu, e no trono Algum sentado... O que
estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina,
e um arco-ris envolvia o trono com reexos de esmeralda Joo,
Apocalipse, cap. 4, vers. 1 a 4.
Este Mdia e Imaginrio, livro contendo artigos de profes-
sores e alunos ligados linha de pesquisa Imagem e Som, do
Programa de Ps-Graduao em Comunicao da UnB, alm de
outros autores do Brasil e do exterior, percorre as linhas imagi-
nrias de alguns vazios, sempre carentes, que compem o espao
do comunicador de hoje: a prpria imagem, a literatura, a mdia,
as narrativas, os discursos, a linguagem em si, o logos, os mitos,
a cincia, o jornalismo, a rede web, o telejornalismo, a ciberso-
ciabilidade, a telenovela, o cinema, a cidade, Braslia. Em sua
leitura notamos a encarnao, cada um sua maneira e com suas
imagens idiossincrticas:
O sujeito fundante, diz Foucault, com efeito, est encarrega-
do de animar diretamente, com suas intenes, as formas vazias
da lngua; ele que, atravessando a espessura ou a inrcia das
coisas vazias, reapreende, na intuio, o sentido que a se encon-
tra depositado. Na sua relao com o sentido, o sujeito fundador
dispe de signos, marcas, traos, letras. Mas, para manifest-los,
no precisa passar pela instncia singular do discurso.
Termino essas primeiras linhas escritas lembrando que s coi-
sas j ditas ou interditas, existem muitas imagens a dizer e a mos-
11
trar, na uncia dos acontecimentos miditicos, cujos coment-
rios so sempre fertilizados por imagens que ainda no foram ne-
gociadas por seus possuidores, com seus arquivos e conscincias.
SRGIO DAYRELL PORTO,
Braslia, 2012.
Abertura s linhas imaginrias
No raro as pesquisa acadmicas no campo da comunicao
desmerecem as contribuies e possibilidades analticas presentes
nas teorias do imaginrio. Pouco a pouco, contudo, essa realida-
de vem mudando. E muda com a crise pela qual passa a prpria
noo de realidade. Erroneamente o imaginrio visto como o
contrrio de realidade. Em certa medida, verdade que o imagi-
nrio no trata da realidade mas de nveis de realidade: revela as
suas mscaras. Neste sentido, no se ope ao real, mas o comple-
menta, critica, consuma e realimenta.
Do que j se especulou sobre o papel da imaginao e dos
sonhos na Comunicao, percebe-se a existncia e a experincia
de um imaginrio que abastece os sonhos e a realidade scio-
miditica, ao mesmo tempo em que alimentado por elas. Ao
jogo de re-troalimentao permanente e abastecimento podemos
entender a complexidade da Cultura dos Media.
O imaginrio um sistema-poema (transcultural e transco-
municacional) que s pode ser acessado atravs do prprio ima-
ginrio ou do pensamento simblico, ou da interpretao desse
pensamento. Ele ganha signicado a partir da interpretao que,
14
por sua vez, busca referncias no conhecimento do senso comum;
das representaes coletivas ou dos enigmas. O imaginrio revela
os aspectos profundos da realidade, desaando qualquer outro
meio de conhecimento. As imagens, os smbolos e mitos no so
apenas criaes aleatrias da psique.
O imaginrio um meio condutor do conhecimento huma-
no, formado por smbolos, sonhos, ideias e mitos, enm, pelas
modalidades de sonhos produzidos pelas culturas, que se torna-
ram indispensveis para a nossa vida social. S por ser caracteri-
zado por Bachelard como meio condutor, j valeria um estudo
no campo comunicacional.
Com Bachelard, acreditamos que as linhas imaginrias so
as verdadeiras linhas da vida, aquelas que mais dicilmente se
rompem. Imaginao e vontade so dois aspectos de uma mesma
fora profunda. Sabe querer quem sabe imaginar.
Edgar Morin traa um complexo trinitrio que exemplica a
dinmica de formao do imaginrio e de sua inuncia sobre a
vida dita real. Esse complexo seria composto de psicosfera, socio-
sfera e noosfera. A psicosfera seria a esfera dos espritos/crebros
individuais. A fonte das representaes, dos sonhos e dos pensa-
mentos.
A concretizao fenomnica dos mitos, dos deuses, das ideias
e das doutrinas, s possvel na e atravs da sociosfera. Nas inte-
raes apreendemos iluses e verdades na mesma realidade
social. Atravs da materializao dos pensamentos da psicosfera
na sociosfera, alimenta-se a noosfera (noos = mente), reiniciando
assim o ciclo de formao do imaginrio.
O imaginrio na comunicao um circuito que se retroali-
menta, ao passo que um dilogo e um trnsito entre psicosfera-
sociosfera-noosfera alimentado pela dinmica informao-comu-
nicao-conhecimentos. Neste sentido, a comunicao (esttica)
engloba o estudo do sonho e da imaginao.
Como a Comunicao, o imaginrio possui o papel de rela-
cionar esprito e natureza, o interior com o exterior, as intuies
com os conceitos. O imaginrio liga conceitos (entendimentos) a
15
intuies (sensibilidades) de duas maneiras: ou subordinando as
intuies aos conceitos (conhecimento objetivo) ou relacionan-
do-os funcionalmente entre si. quando temos o prazer esttico.
A Comunicao, assim como o imaginrio, joga com o en-
tendimento e a sensibilidade. Possui a livre legalidade da imagi-
nao. A arte opera como meio de comunicao de pensamentos
e sensibilidades que complementam o conhecimento objetivo,
que est limitado rbita dos fenmenos, das representaes, dos
conceitos, situada at mesmo alm da experincia sensvel.
Em doze artigos, que tratam da relao do imaginrio com a
cincia e a linguagem, passando pela questo da arte, do simb-
lico e das narrativas, at o cinema, a publicidade e o jornalismo,
este Mdia e Imaginrio se insere dentro da noo que Dietmar
Kamper chamou de rbita do imaginrio: a esfera imagtica da
histria humana suspensa e presente a volta que dialoga e con-
trasta com a fora da imaginao (Enbildungskraft) humana, o
instante criativo das imagens produzidas pela vontade do corpo
(Krperdenken). Ao passo que o imaginrio permite a visibilida-
de, tambm a oculta. Ao passo que o imaginrio permite a visi-
bilidade, tambm a oculta. No devemos confundir imaginrio
com cultura visual.
No mapa de compreenso do imaginrio, necessitamos en-
tender as relaes entre os meios de comunicao e as novas sen-
sibilidades. Frequentemente associado a posturas desviantes e il-
gicas, que podem parecer interessantes apenas para o domnio das
artes, do espetculo e do ldico, sem qualquer valor para nossos
modelos de conhecimento, o imaginrio merece nova presena.
Perante universos de signicao cada vez mais plurais e parado-
xais, temos a necessidade da compreenso destes condutores de
enganos, sentido e de saberes.
O imaginrio no satisfao dos instintos reprimidos, nem
uma reicao alienante do homem, nem o novo jugo, como
cr Habermas, antes a capacidade elementar e irredutvel que
cada ser humano tem de presenticar (no sentido de ter presente,
a-presentar; re-presentar) uma imagem-ideia (ou vrias) em sua
16
vida. Toda imagem-ideia inicia um processo que, incessantemen-
te, se reconstri, de modo que associada s outras imagens-ideias,
constitui imaginrios coletivos e individuais, formando uma
nova arquitetura dos saberes pessoais e grupais. Nossa proposta
olhar um pouco os aspectos narrativos, fazer dialogar discur-
sos cientcos, terico-metodolgicos, com discursos miditicos,
produtos, obras e processos comunicacionais.
Entre as autocrticas, a primeira a de que o tema ainda nos
escapa. Este livro tenta avanar parcialmente da discusso mi-
ditica, que vai da noo de imagem de imaginao, passando
obviamente pela de imaginrio.
A ideia ir ampliando pouco a pouco, para facilitar a apre-
enso e o entendimento. Neste sentido, zemos o percurso (par-
tindo) da imagem, passando pelas narrativas, a literatura e a po-
esia, a questo problemtica da nomeao, a msica, o canto e o
encanto (mgico); mythos, logos, techn; a discusso da cincia
a luz do imaginrio miditico, o audiovisual e o jornalismo; as
tecno-visualidades: web, cyber, a telenovela e o cinema.
Aqui, gostaria de homenagear Dietmar Kamper, cujo texto
abre o livro. Fui seu aluno em Natal, em 1997, onde ministrou
curso na UFRN, sobre histria do olhar e do imaginrio. Desde
ento, passei a ler e publicar o seu trabalho. Outro agradecimen-
to vai para Norval Baitello Jr., que traduziu o texto de Kamper.
Ainda inspirados em Kamper, preparamos o curso Filosoa da
Comunicao: Imagens, Corpos e Imaginrios, no Programa de
Ps-Graduao em Comunicao, da Universidade de Braslia
(UnB), ministrado de Maio a Agosto de 2010, por mim, Floren-
ce Dravet e Selma Oliveira. Este curso tambm o gene ancestral
da formao do grupo de estudos e pesquisas Com Versaes e do
Laboratrio de Narrativas, da Faculdade de Comunicao.
GUSTAVO DE CASTRO.
Vero de 2012
1. Imagem
Dietmar Kamper
1
Os versos de Hlderlin, tirados de Hiprion, O homem um
deus quando sonha, um mendigo quando pensa, representam
bem, em sentido literal, o signicado ambivalente da imagem. A
pesquisa etimolgica da palavra Bild ( imagem, em alemo) re-
vela diversos signicados: bilidi (do alto alemo antigo) signica,
efetivamente, por um lado, signo (sobrenatural), ser, forma;
e, por outro, imagem, cpia, reproduo (hoje questiona-se se o
radical bil- encontrado em billig, Bilwis no signica direito,
ou ainda certo, justo). Acentua-se portanto, por um lado, o
meio pelo qual uma coisa toma forma, assume uma natureza qual-
1 Doutor em Filosoa. Professor da Universidade de Marburg de 1973 a
1979. Professor de sociologia cultural e membro do Centro de Investi-
gao em Antropologia Cultural na Universidade Livre de Berlim. Autor
de Sobre a histria da imaginao. Hanser Verlag, Mnchen Wien, 1981,
e do A Sociologia da imaginao. Hanser Verlag, Mnchen Wien, 1986.
Este texto foi extrado do livro Cosmo, Corpo, Cultura. Enciclopdia
Antropologica. De Christoph Wulf. Ed. Mondadori. Milano. Itlia. 2002.
(Trad. Llia Lustosa. Reviso tcnica Florence Dravet).
18
quer, revelando seu poder mgico; por outro, retoma-se aquilo que
representa, copia ou indica uma determinada forma original.
Esta posio movedia entre uma ordem mgica de presena
absoluta, na qual a imagem idntica ao que ela representa, e
uma ordem de representao que tende negao, em que, na
melhor das hipteses, se encontrar a semelhana um carimbo,
um espelho, uma alegoria... Esta ambivalncia nunca se perdeu
realmente. Estamos certamente acostumados a pensar uma passa-
gem histrica e biogrca partindo da magia representao, da
realidade da imagem que compreende a realidade como um
ser na imagem ao exerccio do desenho moderno, que no
concebe outro sistema alm do que o de referncias. a isso que
se referem os versos de Hlderlin. Mas estes vestgios mgicos
sobrevivem at mesmo em tempos esclarecidos: na tradio dos
cones das igrejas ortodoxas, na eucaristia do culto catlico, em
certas tendncias poticas atuais e na Arte.
possvel, portanto, deduzir que haja uma realidade imut-
vel e hierrquica da imagem e, ao mesmo tempo, compreender
melhor, a partir da, os importantes efeitos produzidos pela massa
de imagens que nos inunda nestes tempos de completa abstrao.
O vazio deixado ao centro das imagens no poder jamais ser
preenchido pela construo da razo produtora de signos. Porm,
como ningum est altura de resistir ao horror vacui
2
, um
crculo de ersatz
3
se instaura cada vez mais rapidamente. Ora,
um evento que nunca aconteceu agir mais imperativamente que
um ato mgico que tenha acontecido de fato.
Nos artigos do Dicionrio Histrico de Filosoa
4
, a irritao
causada pelos signicados cintilantes da palavra Bild chega a
2 Medo do espao vazio. Nas artes, signica preencher a obra em sua totali-
dade, no deixando nenhum espao vazio.
3 Substitutos de qualidade inferior, que no esto altura do original.
4 O Historisches Wrterbuch der Philosophie um dicionrio alemo de
termos loscos, de 13 volumes, editado, em sua origem, por Joachim
Ritter e Karlfried Grnder.
19
ser ostensiva. possvel denir as diferentes correntes de pensa-
mento analisando suas posies com relao magia e represen-
tao. Os termos gregos eikon e o latim imago conservam o
mesmo sentido duplo que a palavra bilidi, ainda que o trabalho
terico da losoa grega e a exegese bblica judaica e crist te-
nham, sem dvida alguma, acelerado o afastamento da aceitao
mgica da imagem.
Plato j havia em funo de sua falta de conana nos poe-
tas estabelecido uma diviso clara entre a ideia e a imagem, ten-
do, com isso, tornado suspeitas a imaginao e suas sionomias
ilusrias. As inuncias gnsticas puderam frear esta tendncia
com suas hierarquias da semelhana.
Um momento ainda mais decisivo para o destino ocidental
da imaginao foi o do princpio judeu-cristo do imago Dei, in-
uenciado essencialmente pelas especulaes paulinas em torno
do primeiro e do ltimo Ado.
Eikon pode signicar assim como imago a impres-
so de um selo, o reexo no espelho, a sombra de uma pessoa,
logo, toda uma gama de relaes em que os graus de semelhana
variam. , ento, possvel se falar de um lho como o eikon de
seu pai. E neste sentido que So Paulo reclama para Cristo -
ltimo Ado - a denio de imagem de Deus, e o coloca em
contato com o homem ednico de antes do pecado. Surge assim
um conceito na histria crist, que tem como signo essencial uma
determinada verso da imagem para o Princpio e para o Fim (a
saber, sua funo de espelho, reetindo o cheio como se vazio
fosse), e que postula para a histria intermediria um distancia-
mento seguido de uma reaproximao da realidade da imagem.
A fecundidade eminente deste conceito no deve, no entan-
to, esconder que, devido a sua falta de substncia que de fato
uma relao pura! ele se abre abstrao (que ele quer evitar),
como se pode observar na metfora de reexos innitos de Nico-
lau de Cusa ou no conceito leibniziano das mnadas: um espe-
lho do universo. Mas esta fecundidade conceitual nos conduz,
sobretudo, a fazer da imagem um completo tabu. Constata-se,
20
ao longo da histria da losoa, desde a Idade Mdia, que a con-
cretizao do conceito de imago Dei vem acompanhada de ondas
iconoclastas, sem que possamos, no entanto, falar de preconceito.
Pode-se, ento, encontrar nesses atos de destruio violenta
da imagem idolatrada uma prova ex negativo de seu poder mgi-
co. Um tema que, at a Revoluo Francesa, ainda seria conside-
rado pblico: ...os Girondinos estavam assim profundamente
convencidos de que o mundo maldito dos reis no encontraria
seu m, enquanto eles continuassem a viver de imagens (Schra-
der 1965: 15). Decapitou-se, portanto, os dolos esculpidos do
poder.
De outro lado, Francis Bacon deu incio, de certa maneira,
histria da ideologia, ao denir a idola como imagens engano-
sas do mercado, numa tentativa de transgredir cienticamente
o mundo da iluso. A losoa Iluminista se ops, ela tambm,
presso da magia que, sob forma de fetiche, havia sobrevivido
s dependncias pessoais e objetivas da burguesia. Pode-se at
questionar o sucesso desta abordagem, que tenta compreender
e teorizar o mercado e o poder, sobretudo depois que a crtica
ideolgica mais sosticada de todas - a teoria marxista, que pos-
tulava a necessidade da aparncia social - se v atropelada pelo
modelo universalista da teoria do reexo e da reproduo, que,
curiosamente, remetem especulao crist. Se no quisermos,
no entanto, dar razo a uma simulao teoricamente intranspo-
nvel como ncleo vazio do real, assim como arma a arqueologia
estruturalista moderna, talvez ento possamos aceitar plenamen-
te a proposta de Walter Benjamin de recorrer aos monumentos,
que nos permitem decifrar at mesmo a existncia profana como
a um enigma. As imagens, que rasgam como um abalo ssmico
constelaes histricas precisas, tm o ncleo temporal de uma
dialtica imvel e permitem liberar-se de um acordo com os
vencedores da Histria.
A imagem assume, de acordo com seu signicado, trs fun-
es: a de presena mgica, a de representao hbil e a de simu-
lao tcnica. Funes que se sobrepem e se intersectam cons-
21
tantemente. Uma substituio do real pelo imaginrio cujos
efeitos so parcialmente ignorados se forma fundamentalmente
na orientao humana.
Os homens no vivem hoje no mundo. Eles no vivem nem
mesmo na lngua. Eles vivem em suas imagens, nas imagens que
fazem do mundo, deles mesmos e dos outros. E eles vivem mais
mal do que bem nesta imanncia imaginria. Nela eles morrem.
E nesse paroxismo de produo de imagens, problemas surgem
enormemente. H interferncias icnicas que tornam ambguas a
vida e a morte no interior das imagens. Estados de mortos-vivos
ou situaes de vida moribunda se multiplicam. Esta indeciso
entre se saber morto ou vivo deve-se s imagens, pelo menos a
partir do momento da simulao pura sem referente. S se pode
responder, ento, provisoriamente exortao de se servir dessas
imagens como se fossem um tipo de tratamento de reanimao
da experincia. Uma oscilao prolongada entre os dois estados
dicilmente suportvel.
Teria chegado ento a hora de sair desta caverna que ns
mesmos construmos e que agora est se fechando novamente.
No fcil. No parece possvel tomar emprestado o caminho
do ascetismo ou de uma nova iconoclastia. Neste Fin de sicle de
proibio proibio, isso parece ser, por si s, proibido. O cami-
nho contrrio seria ento o do xtase hiperblico. Procuraramos
escapar atravs das imagens. Tentaramos encontrar algo alm da
imagem, dentro da prpria imagem. Mas como as imagens so
planas, a procura pela profundidade no fcil, agravada talvez
pelas perturbaes evocadas acima. O exagero da ambiguidade
do homem como living dead conduz a uma image-killing, a uma
fragmentao ofensiva, a uma reproduo e funcionalizao, a
uma anlise, a uma banalizao, a uma canalizao, a um abc que
exige, de fato, muito treino.
A fuga para fora da caverna, fora da imanncia do imagi-
nrio, seja ela agressiva ou reexiva, evoca ainda um outro pro-
blema: o reverso das imagens povoado de monstros. Para cada
fugitivo aparecem aqueles monstros que lhes causam mais medo.
22
Nenhuma denio pode confront-los. E mesmo os discursos
mais sosticados no so capazes de enfrent-los. Os nicos ad-
versrios desses monstros, que so gerados nos sonhos da razo e
que se subordinam ao regime de poder da fantasia, so as guras
de co. Somente a imaginao pode ajudar a lutar contra o
imaginrio. Uma imaginao produtora de personagens, de apa-
ries, de guras que no pertencem ao homem individual e que
trabalham de acordo com o princpio da criao da vida procria-
dora. A percepo dos monstros signica, ao contrrio, a inven-
o de guras que jogam um jogo perptuo no palco da vida. O
roteiro tem um valor cognitivo. No se trata de um campo suple-
mentar do imaginrio, mas de uma oportunidade de aproximar
criticamente as imagens, que de outra forma no seria possvel.
Dois axiomas so necessrios para conseguirmos decifrar o
que a imagem, o que so as imagens. Contra o medo da mor-
te, os homens tm como nica possibilidade a criao de uma
imagem. por isto que as imagens so cheias de esperana de
imortalidade. A esfera de ao do imaginrio sustentada pela
eternidade, e por isto que os homens sofrem sua morte antes
mesmo de morrerem. Para escapar seria preciso relegar as ima-
gens, encontrar um ponto alm da imagem, de onde o retorno
imortalidade no fosse mais possvel. Atingir este ponto no
impossvel. Os dois axiomas so muito simples: enquanto ima-
gem, os homens so imortais; sem imagens, eles poderiam ser
mortais.
Mas as concluses so complicadas, em funo de suas assi-
metrias e implicaes.
A primeira imagem nasceu do medo da morte, ou mais pre-
cisamente, do medo de ter que morrer sem ter vivido, bem antes
da tomada de conscincia. Ela tinha por funo fechar a ferida
da qual o homem surgiu. Mas esta funo irrealizvel. Cada
tapa-memria chama novamente para a memria. por isso
que cada imagem fundamentalmente sexual, mesmo que ela
parea profundamente religiosa. Assim, a imagem pode ser quali-
cada como faz Roland Barthes de morte em pessoa.
23
Por meio do medo, a imagem desempenha um papel essen-
cial na renncia aos desejos humanos. Ela substitui uma indife-
rena experimentada na origem, se colocando no lugar do Mal.
Ela deixa espao para a esperana de que a voz da me ressoe
atravs de todas as ambivalncias. Ela segue a evoluo do sagra-
do ao banal porque o segundo captulo deste domnio do medo
se chama reproduo. A imagem deve se perder dentro das ima-
gens. Isto no funciona. A iluso, dos dois lados, leva a dizer
: aquele que encontra a imagem, se encontra em sua origem.
Mas isto tambm falso. O primeiro um segundo. O corpo
est diante da imagem (e da conscincia); aquele que destri a
imagem, venceu o medo. Mas isto tambm falso. Porque a
prpria imagem e mais ainda, as imagens uma estratgia
do medo. O desejo, que quer a eternidade, penetra na imagem.
Mas a vingana tambm, que rejeita aquilo que no ama no ima-
ginrio, a m de ban-lo da vida. Fazer a imagem de um corpo
humano signica, ento, torn-lo imortal, organiz-lo no grupo
dos mortos-vivos, dos fantasmas, dos espectros. Transformar a
imagem - que se pretende substituta da imortalidade do homem
- em signos e milagres eternos uma pura iluso. Estaria ento o
desejo enganado? No estaria a vingana compreendendo o que
est de fato acontecendo? quase isto.
Por meio das imagens, impossvel se lembrar e se esquecer.
Este limite est sempre em construo. Ou seja, o imaginrio
esta vontade de esquecer que lembra, e esta vontade de lem-
brar que esquece. Pode-se certamente armar que quanto me-
nos imagens h, mais lembranas existem (em benefcio de uma
imagem); e que quanto mais imagens h, menos memria existe.
Mas a diferena entre imagem e imagens refere-se secundari-
dade da eternidade. O corpo mortal domina nalmente. E isto
pode ser experimentado.
A imagem que se coloca no lugar da ferida deve, antes de
mais nada, se transformar, ela prpria, em ferida, a m de que a
sada do imaginrio possa se tornar visvel. o que acontece aps
a proibio de imagens. Existe uma voz, por detrs do espelho,
24
que se encontra atrs das cortinas. essa voz que as religies
iconoclastas tentaram calar. Elas construam uma unidade que
impunha o desvio do corpo e a destruio do dilogo sobre a
mortalidade dos homens. Essa voz ressoa para alm do desejo
(proibido) e da vingana (autorizada).
O mais difcil , sem dvida alguma, a existncia sem ima-
gem. Ter-se-ia a impresso de no existir, de no se estar aqui.
Esta existncia no entraria na encenao da vida atual. A pos-
sibilidade de morrer no nem um programa, nem um projeto.
A existncia sem imagem um fracasso, uma renncia, uma in-
sistncia na incomensurabilidade. Seria uma ancoragem na pa-
lavra - falada ou ouvida -, surgida no limite do insensato; uma
ancoragem na materialidade da voz, e no no que ela diz. O risco
aumenta pelo fato de que as religies que probem a imagem
pactuam, desde o princpio, com o sentido. A mortalidade, no
entanto, oferece uma outra forma de sada do imaginrio, di-
ferente daquela que o medo prope, um tipo de retorno a uma
realidade que nunca existiu.
Polissmica desde seu princpio, a imagem o Bild desig-
na, assim, entre outras coisas, a presena, a representao e a si-
mulao de uma coisa ausente. Alm disso, ao se examinar diver-
sas misturas histricas, acentuadas cada uma delas de diferentes
maneiras, notar-se- que o estado das coisas apresenta bastantes
razes de diferenciao. A presena uma dimenso mgica;
a representao rene os poderes da mimesis, a faculdade de
mostrar as imagens como imagens, o arsenal completo de ces
extremamente criativas; e a simulao evoca iluso incluindo
sobre si prpria. Uma auto-iluso que oresce em contato com
as leis de mercado e de troca. A coeso e as oposies entre a
presena, a representao e a simulao formam o objeto e
o horizonte da reexo, mesmo que o objeto no tenha nada de
objetivo, e o horizonte, nada de muito denido. Poder-se-ia, cer-
tamente, desenvolver uma teoria sobre a decadncia da imagem,
segundo a qual teria havido uma regresso da presena total
presena vazia e morta, simulada ou reetida. Mas existem ain-
25
da argumentos por uma simultaneidade dolorosa e dicilmente
explicvel destes trs elementos surgidos, sem dvida, de um es-
foro de presena simulada. Seria, de toda maneira, fcil demais
falar de pocas histricas unicamente por meio da imagem, sem
prestar ateno inuncia da atual mistura pr-histrica/me-
dieval/moderna/ps-moderna/ps-histrica de produo e de
recepo de imagens sobre nossa percepo. Por detrs do ho-
rizonte e dentro do objeto surge o ameaador horror do vazio,
o horror vacui. A matria, que as imagens representam em suas
diferentes verses, a ausncia, o vazio, uma falta fundamental,
e se ainda quisermos tambm a experincia da perda do
ventre da me, que faz sofrer o homem prematuro por toda sua
vida. Ele nasce e deve morrer. Essa conscientizao necess-
ria para se poder viver a experincia da perda irreversvel, porm
substituvel. As imagens so, sob essa perspectiva, substitutos do
que falta, do que est ausente, sem, no entanto, jamais atingir
a dignidade daquilo que substituem. , porm, justamente essa
insucincia que constitui a razo de ser de todas essas variantes
e reexes. Dado que as imagens no podem se confundir com
seus objetos, existe hoje um movimento histrico no sentido de
estabelecer uma organizao experimental, da qual faz parte a
pesquisa sobre razes justicveis. O pensamento nasce da mes-
ma fonte que produz as imagens e apresenta, portanto, grandes
semelhanas com estas ltimas. A expresso fundamental fora
visionria no cobre, de forma alguma, todas as diferenas que a
histria inventou. Trata-se, antes de mais nada, de trs variantes
das quais participam a fantasia, a imaginao e a fora visionria:
Uma presena de esprito no sentido de uma percepo
radical, que no tem nada a ver com a verdade, mas mui-
to com o awareness
5
, a sensao de traos de uma vida
corporal, atenta ao perigo e venerao;
5 Qualidade ou estado de ser cnscio, ciente, atento, advertido.
26
Uma lembrana, que no signica um retorno a um es-
tado perfeito, mas a capacidade de colocar uma coisa no
lugar de outra, enquanto co, enquanto inveno que
deixa as imagens aparecerem como imagens;
Uma iluso, estratgias ldicas que entram em acordo
para colocar novamente em jogo a verdade, que se pres-
tam ao ilusionismo, que colocam em cena os simula-
cros e aceitam as simulaes superpostas.
A presena, a representao e a simulao de uma ausncia
apresentam diferentes resultados, que agem dentro de uma rede
de interdependncias mltiplas. O mecanismo, hoje bem conhe-
cido, de recriao exata da imagem autntica em uma cpia, ou
ainda, a associao de simulao e presena, que contradiz o jul-
gamento diferenciado do poder de representao, so duas das
numerosas possibilidades de processos a serem levados em consi-
derao. por esta razo que se faz necessrio tomar como tema
a juno curiosamente cruzada entre visvel e invisvel. A imagem
tem uma estrutura fundamental de quiasmo.
O quiasmo signicando aqui na continuidade de certas
reexes de Merleau-Ponty o cruzamento de tendncias fun-
damentais que captamos na separao da imagem e do corpo.
preciso deslocar a ateno, que centramos hoje na imagem, na
moldura (borda exterior) e no suporte (fundo) para a forma cru-
ciforme que estrutura a imagem a partir de seu interior. assim
que podemos pensar, sem dvida, na Histria antes, durante, e
aps os tempos modernos, o tempo da imagem mundana, se-
gundo Heidegger, de maneira completa.
A tenso viva entre estes dois polos cruzados de quiasmos, e
que no apenas histrica, vai desde a imagem interna es-
pcie de ilha da memria que recorda uma lembrana original
mtica no passado (tradio da anamnsis e de altheia) at a
imagem externa pura repetio (que no est relacionada a
nada), que produz um tipo de esquecimento do esquecimento,
uma tabula rasa. Mas difcil pensar que a dimenso desses
27
tempos sempre vlida, no apenas na diacronia, mas tambm
na sincronia.
O espao e o tempo so, efetivamente, na Europa, concebi-
dos em cruz como templum e tempus: o espao, com suas cruzes
de coordenadas (como os que podem ser encontrados em certos
rituais de fundao de cidades); e o tempo, com sua cruz erigida
sobre o monte Glgota (cf. a profecia de um signo que indica
vitria). Essas duas cruzes vm luz novamente como vestgios
de um mundo habitado e do corpo do homem desenhado. Elas
se mostram atravs das imagens, parecendo at que so um nico
e mesmo signo. Poderiam elas, agora que so visveis, serem retra-
balhadas, modicadas, a m de que se ndem os entraves secu-
lares, e que os homens possam, enm, adotar o comportamento
sereno que convm aos temas do imaginrio.
2. Imagem e fantasia
6
Christoph Wulf
7
SOBRE A ANTROPOLOGIA HISTRICA DA IMAGEM
Embora educao tenha sido sempre um conceito central
da Pedagogia e o conceito remeta imediatamente ao signicado
da imagem para os processos de educao e formao, a imagem
por muito tempo no foi levada em considerao na Pedagogia.
6 Traduo: Tereza Maria Souza de Castro, Reviso: Paulo Oliveira.
7 Professor de Antropologia Histrica e Cincia Educacional, membro do
Centro de Excelncia em Representatividade das Culturas e membro do
departamento de doutorado da Universidade Livre de Berlim, Alemanha.
Publicaes recentes: (com Gebauer, G.) Mimesis. Culture, Art, Society
(1995); Education in Europe. An Intercultural Task (1995); Violence.
Nationalism, Racism, Xenophobia (1996); Vom Menschen. Handbu-
ch Historische Anthropologie (1997); Education for the 21th Century.
Commonalities and Diversities (1998); (with Gebauer, G.); Spiel, Ritu-
al, Geste (1998). Editor chefe do Paragrana, revista transdisciplinar de
antropologia histrica. Texto apresentado no Seminrio Internacional Ima-
gem e Violncia, promovido pelo Cisc Centro Interdisciplinar de Semitica
da Cultura e da Mdia, no Sesc Vila Mariana, em So Paulo, durante os dias
29, 30, 31 de maro e 1 de abril de 2000.
30
Com o iconic turn, a situao no campo de nossa disciplina se
transformou. A imagem se tornou interessante e questionvel.
O que uma imagem? uma das perguntas mais fascinantes
nas cincias culturais. Em consequncia desse processo, a ima-
gem se tornou, h algum tempo, um tema para a Pedagogia. Uma
questo de interesse central est na imagem como fonte de pes-
quisa pedaggica. Que informaes as imagens contm sobre a
infncia, o relacionamento entre geraes, a escola ou a organi-
zao dos processos de aprendizagem? Pouca ateno foi dada at
agora pergunta sobre a inter-relao entre a viso, o surgimento
de imagens e a formao de imagens interiores. Muito menos
consideradas ainda foram as relaes entre as imagens logenti-
cas e as ontogenticas, entre as imagens coletivas e as individuais,
entre sequncias de imagens e estruturas de imagens. Essa ques-
to conduz relao entre viso, imagem e fantasia, corpo, cul-
tura e Histria. Como se relaciona o mundo de imagens interior,
individual, o imaginrio individual, com o mundo de imagens
da cultura, do imaginrio coletivo? Tais questes remetem aos
fundamentos histricoculturais, pedaggico-antropolgicos da
educao e da cultura, e inauguram um campo de pesquisa ainda
novo para a cincia da educao.
FANTASIA IMAGINAO FACULDADE IMAGINATIVA
A fantasia uma das capacidades humanas mais enigmticas.
Perpassa o mundo da vida e se manifesta das mais variadas for-
mas. Torna-se manifesta apenas em suas concretizaes. Ela mes-
ma escapa a uma denio inequvoca. Fantasia abrange a capa-
cidade de perceber imagens, mesmo quando a coisa representada
no est presente. Caracteriza a capacidade de ver interiormente.
A mais antiga meno denitria se encontra na Politeia de Pla-
to. No dcimo livro do Estado a mimese do pintor denida
como imitao de algo que aparece, como aparece. Em Arist-
teles l-se: A fantasia um colocar diante dos olhos (pro homaton
gar esti ti poiesasthai), como procede o artista da mnemnica, que
31
escolhe certas imagens, e aquilo que, como se diz, faz surgir
em ns uma apario (phantasma). Na Antiguidade romana,
imaginatio substitui a phantasia. Imaginatio caracteriza a fora
ativa de assimilar imagens, criar imagens. Paracelso traduziu essa
palavra para o alemo como Einbildungskraft (capacidade imagi-
nativa). Fantasia, imaginao e capacidade imaginativa so trs
denies da capacidade humana de assimilar imagens de fora
para dentro, portanto de
transformar o mundo exterior em mundo interior, assim
como a capacidade de criar, manter e transformar mundos ima-
gticos interiores, de origem e signicado variados.
A fantasia tem uma estrutura de quiasma, na qual interior e
exterior se cruzam. Tanto Maurice Merleau-Ponty como Jacques
Lacan chamaram a ateno para essa estrutura to importante
para a percepo e para a produo de imagens. insucien-
te uma ideia de ver, que parta do pressuposto de que objetos
idnticos a si mesmos estariam defronte do sujeito (que v) pri-
meiramente vazio. Muito mais dado, no ver, algo do que s
podemos nos aproximar ao explorarmos com a viso, coisas que
nunca conseguiramos ver totalmente nuas, porque o prprio
olhar as envolve e as cobre com sua carne... O olhar envolve as
coisas visveis, as explora e se une a elas. Assim como se houvesse
entre elas e ele uma relao de harmonia preestabelecida, assim
como ele delas soubesse ainda antes que as conhecesse, ele se mo-
vimenta de sua maneira, em seu estilo apressado e autoritrio,
e contudo as vises obtidas no so arbitrrias, no observo o
caos, mas coisas, de forma que nalmente no se pode dizer se
o olhar ou as coisas que prevalece. Tal cruzamento entre os
sentidos e o exterior percebidos por eles se realiza no apenas na
viso, mas tambm no tato, na audio e a princpio tambm no
olfato e na gustao.
Portanto, a viso humana tem pressupostos. Por um lado, ve-
mos o mundo antropomorcamente, isto , sob a base dos pres-
supostos siolgicos de nosso corpo. Por outro lado, fazem parte
de nossa viso pressupostos histricos, antropolgicos, culturais.
32
Isto , por exemplo: aps a inveno e a difuso da escrita, a viso
se modica com relao viso na cultura oral. De forma seme-
lhantemente radical, ela se transforma atravs dos novos meios
e da rapidez a eles inerente. Como mostraram as pesquisas da
psicologia da Gestalt, a fantasia importante j na simples per-
cepo, por exemplo na complementao da percepo. Isso vale
tambm para o contexto de referncia cultural, o qual concede s
coisas vistas seu signicado e seu sentido. Cada ver possibilita-
do e limitado histrica e culturalmente ao mesmo tempo. Dessa
forma mutvel, contingente e aberto ao futuro.
Para Lacan, o ver est arraigado no imaginrio. Lacan rela-
ciona o ver a um estado pr-lingustico corporal, no qual o indi-
vduo ainda no est consciente de seus limites, de sua falta. Pos-
teriormente, o imaginrio passa a ter sua origem na identicao
da criana pequena, de modo to intenso que a criana ainda no
percebe a me como diferente de si. A fascinao da criana
pequena consiste em ser impressionada pela unidade corporal da
me. Como em um espelho, na totalidade corporal dela viven-
ciada a prpria incolumidade e poder. Mas, ao mesmo tempo, a
experincia da totalidade da me leva ameaa da prpria com-
pletude e vivncia da imperfeio e da dependncia do outro.
Na experincia da prpria imperfeio e limitao est tambm a
origem do sujeito sexual. Para Lacan, o imaginrio com seu mun-
do imagtico uma preparao para o simblico com seu mundo
lingustico. Cornelius Castoriadis assume essa posio e dene a
relao entre os dois mundos da seguinte forma: O imaginrio
deve usar o simblico, no apenas para se expressar, isso bvio,
mas para existir, para se tornar algo que no seja mais apenas
virtual. A loucura elaborada , exatamente como a fantasia mais
secreta e mais nebulosa, feita de imagens, mas essas imagens re-
presentam uma outra coisa, portanto tm funo simblica. Mas
tambm, por outro lado, o simbolismo pressupe a capacidade
imaginativa (capacit imaginaire), pois baseia-se na capacidade de
ver em uma coisa uma outra, ou: ver uma coisa diferente do que
. Na medida porm em que o imaginrio tem sua origem em
33
uma capacidade original de se ter presente, com ajuda da ima-
ginao, uma coisa ou uma relao que no esto presentes (que
no so ou nunca foram dados pela percepo), falaremos de um
imaginrio ltimo ou radical, como raiz comum do imaginrio
atual ou do simblico. Trata-se da capacidade elementar e irre-
gressvel de evocar uma imagem.
Tambm a tentativa de situar a fantasia feita por Arnold Geh-
len aponta, apesar de diferenas considerveis na argumentao,
em uma direo semelhante. Assim ele escreve: Com base no
impulso do sonho ou dos tempos de vida vegetativa condensa-
da na infncia ou no contato dos sexos, justamente onde se
mostram as foras da vida por vir a ser, certamente existem, sob
imagens muito variveis, certas fantasias primordiais de um pr-
esboo da vida, que se sente na tendncia de um aumento de
altura da forma, de intensidade da corrente: estas porm como
sinais de uma identidade vital direta, isto , de um direcionamen-
to a uma qualidade ou quantidade superior inerente substantia
vegetans, sendo que mesmo o direito a essa distino permanece
questionvel. Gehlen interpreta fantasia como projeo de ex-
cessos de estmulo. Porm a fantasia talvez se antenceda aos ex-
cessos de estmulo, para que o impulso vital possa esboar nela,
para si, imagens de sua satisfao. De qualquer forma, na viso
de Gehlen, a fantasia est ligada ao status do ser humano como
ser carente, ao seu aparato instintivo residual e ao hiato entre
estmulo e reao. Destarte, a fantasia est relacionada com ne-
cessidades, instintos e desejos de satisfao. Porm a atividade da
fantasia no se esgota nisso. A plasticidade humana e a abertura
para o mundo remetem necessidade de sua congurao cultu-
ral. A fantasia desempenha aqui um papel to central que o ser
humano seria mais corretamente designado como ser da fantasia
do que como ser da razo.
Apesar de todas as diferenas no ponto de partida e na argu-
mentao, as posies de Gehlen e Castoriadis so idnticas em
sua maneira de compreender o imaginrio como uma fora cole-
tiva, que gera sociedade, cultura e individualidade. Referindo-se
34
aos trabalhos tardios de Merleau-Ponty sobre o quiasma do corpo
humano e sua percepo, Lacan mostrou que o imaginrio atua
at nas percepes sensoriais do cotidiano do sujeito social.
MAGIA, REPRESENTAO, SIMULAO
Imagens so ambguas. A suposio de que surgiriam do
medo da morte, ou do medo de ter que morrer, muito antes do
desenvolvimento da conscincia, no despropositada. Dietmar
Kamper supe: a imagem tem a nalidade de cobrir a ferida da
qual os homens se originam. Porm essa nalidade inconver-
svel. Toda falsa lembrana recorda tambm. Por isso, toda a
imagem a princpio sexual, mesmo quando profundamente
religiosa pelo seu movimento. Por isso a imagem pode ser in-
titulada (como o faz Roland Barthes) como morte da pessoa.
Atravs do medo, a imagem desempenha o papel principal na
distrao do desejo humano. Ela substitui a experiente indife-
rena da origem. Est no lugar do primeiro mal. Primeiramente
sustenta a esperana de que a voz da me vibre atravs de todas as
ambivalncias. Transforma-se tambm do sagrado para o banal.
Pois o segundo captulo na superao do medo chama-se repro-
duo. A imagem deve se perder nas imagens. Isso no possvel.
Em um questionamento cientco cultural distinguem-se
trs tipos de imagens:
a imagem como presena mgica;
a imagem como representao mimtica;
a imagem como simulao tcnica.
Entre esses tipos de imagens h diversas superposies. Contu-
do, uma tal diferenciao apresenta-se como conveniente; ela permi-
te a identicao de caractersticas icnicas distintas e parcialmente
contraditrias. Das imagens que surgiram em um tempo no qual as
imagens ainda no haviam se tornado obras de arte, fazem parte ima-
gens mgicas, imagens de culto, imagens sacras. Hans Belting dedicou-
35
lhes ateno em sua Histria da imagem antes da era da arte. Ele
ocupou-se porm apenas com a imagem de culto desde o nal da
Antiguidade, cujo objetivo sempre foi a representao. Imagens que
conferem presena mgica a deuses so denominadas imagens de
deuses ou de dolos. Elas podem ser encontradas, por exemplo, em
culturas arcaicas. Antigas representaes de deusas da fertilidade em
barro ou pedra so algumas delas. Gilbert Durand esboou em seu
famoso livro As estruturas antropolgicas do imaginrio um cosmo
imagtico cujas imagens pertencem, em grande parte, ao mundo das
imagens mgicas. feita uma distino entre as imagens da ordem
do dia e da ordem da noite, das quais trata nas respectivas partes
de seu livro. A terceira parte dedicada nalmente a imagens fan-
tsticas transcendentais. O estudo de Durand tenta representar e es-
truturar grandes partes do imaginrio imagtico coletivo. Parte-se do
princpio de que as transies de imagens da presena para imagens
da representao so uidas. Na mesma direo aponta o estudo de
Philippe Seringe sobre smbolos na arte, na religio e no cotidiano.
Aqui a fronteira da imagem como representao denitivamente
ultrapassada. Imagens correspondentes a animais e seus respectivos
signicados so aqui apresentadas e descritas de modo breve. Do
imaginrio fazem parte imagens de animais do campo (touro, boi,
vaca; cavalo, burro; bode, carneiro, cabra monts; gato, co, cabra,
porco; coelho, lebre, elefante, camelo). Ele abrange ainda pssaros e
peixes, incorporando tambm o vegetal (a rvore da vida, palmei-
ras, cedros, carvalhos; ores, rosas, lrios, ltus; cereais; frutas, etc.).
Ele refere-se ao cosmo e aos elementos (fogo e luz; fumaa, nuvens,
vapor; gua; terra; pedras, cavernas e grutas; sol; lua, etc.). Do ima-
ginrio fazem parte imagens de construes (palcios, casas, jardins;
portes, esculturas), assim como imagens de coisas abstratas (nomes,
nmeros, espirais, labirintos). Cada vez mais se torna visvel o car-
ter intermedirio das imagens. Elas ilustram o mundo, e com isso
situam o homem. Pois nada mais ameaador do que um mundo
sem imagens, do que a escurido ou a luz brilhante, posto que ambas
destroem as imagens.
36
Na obra de Plato, as imagens tornam-se representaes de algo
que no so. Representam algo, expressam algo, remetem a algo. Se-
gundo Plato, os pintores e os poetas no produzem as ideias, como
Deus, ou os objetos de uso como artesos. Geram antes manifestaes
das coisas, sendo que pintura e literatura no esto restritas represen-
tao artstica das coisas, mas representao artstica dos fenmenos,
como eles aparecem. O objetivo, portanto, no a representao das
ideias ou da verdade, mas a representao artstica de fantasmas, de
fenmenos tais como aparecem. Por isso, a pintura e a poesia mimti-
ca podem a princpio fazer aparecer o visvel. Trata-se aqui, portanto,
da mimese geradora de imagens e iluses, na qual a diferena entre
modelo e cpia no importante. O objetivo no a semelhana,
mas a aparncia do que surge. Em Plato, a arte e a esttica so cons-
titudas como campo prprio, no qual o artista ou o poeta o mestre.
Segundo Plato, tal mestre no tem a capacidade de produzir o que
existe e no se submete reivindicao de verdade que se coloca para
a Filosoa e a base da Politeia. Com isso, o campo esttico ganha
uma certa independncia em relao aos interesses da Filosoa, no
tocante sua busca pela verdade e pelo conhecimento, ao seu esforo
em encontrar Belo e Bom. A consequncia sua excluso da Politeia,
que no quer aceitar o valor no calculvel de arte e literatura.
Portanto, o processo de criao artstica objetiva a congurao
de uma imagem que est diante dos olhos interiores do pintor ou po-
eta. O esboo da criao se dissolve mais e mais na imagem, que surge
em um meio diferente do esboo imaginado. Aqui ocorrem mudan-
as, omisses, complementaes e coisas do gnero, de modo que s
existe uma semelhana limitada. Geralmente, os modelos aos quais
se referem as imagens e esboos dos artistas so desconhecidos, j que
nunca existiram ou no foram conservados. No centro do processo
artstico est a imagem, que contm referncias a modelos e surge de
um processo de transformao e inovao.
Como a relao de modelo e cpia? Esta criada por aquele?
Ou como se pode entender tal relao? J na Antiguidade colocava-se
a questo sobre a famosa representao de Zeus feita por Fdias, se
e quando e onde teria havido um modelo. Porm, como no pode
37
ter havido um modelo para essa representao, essa imagem de Zeus
nova. Surgiu no prprio processo artstico, durante o trabalho no
material. Quem v a esttua reconhece a imagem, embora no se co-
nhea o modelo Zeus, que antes dessa representao tambm no
existia. Zuckerkandl culmina suas reexes na armao de que a
obra de arte seria uma imagem procura de um modelo, o qual
criado para achar um modelo no esprito humano e assim cumprir
seu destino de se tornar imagem. Essa imagem no inequvoca;
no resposta, mas antes uma pergunta colocada pela obra de arte
e que seu observador pode responder de diversos modos. Atravs da
estrutura da obra de arte so produzidas imagens, contextos e inter-
pretaes que s ento constituem a complexidade da obra de arte.
Com isso desloca-se a relao mimtica. A obra de arte no pode mais
ser compreendida como imitao de um modelo. A imitao, ou seja,
uma relao da representao, ocorre muito antes entre a obra de arte
e seu observador.
O terceiro tipo de imagem denido por simulao tcnica e
um novo tipo de imagem. Nos dias de hoje, tudo tende a se tornar
imagem: at corpos opacos so transformados, perdem sua opacidade
e espao e se tornam transparentes e fugidios. Processos de abstrao
desembocam em imagens e sinais imagticos. Por toda a parte se os
encontram: nada mais to estranho e avassalador. Imagens fazem
desaparecer coisas, realidades.
Alm de textos, pela primeira vez na Histria da humanidade
tambm imagens so armazenadas e transmitidas para outras gera-
es, em um volume inimaginvel. Fotos, lmes, vdeos tornam-se
ajudas mnemnicas; surgem memrias imagticas. Se textos at ago-
ra precisavam da complementao de imagens imaginadas, a ima-
ginao hoje limitada pela produo de textos imagticos e sua
transmisso. Cada vez menos pessoas so produtoras, cada vez mais
pessoas se tornam consumidoras de imagens pr-fabricadas que prati-
camente no desaam a fantasia.
Imagens so uma forma especca de abstrao; sua bidimensio-
nalidade destri o espao. O carter eletrnico de imagens televisivas
possibilita ubiquidade e acelerao. Tais imagens podem ser divulga-
38
das com a velocidade da luz quase simultaneamente em todas as par-
tes do mundo. Elas tornam o mundo uma miniatura e possibilitam
a experincia especca do mundo como imagem. Representam uma
nova forma da mercadoria e esto submetidas aos princpios econ-
micos do mercado. Elas mesmas so ento produzidas e negociadas,
quando os objetos a que se referem no se tornaram mercadorias.
Imagens so misturadas; so trocadas por outras, so remetidas
mimeticamente a outras; nelas so tomadas partes de imagens e com-
postas de outra maneira; so produzidas imagens fractais que formam
novas unidades a cada vez. Movimentam-se, remetem umas s outras.
Sua acelerao as equipara: mimese da velocidade. Imagens diversas
tornam-se semelhantes devido a sua pura bidimensionalidade, a seu
carter eletrnico e miniaturizante, apesar das diferenas de conte-
do. Participam de uma reformulao profunda dos mundos imagti-
cos atuais. Tem lugar uma promiscuidade das imagens.
Imagens arrebatam o observador e o mergulham em uma tor-
rente na qual ele pode se afogar. Turbilhes de imagens tornam-se
uma ameaa; torna-se impossvel delas escapar; elas fascinam e ate-
morizam. Dissolvem as coisas e as transportam a um mundo da apa-
rncia. Ocorre uma ligao indeterminvel de poder e aio.
O mundo, a poltica e o social so estetizados. Em seu processo
mimtico, as imagens procuram modelos para se equiparar a eles;
so transformadas em novas imagens fractais sem contexto refe-
rencial. Fascinam. Comea um jogo alucinante com simulacros e
simulaes: innita diferenciao das imagens e imploso de suas
diferenas, semelhana ilimitada. Elas mesmas so a mensagem
(McLuhan), o mundo da aparncia com fascinao e encanta-
mento.
Imagens se propagam com a velocidade da luz; contagiam como
vrus. Em processos mimticos, levam produo de imagens sempre
novas. Surge um mundo da aparncia e da fascinao que se despren-
de da realidade. Como o mundo da arte e a literatura, o mundo
da aparncia, ao lado do mundo da poltica, no ocupa mais o seu
espao restrito; tem muito antes a tendncia a roubar o contedo de
realidade de outros mundos e torn-los tambm mundos da apa-
39
rncia. O resultado a estetizao dos mbitos da vida. So produ-
zidas mais e mais imagens que tm como referncia s a si mesmas,
s quais no corresponde nenhuma realidade. Como consequncia
ltima, tudo se torna um jogo de imagens no qual tudo possvel, de
modo que tambm questes ticas adquirem signicado secundrio.
A tendncia sociedade cultural mostra aqui seu carter ambiva-
lente. Se tudo se torna um jogo de imagens, o carter de aleatorie-
dade e no-obrigatoriedade inevitvel. Numa relao mimtica, os
mundos imagticos assim produzidos agem sobre a vida e levam
sua estetizao. A diferenciao entre vida e arte, fantasia e realidade
torna-se impossvel. Os dois mbitos se equiparam. A vida passa a ser
modelo do mundo da aparncia, e este o modelo da vida. O visual se
desenvolve hipertrocamente. Tudo se torna transparente; o espao
degenera para uma superfcie imagtica; o tempo condensado como
se houvesse apenas a presena das imagens aceleradas. As imagens
atraem o desejo, armazenam-no, eliminam os limites das diferenas
e as diminuem. Ao mesmo tempo, essas imagens escapam ao desejo;
com presena simultnea, remetem ao ausente. As coisas e as pessoas
exigem um excesso transposto em imagens. O desejo atira no vazio
dos sinais imagticos eletrnicos.
Imagens tornam-se simulacros. Referem-se a algo, equiparam-se
e so produtos de comportamento mimtico. Assim, por exemplo,
debates polticos muitas vezes so encenados apenas para a apresenta-
o na televiso. O que acontece em termos de controvrsia poltica j
est orientado para sua apresentao. As imagens televisivas tornam-se
meio de debate poltico; a estetizao da poltica inevitvel. O pbli-
co v a simulao de uma controvrsia poltica em cujo decorrer tudo
encenado de forma a fazer com que ele acredite que o debate pol-
tico autntico. Na verdade, porm, a autenticidade da apresentao
simulao. Joga-se com as convices e expectativas do pblico, de
modo que ele toma a simulao por autntica. Desde o incio, tudo
objetiva sua prpria assimilao pelo mundo da aparncia. Na medi-
da em que isso der certo, a controvrsia ter sido bem sucedida. Os
efeitos polticos desejados surgem nas telas de televiso apenas como
40
simulao da poltica. A simulao mostra frequentemente maiores
efeitos do que os debates polticos reais.
Simulacros encontram-se procura de modelos, pretensas ima-
gens prvias criadas s a posteriori atravs deles mesmos. Simulaes
tornam-se sinais imagticos que retroagem sobre o carter das con-
trovrsias polticas. Torna-se impossvel denir limites entre verdades
e simulacros; a suspenso dos limites levou a novas penetraes e
superposies. Processos mimticos fazem circular modelos, cpias.
O objetivo das imagens no mais se igualar a modelos, mas a si
mesmas. Algo semelhante ocorre em relao s pessoas. O objetivo
a extraordinria semelhana dos indivduos consigo mesmos, possvel
apenas como resultado de mimese produtiva e tendo como pano de
fundo diferenciaes abrangentes no mesmo sujeito. A mimese passa
a ser a fora determinante das imagens, de sua reproduo fractal no
mundo da aparncia.
O MUNDO IMAGTICO INTERIOR
O mundo imagtico interior de um sujeito social condicio-
nado, por um lado, pelo imaginrio coletivo de sua cultura, e por
outro, pela singularidade e inconfundibilidade das imagens origin-
rias de sua histria pessoal, e nalmente pela recproca superposio
e penetrao de ambos os mundos imagticos. A pesquisa biogrca
pedaggica ganhou nos ltimos anos importantes conhecimentos so-
bre o papel e a funo desses mundos imagticos interiores. A seguir,
gostaria de distinguir seis tipos de imagens interiores, imagens como
reguladoras de comportamento, imagens de orientao, imagens de
desejo, imagens de vontade, imagens de memria, imagens mimti-
cas, imagens arquetpicas.
IMAGENS COMO REGULADORAS DO COMPORTAMENTO
Surge aqui a questo: se e quando, e em que medida o ser huma-
no est dotado de estruturas comportamentais herdadas. incontes-
tvel que o hiato entre estmulo e reao caracterstico do ser huma-
41
no; mas esse fato no signica que o comportamento humano seja
inuenciado por imagens interiores e modelos de comportamento
herdados. Nos ltimos anos, a etologia chegou a importantes conhe-
cimentos sobre a eccia de imagens desencadeadoras em relao
com formas de comportamento humano elementares no comer, be-
ber, na reproduo e na criao da nova gerao.
IMAGENS ORIENTADORAS
Socializao e educao transmitem milhares de imagens orien-
tadoras, que possibilitam ao jovem se localizar em seu mundo e con-
duzir sua vida. Muitas dessas imagens so de faclima compreenso e
reproduo, e por isso muito ecazes do ponto de vista social. Essas
imagens so pblicas; so compartilhadas por muitas pessoas; elas
ligam (as pessoas) em rede; criam-se, atravs da participao em
tais redes de imagens, a comunidade, a liao, a coletividade. Sob
a inuncia da globalizao, essas redes de imagens ultrapassam as
fronteiras das culturas nacionais e criam novas formas de conscincia
transnacionais.
IMAGENS DE DESEJO
Do ponto de vista estrutural, as imagens de desejo (plenas de
instintos) e os fantasmas de desejos se assemelham apesar de mui-
tas vezes divergirem em suas expresses concretas. Para a realizao
de aes e sonhos humanos, tais imagens so de considervel impor-
tncia. Frequentemente, elas tm como objetivo satisfazer desejos, ao
mesmo tempo em que contm o conhecimento da impossibilidade
de realizar desejos.
FANTASMAS DE VONTADE
Enquanto fantasmas de desejo esto direcionados para ter e des-
frutar, os fantasmas da vontade so projees de energia de ao. No
desejo dirigido pela vontade manifesta-se o excedente de estmulo hu-
42
mano. A origem do trabalho e da cultura humanos est na capacidade
de desejo dirigido pela vontade.
IMAGENS DE MEMRIA
Imagens de memria so determinantes para o carter especco
de uma pessoa. So disponveis e congurveis parcialmente; em par-
te subtraem-se disponibilidade para a conscincia. Muitas surgem
da percepo, outras se originam de situaes imaginrias. Imagens
de memria sobrepem-se a novas percepes e as conguram. So o
resultado de uma seleo, na qual so importantes a represso e esque-
cimento, motivado conscientemente no sentido de perdo. Imagens
de memria constituem a histria de uma pessoa. So relacionadas
a espaos e tempos de sua vida. Imagens de memria referem-se ao
sofrimento e alegria; esto ligadas ao fracasso e ao sucesso. Voltam
memria e possibilitam a simultaneidade do que j passou e consti-
tuem uma ajuda contra a inexorabilidade do tempo.
IMAGENS MIMTICAS
Plato j chamou a ateno para o fato de que as imagens, en-
quanto modelos, desaam nossa capacidade mimtica. No caso dos
modelos, pode tratar-se de pessoas vivas, mas tambm de formaes
imaginrias. Segundo Plato, a presso para imitar to forte que (so-
bretudo na infncia e adolescncia) no se lhe pode resistir. Por isso,
a posio de Plato a seguinte: aproveitamento consciente de todas
as imagens dignas de imitao para a educao, e excluso de todas as
imagens que comprometem a educao. Diversamente de Aristteles,
para quem se trata de capacitar o ser humano, atravs do confronto
controlado com o indesejado, de modo a se lhe poder opor resistn-
cia. Nas questes do efeito da violncia nos novos meios, ambas as
posies reaparecem.
43
IMAGENS ARQUETPICAS
C.G. Jung determina seu signicado para a vida individual da se-
guinte forma: Todas as grandes experincias da vida, todas as maio-
res tenses tocam por isso o tesouro dessas imagens e levam-nas a
uma apario interior, a qual se torna consciente quando existe tanta
autorreexo e capacidade de assimilao que o indivduo tambm
pensa sobre o que vivencia e no apenas faz, isto , sem saber,
vive o mito e o smbolo concretamente. No preciso aceitar as
explicaes um tanto dbias sobre o surgimento do inconscien-
te coletivo e dos arqutipos para reconhecer que cada cultura
desenvolveu grandes imagens ideais e de destino que inuenciam
a ao humana, nos sonhos e nas produes culturais.
CONCLUSES
A variedade do mundo imagtico interior expresso da plasti-
cidade humana. uma consequncia da fantasia, que rodeia todas as
formas de vida humana, seja no tocante percepo ou sensao, seja
no tocante ao pensamento ou ao. Tambm a excentricidade hu-
mana deve fantasia; a capacidade de se transportar para uma posi-
o fora de si mesmo, e a partir dali estabelecer um comportamento
face a si mesmo. Muitas vezes, essa ligao consigo mesmo tambm
uma ligao que se expressa na relao de imagens com imagens. Nas
imagens se manifesta a capacidade imaginativa, e em suas guraes
a diversidade cultural. Tal capacidade imaginativa tornou-se visvel
nos diversos tipos de imagens. Magia, representao e simulao
manifestam-se em imagens, transformam seu carter e a qualidade
da fantasia que nelas se articula. Educao, formao signica tra-
balhar as imagens pela via da reexo. O trabalho reexivo com as
imagens no signica uma reduo da imagem ao seu signicado,
mas sim dobrar, virar, girar a imagem. Demorar-se na imagem e
perceb-la como tal, conscientizar-se de suas guraes e qualidades
de sensaes, e deix-las atuar. Proteger a imagem de interpretaes
rpidas, atravs das quais transformada em linguagem e signicado,
44
sendo porm liquidada como imagem. Suportar a insegurana, a
ambiguidade, a complexidade, sem produzir obviedade. Meditao
da imagem: reproduo imaginria de algo ausente, produo mi-
mtica e transformao no uxo imagtico interior. A educao exige
trabalho com as imagens interiores; isso leva tentativa de no ape-
nas faz-las falar, como tambm de desenvolv-las em seu contedo
imagtico. O trabalho com as imagens leva a uma exposio sua
ambivalncia. Para isso necessrio concentrar-se em uma imagem,
dar-lhe ateno. Trata-se de, com a ajuda da fantasia, gerar a imagem
na viso interior e proteg-la contra outras imagens trazidas pelo u-
xo imagtico interior; trata-se de, com a ajuda da concentrao e da
capacidade de pensar, procurar xar a imagem. O surgimento de
uma imagem o primeiro passo; x-la, trabalhar nela, desenvolv-la
na fantasia, so os passos seguintes de um trabalho consciente com
imagens. A reproduo ou a gerao de uma imagem na fantasia,
o demorar-se com ateno em uma imagem, no um trabalho
menor do que a sua interpretao. Em processos educativos, a
tarefa o cruzamento desses dois aspectos da anlise das imagens.
3. Imaginrio, literatura e mdia
Gustavo de Castro
8
Todas as formas miditicas so espaos de produo e recep-
o imaginativa. Esses espaos so tambm esferas reexivas que,
quando associadas ao devaneio e ao sonho, ampliam sobretudo a
expresso de uma potica que une imagem e ideia.
As mdias so igualmente campos que podem aprofundar as
criaes da imaginao, e essas criaes, quando em confronto
com as coisas do mundo, sedimentam um espao no qual conver-
ge poesia (mito) e losoa (pensamento). Acerca da imaginao,
partiremos da noo de Lapoujade
9
:
A imaginao uma funo psquica complexa, dinmica, estru-
tural; cujo trabalho (consistente) produz em sentido amplo
imagens, pode realizar-se provocada por motivaes de diversas or-
8 Professor de Esttica na Faculdade de Comunicao da Universidade de
Braslia. Autor de talo Calvino pequena cosmoviso do homem, Bras-
lia, Ed. UnB, 2007. gustavodecastro@unb.br
9 Lapoujade, Maria Noel. Filosoa da Imaginacin. Ciudad de Mxico: Si-
glo XXI Editores, 1988. p.21
46
dens: perceptiva, mnmico, racional, instintivo, pulsional, afetivo,
etc.; consciente ou inconsciente; subjetivo ou objetivo (entendido
aqui como motivaes de ordem externa ao sujeito, sejam naturais
ou sociais). A atividade imaginria pode ser voluntria ou invo-
luntria, casual ou metdica, normal ou patolgica, individual ou
social. A historicidade lhe inerente, enquanto uma estrutura
processual pertinente a um indivduo. A imaginao pode operar
volcada voltada para ou subordinada a processos eminentemente
criativos, pulsionais, intelectuais, etc.; ou em certas ocasies ela a
dominante e, por isso, guia os outros processos psquicos que nestes
momentos se convertem em subalternos.
Imaginao e mdia so convergentes na medida em que
um depositrio e catalisador do outro, atuando em relaes de
simbiose e parasitismo. Um campo rega, alimenta, consome, re-
gurgita o outro com seu universo particular. Ambos possuem
o aspecto criativo prprio das narrativas, depositrio de beleza
e feira ordenada e desordenada; ordem e desordem fractal. O
imaginrio e a mdia so duas grandes feiras de Caruaru: se voc
no encontra o que procura porque no procurou direito. Ou
dito de forma mais sosticada, consideramos que so duas das
principais inteligncias do contemporneo.
O imaginrio e a mdia contm a multiplicidade que as con-
tm. Ambos tomam forma reunindo em si um grande nmero
de variveis. Podemos dizer que ambos evocam aquilo que talo
Calvino acreditou como sendo o seu principal ensinamento arts-
tico: um modo de leitura do mundo, cosmoviso que ele chamou
no livro de ensaios Una Pietra Sopra, de atitude de perplexidade
sistemtica.
10
Dito de outro modo, mdia e imaginrio nos convoca a uma
atitude de leitura do mundo que procura unir a multiplicidade
10 Calvino, I. Una pietra sopra. Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1995,
p.4. Ou: Assunto Encerrado discursos sobre literatura e sociedade [Una pie-
tra sopra] (texto escrito originalmente em 1980)
47
dos pontos de vista a uma descrio possvel, de preferncia eco-
nmica, espcie de prxis da narrao, na qual concorrem ima-
gem e ideia, exatido e complexidade, silncio e palavra. Aquilo
que eu tenho, a nica coisa que poderia ensinar um modo de olhar,
de estar em meio ao mundo.
11
A atitude de perplexidade sistemtica requer uma con-
templao inquieta, que por sua vez o estado por exceln-
cia do senhor Palomar, do livro homnimo. Nas viagens, no
convvio em sociedade ou nas suas meditaes, tal atitude de
perplexidade somada metodologia da contemplao inquieta
torna-se peremptria para a focalizao. Sem ela no podemos
caracterizar senhor Palomar, nem Marco Plo, nem Marcovaldo.
Muito menos talo Calvino. O olhar mvel e voltil deve consi-
derar tanto aquilo que v quanto aquilo que no v, ou que v
sonhando, ou que recorda ou ainda o que lhe contado.
Tal atitude deve considerar todas as metamorfoses do
campo da imagem. Nasce com isso uma ideia-imagem: o ima-
ginrio mais uma atitude do focalizador de mundo do que
algo, digamos, natural. Tal focalizador de mundo pode ser o
humano, mas tambm pode ser a cmera, o poema, o quadro
ou a cano. Dito de outro modo: preciso se entregar fanta-
sia para viver a fantasia.
Tal atitude implica uma pedagogia da imaginao, ideia
que aparece nas Seis propostas para o prximo milnio: a experin-
cia visual considerada como a capacidade de criar imagens de
olhos fechados. A excessiva projeo de imagens da sociedade mi-
ditica contempornea est ameaando essa faculdade humana
fundamental que a capacidade de criar e por em foco mltiplas
vises, fazer funcionar nosso cinema mental. Calvino considera
que tal pedagogia deve inventar seus prprios mtodos. Sejam
eles quais forem, devem levar em conta a ideia da imaginao
11 Carta de 1960 a Franois Wahl, In: Album Calvino. A cura di Luca Bara-
nelli e Ernesto Ferrero. Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 2001, p.248
48
como instrumento do saber e como identicao com a alma
do mundo.
12
Estas duas direes so eixos na relao entre mdia e ima-
ginrio: instrumento de saber; identicao com a alma do
mundo. A imaginao como instrumento do saber trabalha
com a lgica espontnea da criao de imagens, e a inteno ob-
jetiva de uma formulao racional. A mdia uma porta aberta
para o universo real-imaginrio, algo indomvel, do qual o ho-
mem tem por desao se aproximar, comeando por aceitar a in-
nitude do conhecimento e a necessria articulao dos saberes.
Essa porta a da lgica do sensvel.
No segundo aspecto, Calvino entende que a imaginao
uma forma de contato com a alma do mundo, ajusta-se mais
a uma teosoa, ou a uma naturphilosophie, do que propriamente
ao conhecimento cientco, visto que ainda h uma diculdade
da cincia em dialogar com o conhecimento imaginrio. Aqui
a imaginao faz parte de uma losoa natural, evocada pelos
elementos bachelarianos (terra, gua, ar e fogo). Mas Calvino,
quando pensa imaginrio e mdia, est rediscutindo em muitos
aspectos a fantasia de Ariosto, as sombras de Caravaggio e a rela-
o poesia e matemtica de Da Vinci. Calvino parece no se liar
a nenhuma escola seno prpria fantasia.
Calvino sabe que a luta religiosa contra a imagem sempre foi
a guerra contra o artefato, contra o que se considera articial. Era
a velha noo de que s Deus seria criador. O articial, portanto,
contrariaria o poder criador divino. Desde Plato, a imagem sem-
pre incomodou por ser artefato, criao humana, representao
articial gerada pelo homem. A fonte da imagem tecnolgica.
Quando h exacerbao tecnolgica, h profuso de imagens.
Logo, de artefatos. No entanto, bem antes de Plato, os gregos
tambm conheciam a noo de imagem como phantasma ou, se
12 Calvino refere-se neste caso a um ensaio de Jean Starobinsky publicado no
volume La relations critique, Gallimard, 1970.
49
queremos algo mais concreto: os kolossos, a imagem-smbolo: era
quando a pedra era dotada de vida. Obviamente: vida mgica. A
phantasia estava para o cotidiano egpcio e grego, como a cincia
est para os nossos dias. As pedras eram a tecnologia dos antigos.
Calvino entende que a cincia no pode ser separada em dois
polos, numa cincia do mundo exterior e outra do mundo in-
terior. Alis, na busca de um conhecimento extra-individual e
extra-objetivo e na compreenso de que a imaginao tambm
depositria da verdade do universo, que ele escreve Palomar, o seu
livro-mtodo. A experincia visual do homem na prtica peda-
ggica da imaginao, para Calvino, deveria suscitar-lhe uma
sabedoria antiga,
13
fundada sob o signo de Mercrio, instvel e
oscilante como a prpria imaginao, inclinada a trocas e inter-
cmbios entre o micro e o macrocosmo, entre a psicologia e a
astrologia, entre o material e o imaterial.
A visibilidade do senhor Palomar, assim como a conferncia
das Seis propostas, procura formular um modo de observao no
qual sintonia, focalizao e conscincia estejam ajustadas sua
ateno e ao seu esprito inquieto, e que desse ajuste possa redun-
dar uma pedagogia da imaginao.
H muitas dcadas temos as mdias como principal elemen-
to propedutico da imaginao, o que ao mesmo tempo um
ganho e uma perda de cognio. Ganho porque acrescenta, re-
elabora, adensa, amplia o campo imaginativo. E perda porque
limita, embota, padroniza, reica o mesmo campo. Fala-se, por
exemplo, nas escolas de comunicao, de uma perda da capaci-
dade imaginativa. Em nossas escolas, sabemos que alimentamos
pouco nossa intimidade com as sonoridades, assim como pouco
explorado o imaginrio ttil, artstico ou literrio. Por outro lado,
as escolas de comunicao foram empaladas pelo imaginrio tec-
nolgico, o que, como todo imaginrio, uma questo ambgua.
13 Calvino, I. Seis propostas para o prximo milnio op.cit.p.6
50
Voltemos a Calvino. A visibilidade tambm tema do senhor
Palomar no captulo O universo como espelho.
14
Neste captulo,
so os espaos innitos do cosmo e os subjetivos da existncia que
ele contempla com inquietude. Sua diculdade em relacionar-se
com o prximo leva-o, em primeiro lugar, a procurar melhorar
sua relao com o cosmo.
Para Calvino, o imaginrio possui uma innidade de pontos
e focos aos quais o pensamento pode explorar indenidamente,
que podem ser trabalhados e retrabalhados com novas reexes,
estilizaes ou, simplesmente, deixando-se saltar de imagem em
imagem, de pensamento em pensamento. O lme, o poema, o
quadro, assim como o conto, pela conciso, o espao ideal para
a metfora e a aluso. Como deniu Bachelard, falando do con-
to: uma imagem que raciocina
15
.
Lembro agora que em um lme de David Lynch, terceiro da
trilogia sobre Hollywood, chamado o Imprio dos Sonhos, o dire-
tor no vai procurar uma imagem da lgica do ilgico, no vai
aderir ao mundo interior dos personagens, mas vai se perguntar
se a imagem moderna (ou seja, uma imagem aberta e relativa
em alguns aspectos, e fabricada e genrica em outros), permite
ainda que as imagens existam como universo autnomo e com-
plementar disso que chamamos de realidade.
O lme nos ajuda a entender que necessrio perceber o
imaginrio como um sistema aberto. Campo par excelence de
imagens simultaneamente falsas e verdadeiras, da criatividade e
de experincias de imagens puras ou no, simulacro da vida, guia
pela busca de signicados, analogias e alegorias. O imaginrio
borra a fronteira entre o que seria sonho, realidade, consciente e
inconsciente, muito prximo do que fazem em certos aspectos, o
cinema, a TV e a fotograa.
14 O universo como espelho. In: Calvino, I. Palomar, op.cit.p.104-107
15 Bachelard, G. A potica do espao. Col. Os pensadores. So Paulo: Ed.
Abril, 1979, p.303
51
No fcil engolir tudo isso. A discusso sobre o que a
realidade em literatura e mdia, por exemplo, no pode ser feita
sem a discusso da multiplicidade de nveis e esferas. Somente na
soma dos nveis de realidade formaramos aquilo que chamamos
de real. Aquilo que chamamos de realidade apenas um desses
nveis, no necessariamente o mais verdadeiro e autntico. No
necessariamente o essencial, diria Heidegger.
comum a crtica ao imaginrio justamente neste ponto:
ele des-ideologiza o real. Alguns acreditam piamente que o ima-
ginrio s est dotado de fetiches, crenas, senso comum, mani-
pulaes, etc. A ideia de manipulao, diz Maffesoli, pertence
ao esquema clssico, fortalecido pelo marxismo, que considera o
indivduo indefeso diante da imagem.
Tal manipulao vale para o cinema de Hollywood, mas tam-
bm para a televiso e a publicidade. Nesse modelo, o fundamen-
tal seria passar um contedo. Trata-se, diz Maffesoli, do primado
da ideologia. A forma seria apenas um suporte.
Edgar Morin, ao contrrio, em livros como O Cinema e o
homem imaginrio, mostrou que existe uma reversibilidade, um
vaivm do sentido e uma re-atualizao da magia e do mito pelo
imaginrio. O imaginrio e a mdia no so apenas a imposio
de algo que vem de cima, um impacto, mas uma relao.
O criador, mesmo na publicidade, s criador na medida
em que consegue sentir ou captar o que circula na sociedade. Ele
precisa corresponder a uma atmosfera. Perceber os vrios nveis
de realidade e recri-los. O criador d forma ao que existe nos
espritos e nos espaos, ao que est a, ao que existe de maneira
informal ou disforme.
A literatura, a publicidade e o cinema lidam, por exemplo, com
arqutipos. Isso signica que o criador deve estar em sintonia(-de-
sintonizada) com o vivido. O arqutipo s existe por que se enraza
na existncia social. Assim, uma viso esquemtica, manipulatria,
no d conta do real, embora tenha uma parte de verdade.
O criador, se tiver genialidade, sua genialidade implicar na
capacidade de estar em sintonia com o esprito coletivo. Portan-
52
to, concluir Maffesoli, as tecnologias do imaginrio bebem em
fontes imaginrias para alimentar imaginrios.
Cineastas, publicitrios, escritores e poetas so os verdadeiros
tericos do imaginrio. Eles sabem que imaginar melhor do
que teorizar sobre a imaginao, porque sabem que as aes ima-
ginante e imaginativa vo alm do compreensvel. Sabem que a
aura ultrapassa e alimenta a obra.
Qualquer criador, ou seja, em termos heideggerianos, o po-
eta, trata a imaginao e a poesia como mdias ou processos de
passagem, esferas ou canais. Como disse o poeta Eugenio Mon-
tale
16
: A imaginao, a poesia e a fantasia so mdias porque
transportam o homem para estados supra-reais. So canais que
irrigam a realidade, o pensamento e a ideia.
Toda imagem conduz o homem para outra esfera. Eugnio
Montale diz tambm que as obras de arte so mdias: Espero
que amanh se compreenda a obra de arte como efetiva comu-
nicao. Ele entende que a busca de autonomia (nomos = lei) e
de auto-conhecimento (m, telos), mediante a sensibilidade pen-
sante da obra de arte (meio), funcionam, para o homem, como
essenciais para a vida. A obra de arte meio de informao-co-
municao-entendimento de realidades, mas tambm meio de
incomunicao, porque tambm omite, silencia, desinforma,
complexica o enigma do real.
Como meios de comunicao, as obras de arte so os de
continuidade que unem tempos diversos (passado e presente)
a ideias diversas, histrias diversas, sentimentos diversos, focos
diversos. Montale sugere a denio de Tommaso Ceva (1649-
1736): Arte um sonho feito na presena da razo.
Costuma-se achar que a natureza da poesia e da arte no
dotada de reexo miditica, ao passo que a grande variedade
dos media ainda est longe de praticar um pensamento-poema.
Sabemos que grande parte do fazer potico visa interrogar sobre a
16 MONTALE, E. (De la poesia, 1995 Cap. Hablemos de hermetismo).
53
natureza da prpria atividade do poetar. Para W. Stevens o objeto
misterioso da Poesia deve ser o prprio assunto do poema. Para
ele o mistrio universal e o esttico/potico se confudem.
Heidegger diz que o esttico (sobretudo a poesia) a conti-
nuao do mistrio. A distino Matria e Forma quase por ex-
celncia o esquema conceitual de todas as teorias estticas. A obra
de arte uma forma de revelao da verdade: revelao necessria
porque, subentendo-se, verdade legtima, profunda, obscurecida
pela rotina que deve ser buscada/descoberta pelo artista.
A trivialidade do dia-a-dia encobre a verdade. A arte nos li-
bera da sonolncia e da semi-cegueira. A ecloso do ente da arte
no um estado, mas um acontecimento. A beleza um modo
de permanncia da verdade enquanto ecloso. Toda a arte es-
sencialmente poema, disse Heidegger.
A poesia no somente o modo mais alto da linguagem co-
tidiana. antes um discurso de todos os dias, semelhante s
mdias, que um poema escapado e, por esta razo, um poema
exaurido na usura, que, devido ao excesso e ao falatrio, j no se
faz ouvir, continua Heidegger. A mdia estaria assim mais para o
falatrio. A poesia se aproxima por sua vez da fala e do silncio;
essencialidades. Enquanto a mdia nos transporta cotidianamen-
te para a trivialidade, a arte e a poesia tm a nalidade de nos
arrancar da trivialidade absorvente de nossa existncia, e nos co-
locar emocionados, deslumbrados, no Ser.
Tudo isso so ideias heideggerianas. Tudo o que vive tem a
natureza da dor. Dichten: ser poeta signica redizer. Dichten ,
na maior parte do tempo, um ouvir. mais ouvir do que proferir.
O poeta escuta, sintoniza, imagina a natureza da dor, mas tam-
bm a essncia do pensamento, do tempo e dos homens. A obra
de arte no revela a obra de arte em sua inteireza, ela apenas
canal, o de continuidade, narrativa, frgil conexo com alguma
realidade. A obra revela (ao passo que esconde) escutas, sintonias
e metforas.
A poesia a essncia do artstico. Seja ele miditico ou no. A
obra de arte espiritualiza quem a faz e acaba por espiritualizar os
54
que dela tomam conhecimento. Seja isso transmitido via satlite
ou reproduzido em Xerox, ou no.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BACHELARD, G. A potica do espao. Col. Os pensadores. So Paulo:
Ed. Abril, 1979
CALVINO. I. Palomar. Trad. Ivo Barroso. So Paulo: Cia das Letras,
1994.
___________. Seis propostas para o prximo milnio lies america-
nas. Trad. Ivo Barroso. So Paulo: Cia das Letras, 1990.
___________. Una pietra sopra. Milano: Arnoldo Mondadori Editore,
1995
___________. Assunto encerrado. Trad. Roberta Barni. So Paulo: Cia
das Letras, 2006.
HEIDEGGER, Martin. Caminhos de oresta. Lisboa: Fundao Ca-
louste Gulbenkian, 1998 (ed. or. 1959a).
___________. Caminhos de campo. So Paulo: Duas cidades, 1972 (ed.
or. 1949).
___________. Para qu Poetas? IN: Caminhos de Floresta. Lisboa:
Calouste-Gulbelkian, 2000.
___________. Hinos de Hlderlin. Lisboa: Instituto Piaget, 1999b (ed.
or. 1939).
___________. Todos ns...Ningum. So Paulo: Ed. Moraes, 1981.
___________. Ensaios e conferncias. Petrpolis, RJ: Vozes, 2001 (ed.
or. 1954).
___________. A caminho da linguagem. Petrpolis, RJ: Vozes, 2003
(ed. or. 1959).
LAPOUJADE, Maria Noel. Filosoa da Imaginacin. Ciudad de Mxi-
co: Siglo XXI Editores, 1988.
55
MAFFESOLI, M. Entrevista. O imaginrio uma realidade. Revista Fa-
mecos, Porto Alegre, n 15, agosto 2001.
MONTALE, E. De la poesia, Barcelona: Pr-Textos, 1995.
4. Imaginrio e narrativa
Selma Regina Nunes Oliveira
17
Parafraseando o dramaturgo Plauto
18
: homo homini narratus
est ou o homem o narrador do homem. Ele narra a si, ao mesmo
tempo em que narrado por outrem. De acordo com Roland
Barthes
19
:
a narrativa est presente em todos os tempos, em todos os lugares,
em todas as sociedades; a narrativa comea com a prpria humani-
dade; no h, no h em parte alguma, povo algum sem narrativa;
todas as classes, todos os grupos humanos tm suas narrativas, e
frequentemente estas narrativas so apreciadas em comum por ho-
17 Doutora em Histria. Professora do Departamento de Audiovisual e Pu-
blicidade, da Faculdade de Comunicao, da Universidade de Braslia.
18 Tito Mcio Plauto (230 a.C. - 180 a.C.) foi um dramaturgo romano que
viveu durante o perodo republicano. de sua autoria a frase homo homini
lupus est o homem o lobo do homem, extrada da pea Asinaria (um
dos mais antigos textos do latim) e popularizada pelo ao lsofo Thomas
Hobbes.
19 Introduo Anlise Estrutural da Narrativa in Anlise Estrutural da Nar-
rativa, 1971:18.
58
mens de cultura diferente, e mesmo opostas; a narrativa ridiculariza
a boa e a m literatura; internacional, trans-histricas, transcultu-
ral, a narrativa est a, como a vida.
Em suma, o homem existe no somente porque narrador,
mas, principalmente, porque personagem, enredo (conito),
lugar (lcus) e tempo (cronolgico ou psicolgico); ele escreve e
se inscreve socialmente pela narrativa.
Ao adotarmos a contemporaneidade stuartiana como cenrio
narrativo, entendemos os anos sessenta como marco da moder-
nidade tardia e, consequentemente como ruptura do paradigma
da identidade nica. Nesse sentido, Stuart Hall
20
argumenta que:
Um tipo diferente de mudana est transformando as sociedades
modernas do nal do sculo XX. Isso est fragmentando as paisa-
gens culturais de classe, gnero, sexualidade, etnia, raa e naciona-
lidade que, no passado, nos tinham fornecido slidas localizaes
com indivduos sociais. Estas transformaes esto tambm mu-
dando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de
ns prprios como sujeitos integrados. Essa perda de um sentido
de si estvel chamada, algumas vezes, de deslocamento ou des-
centrao do sujeito. Esse duplo deslocamento descentrao do
indivduo tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de
si mesmos constitui uma crise de identidade.
A compreenso da identidade como uma celebrao mvel
e, como sugere Hall
21
, lcus no qual o sujeito assume identi-
dades diferentes em diferentes momentos e no unicadas ao
redor de um eu coerente, permite-nos induzir que as mltiplas
identidades desse mesmo sujeito so narrativas produzidas no co-
tidiano. Sendo assim, a partir da armao de Stuart Hall, vamos
traar o esboo da seguinte proposio: o sujeito da contempora-
20 A Identidade Cultural na Ps-Modernidade, 2005: 9.
21 Idem, 2005: 13.
59
neidade , por m, o narrador e personagens, criador e criatura,
Homini Narratus Habilis.
Temos ento um sujeito cujas identidades so plasmadas em
suas e por suas narrativas perceptuais (afetos e sentidos) e fsicas
(materiais). O Homini Narratus Habilis constri suas identida-
des medida que narra e narrado. Ele cria textos e imagens
de si, possui texturas diversas e engendra suas tessituras assim
como as de outros indivduos. Ele produz e produzido por seu
imaginrio (imago, imaginis, imagograa
22
, imagofagia
23
). Ele
constitudo por um ncleo narrativo e constitui a rede narrativa
de outros sujeitos (imaginrio potencial/ virtual
24
), em diferentes
esferas fsica, miditica e digital. O indivduo contemporneo
sujeito convertido em simblico que se transforma em diablico
e vice-versa.
22 Escrever em imagens composio livre da pesquisadora a partir dos ter-
mos imago e graa. Lat. imgo,nis semelhana, representao, retrato,
pelo genit., cp. imago; ver imag-; f.hist. sXIII imagem, sXIII ymagem, sXIII
omagem. E graf(o)- + -ia; f.hist. 1858 grapha pospositivo, conexo com
-graa escrita, escrito, ver, em compostos der. dos subst. l relacionados
com a noo de pessoa ou coisa que escreve, descreve, convenciona e ans
(como aneroidgrafo, gegrafo, dactilgrafo, musicgrafo, estengrafo etc.);
em prosses muito modernas, h a tendncia (por inuxo do ing.) de
dominar -grasta, ver; h uma constelao morfossemntica conexa, em-
bora sem alguns elos explicitados (constituindo estes, assim, fonte de pal.
virtuais ou potenciais): grafo:-graa:-grco.
23 Comer imagens composio livre da pesquisadora a partir dos termos
imago e phagos. pospositivo, do gr. -phagos, de phagin, inf. aor. de esthein
comer + o suf. -ia, formador de subst. abstratos, em comp. gregos, j
formados analogicamente a partir do Renascimento: acridofagia, afagia,
androfagia, antropofagia, autofagia, bacteriofagia, creofagia, disfagia, hipofa-
gia, homofagia, necrofagia, opiofagia, polifagia, sialofagia, zoofagia etc.; ver
fag(o)-
24 No sentido empregado por Pierre Levy Cibercultura.
60
Narrar enquanto narrado uma condio histrica que,
de acordo com Ligia Chiappini
25
, foram-se complicando de tal
forma que:
o NARRADOR foi mesmo progressivamente se ocultando, ou
atrs de outros narradores, ou atrs dos fatos narrados, que parecem
cada vez mais, com o desenvolvimento do romance, narrarem-se a
si prprios; ou, mais recentemente, atrs de uma voz que nos fala,
velando e desvelando, ao mesmo tempo, narrador e personagem,
numa fuso que, se os apresenta diretamente ao leitor, tambm os
distancia, enquanto os dilui.
Quem narra, narra o que viu, o que viveu, o que testemunhou, mas
tambm o que imaginou, o que sonhou, o que desejou. Por isso,
NARRAO e FICO praticamente nascem juntas.
26
Esse sujeito, criador e criatura de mltiplas narrativas, mo-
ve-se, molda-se, movido e moldado no imaginrio que, para
Bronislaw Baczko
27
, local e objeto de conitos sociais. O autor
arma que o controle sobre a produo de smbolos e imagens as-
segura a hegemonia de um grupo social sobre os demais grupos.
De acordo com Baczko, os bens simblicos de uma sociedade so
limitados, por isso vital a construo de um sistema que codi-
que, hierarquize, enm um dispositivo de controle do imaginrio
social, ou seja, um esquema de representao e valorao coletiva
das experincias individuais. Segundo o autor, o imaginrio so-
cial opera por meio de um sistema simblico que se baseia nas
experincias afetivas dos indivduos
28
, da o seu poder. Sua po-
tncia assegurada pela ecincia do processo de interiorizao
de valores e conceitos por parte do indivduo e pela fuso entre
25 Ligia Chiappini Moraes Leite livre-docente em Letras pela Universidade
de So Paulo e professora Associada de Teoria da Literatura da USP.
26 O Foco Narrativo, 2004: 5-6.
27 Imaginao Social, 1985: 310.
28 Idem: 311.
61
os conceitos de verdade e normatividade. Baczko arma que o
imaginrio social informa acerca da realidade, ao mesmo tempo
em que constitui um apelo ao, um apelo a comportar-se de
determinada maneira. (...)
29
.
Para continuar a traar os contornos do Homini Narratus
Habilis acrescentaremos ludicamente nossa perspectiva as cate-
gorias desenvolvidas por Michel Maffesoli
30
em algumas de suas
obras: o apolneo e o dionisaco. Para Maffesoli Apolo representa
(...) la dominacin del principio del legos, el de una razn me-
cnica y predecible, el de una razn instrumental y,estrictamente,
utilitaria (...).
31
Em oposio a Apolo est Dionsio que, de acor-
do com o autor, encarna, em sua complexidade, o hedonismo
generalizado (...) Selvageria latente. Animalidade serena (...).
32
Oposio que resulta no (...) Eterno combate entre Apolo e
Dionisio! (...)
33
As imagens de Apolo e Dionsio propostas por Maffesoli
so provocantes e, principalmente, pelo prazer de brincar com
as categorias delineadas pelo autor, convidam-nos ao desao de
desenhar uma noo tipolgica para anlise composta por trs
tipos de narrativas nas quais o Homini Narratus Habilis pode
desdobrar-se em:
Narrativa Apolnea: narrativa padro/ unvoca construda
e legitimada na Histria. Documentos, esttuas, pinturas e li-
vros, produzidos por historiadores ou artistas, institucionaliza-
dos como autoridades em suas reas ou ofcios, narram acerca de
alguns personagens e seus feitos. Nesse tipo de narrativa, nosso
olhar direcionado ao Olimpo e a, narrador e personagem so
distinguidos com clareza. O Homini Narratus Apolo narrado
historicamente, seja como heri ou vilo, e sua imagem no lhe
29 Idem: 311.
30 A Sombra de Dionsio, 1985; e A Parte do Diabo, 2004.
31 El Tiempo de la Tribu, 2004: 27.
32 A Parte do Diabo, 2004: 15.
33 El Tiempo de La Tribu, 2004: 27.
62
pertence; escapa-lhe das mos e para as bibliotecas, museus, ruas
ou praas pblicas. Tambm nessa denio podemos inserir
pensadores e artistas que tiveram suas obras apropriadas histo-
ricamente. Eis alguns deles: Ramss II, Jlio Csar, Aristteles,
Henrique VIII, John Kennedy, Joseph Stalin, Voltaire, Wolfgang
Amadeus Mozart e muitos outros.
Narrativa Dionisaca: narrativa nmade/ afetiva, construda e
legitimada pelos meios de comunicao de massa. Jornais, lmes,
msicas e anncios so alguns dos canais nos quais e pelos quais
personagens so retirados do cotidiano para ocuparem um lugar
de destaque na cultura meditica e, portanto, no imaginrio so-
cial. Nosso olhar se divide entre o Olimpo e a terra e, nesse duplo
cenrio, narrador e personagem se confundem. O Homini Narra-
tus Dioniso narrado midiaticamente e uma espcie de scio no
que diz respeito propriedade de sua imagem. Esse tipo arquiteta
sua narrativa, mas ainda necessita dividir com narradores institu-
cionalizados (jornalistas, crticos, publicitrios ou empresas) os
direitos narrativos sobre sua imagem. Alguns personagens que
se encaixam nessa denio: Eva Pern, Truman Capote, Oprah
Winfrey, Madonna, Luiz Incio Lula da Silva dentre outros. Essa
denio abarca um nmero maior de sujeitos quando compara-
mos com o tipo anterior.
s duas denies anteriores, derivadas das categorias desen-
volvidas por Michel Maffesoli e inspiradas por elas, propomos
uma terceira: a Narrativa Hefastica. Mas por que Hefesto? Va-
mos origem.
63
No Dicionrio de Mitologia Grega e Romana de Georges
Hacquard
34
encontramos o seguinte:
Hefesto (cujo nome parece radicar em duas razes gregas que sig-
nicam: alumiar e lareira) personica o fogo, tanto o fogo que ex-
plode no cu (o saracoteio que lhe atribudo, na Antiguidade,
representava o ziguezague do relmpago) como aquele que produzido
pelos vulces. Hesodo apresenta Hefesto como tendo sido gerado por
Hera, sem nenhuma participao masculina, mas segundo lendas pos-
teriores a deusa teria imaginado este prodgio para escapar vergonha
de ter concebido um lho de Zeus, antes do seu casamento.
Entretanto, depois do nascimento de Hefesto, Hera tentou desembara-
ar-se do seu lho, atrando-o ao mar, do alto do Olimpo, mas ele foi
recolhido pelas ninfas Ttis e Eurnome, com quem viveu durante nove
anos. Nesse perodo, o jovem deus iniciou-se na arte da forja, e desen-
volveu a tal ponto os seus conhecimentos que um dia enviou a sua me
um sumptuoso trono de ouro, como presente. Hera sentou-se nele, mas
depois no foi capaz de se levantar e nenhum dos deuses do Olimpo
conseguiu romper o encantamento. Ares ainda tentou obrigar Hefesto
a libertar Hera, mas o jovem deus apedrejou-o com ties ardentes.
Ento, Dioniso tentou a sua sorte, oferecendo vinho a seu irmo: bba-
do, Hefesto deixou-se conduzir por um burro, e com esta equipagem
entrou no Olimpo. No entanto, no consentiu em libertar Hera, sem
antes ter obtido em casamento a mais bela das imortais: Afrodite.
35
Bastardo e feio, Hefesto o deus da forja, artce e criativo que,
por intermdio de sua arte e engenhosidade, no s conquistou seu
lugar no Olimpo como desposou a beleza. Os traos que caracterizam
o deus mitolgico do fogo e da metalurgia so ideais para construir-
mos o esboo da terceira denio. Assim:
34 Diviso Grca das Edies ASA, 1996.
35 Dicionrio de Mitologia Grega e Romana, 1996: 72.
64
Narrativa Hefastica: narrativa multplice/ disforme/ superat
36
construda e legitimada na cotidianidade e no ciberespao. A internet,
o vesturio e a pele so os meios de comunicao mais utilizados
por personagens que so autores de sua narrativa. O Homini Nar-
ratus Hefesto, ao contrrio dos tipos apolneos e dionisacos, no
almeja o Olimpo, mas sim o cotidiano cenrio e matria-prima
de sua narrativa. Ao se narrar, o prprio personagem vai cons-
truindo sua rede de leitores e ela quem legitima sua imagem.
Sendo assim, o que est em jogo no a conquista de um lugar
no Olimpo e sim um lugar no cotidiano, pois, na verdade, eles
so um s. O achatamento dos dois planos (Olimpo/Cotidiano)
em um plano (Quotidiolimpo) amplia as possibilidades do olhar
que, livre da verticalidade do Olimpo, pode explorar mltiplas
geograas. O tipo hefastico se faz co e dessa forma que se
lana na realidade. Quanto mais el co, mais ele ser inse-
rido no Quotidiolimpo. Quanto mais engenhoso o personagem,
mais densa ser a trama de sua narrativa. Da mesma forma, o
personagem elaborado e reelaborado no Quotidiolimpo determi-
na o status de seu artce e amplia a topograa de sua narrativa.
Nominamos aqui alguns personagens hefasticos: Otakus
37
, Jo-
36 Superat um movimento artstico ps-modernista, fundado pelo artista
Takashi Murakami, infuenciado pelos estilos mang e anime. tambm o
nome de uma exposio de arte de 2001, criada por Murakami, que passou por
West Hollywood, Minneapolis e Seattle. O estilo Superat usado por Mu-
rakami para referir-se vrias formas planas da arte grca, animaes, cultura
pop e outras artes japonesas, assim como o vazio da cultura consumista
japonesa. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Superat)
37 Otaku (em japons:, Otaku lit. seu lar) um termo usado
no Japo para designar um f por um determinado assunto, qual-
quer que seja. No imaginrio japons, a maioria dos otakus so
indivduos que se atiram de forma obsessiva a um hobby qualquer.
No ocidente, a palavra utilizada como uma gria para rotular fs
de anims e mangs em geral, em uma clara mudana de sentido
em relao ao idioma de origem do termo.
65
gadores de MMORPG
38
, tatuados, pers do Twitter (Katylene,
OCriador etc.)
39
, blogueiros (Marimoon, Tavi Gevinson etc.)
40
,
personagens de vdeo games, mangs e animes (Lara Croft, Rei
Ayanami, Sheryl Nome etc.).
O JOGO DO CRIADOR E DA CRIATURA
Na Antiguidade Clssica assim como no Iluminismo, o ho-
mem era personagem das narrativas e sua condio de sujeito era
formado e conformado por uma identidade nica e coesa. Pou-
cos possuam o direito ou as condies para narrar-se. A funo
dos artistas e pensadores era narrar outros homens e o mundo a
sua volta. Estamos nos referindo ao Homini Narratus Apolo.
Cortesanos y burgueses: ciudades reales, paisajes imaginarios
Durante el siglo XVIII europeo se asiste a la declinacin de las
monarquas absolutas y al ascenso de la aristocracia y la burguesa.
Como consecuencia, en el campo artstico, la clientela se extendi
ms all de la corte, y el gnero del retrato dej de ser privilegio solo
de reyes y grandes personajes. Nobles., aristcratas, burgueses y sir-
vientes aspiraron a perpetuar su rostro en pinturas y esculturas. La
aproximacin emotiva hacia el retratado permiti que los artistas
revelaran su psicologa, la interioridad del modelo.
Alejndose paulatinamente del gusto por lo fastuoso de cortinados,
joyas y muebles, se fueron incorporando fondos con paisajes y es-
cenas intimistas.
38 Um jogo de interpretao de personagem online e em massa para ml-
tiplos jogadores (Massively ou Massive Multiplayer Online Role-Playing
Game ou Multi Massive Online Role-Playing Game) ou MMORPG um
jogo de computador e/ou videogame que permite a milhares de jogadores
criarem personagens em um mundo virtual dinmico ao mesmo tempo na
Internet. MMORPGs so um subtipo dos Massively Multiplayer Online
Game (Jogos Online Massivos para Mltiplos Jogadores).
39 http://twitter.com/katylene e http://twitter.com/ocriador
40 http://marimoon-blog.blogspot.com/ e http://www.thestylerookie.com/
66
En tanto, la legendaria Venecia, concit una vez ms particular
inters por su importante movimiento cultural, de espritu inno-
vador. Floreci la pintura decorativa, de tratamiento ilusionista y
teatral, en iglesias y palacios. Tambin los paisajes urbanos y los de
antiguas ruinas que presentan el idealismo neoclsico y anuncian la
nostalgia romntica.
41
A criao e o desenvolvimento de novos aparatos tecnolgi-
cos possibilitaram a sistematizao de crenas e cdigos, histori-
camente produzidos, em uma rede de comunicao de alcance
global. Os meios de comunicao de massa rdio, cinema, TV
etc. transformaram-se em mediadores sociais do indivduo e
seu imaginrio.
A proposio elaborada por Marshall McLuhan
42
de que
as tecnologias de comunicao deveriam ser entendidas como
extenso dos sentidos humanos colocou em pauta a discusso
sobre as consequncias sociais e polticas acarretadas pela media-
o tecnolgica da mensagem. Divididos em dois momentos o
momento analgico e o momento digital a mediao, entre o
indivduo e a realidade, pelos meios de comunicao audiovisuais
potencializou os sentidos da viso e da audio e jogou o homem
num vrtice de experienciaes
43
cada vez mais virtuais, levando-
o a uma espcie de encantamento tecnolgico. Nesse ponto, a
ruptura com cultura tipogrca e sua transformao em cultura
da mdia inscreveu a prtica tecnolgica no cotidiano do indiv-
duo e reelaborou, principalmente, sua experincia esttica.
41 Museo Nacional de Belas Artes, sala 07, Arte del Siglo XVIII.
42 Autor de O Meio a Mensagem, Os Meios de Comunicao como Exten-
ses do Homem entre outros.
43 O termo experienciao, elaborado por Eugene Gendlin, diz respeito ao
uxo psico-silogico, sentido como tendo ocorrncia no interior da pes-
soa e ao qual ela pode dirigir sua ateno a m de utiliz-lo como referen-
cial para atribuir signicado sua existncia naquele momento.
67
A produo do encantamento lmes, novelas, quadrinhos,
documentrios, msicas etc. traduz-se na captura sistemtica
do olhar e da audio do espectador que, diariamente, sai em
busca de emoes e sensaes que, apesar de fugazes, parecem-
lhe tremendamente intensas. Alm disso, na cultura da mdia,
o encantamento tecnolgico produzido como uma rede: os
produtos sociomediticos remetem-se ou so inseridos em outros
produtos. O imaginrio vai sendo construdo em partes que so
conectadas sinergicamente por diferentes meios, em momentos
estrategicamente calculados e em doses e formatos previamente
determinados.
Nas esferas da cultura de massa e da mdia, os meios de co-
municao, compreendidos aqui como meios narrativos, organi-
zam e disseminam identidades que, por sua vez, so apropriadas
pelo sujeito. Na esfera da cultura da mdia as sociedades moder-
nas, assim como os sujeitos que as compem, so caracterizadas
por Hall
44
como lugares que criam possibilidades de identidades
partilhadas como consumidores para os mesmos bens, clientes
para os mesmos servios, pblicos para as mesmas mensagens e
imagens entre pessoas que esto muito distantes umas das outras
no tempo e no espao. O Homini Narratus Dioniso habita essa
esfera, porm, embora possa criar seu personagem e construir sua
prpria narrativa, ele apenas a inicia. Para que sua narrativa saia da
esfera cotidiana para a esfera miditica, precisa ser legitimado por
narradores autorizados pelos meios de comunicao que replicam e
difundem a sua imagem. Aqui cabe uma pequena nota: para haver
difuso necessrio que o algo que ser difundido seja difuso.
Eis que, na esfera digital, est dada ao indivduo a condio
de artce; de plasmar formas distintas, de maneira quase ilimi-
tada. na esfera digital que o sujeito contemporneo encontra
condies de possibilidade para criao e a existncia das ml-
44 A Identidade Cultural na Ps-Modernidade, 2005: 74.
68
tiplas narrativas e, consequentemente, mltiplas identidades do
Homini Narratus Hefesto.
No entendimento de Manuel Castells
45
a experincia do ho-
mem na esfera digital, ao contrrio da experincia histrica pro-
porcionada pela cultura tipogrca, se traduz em:
um sistema em que a prpria realidade (ou seja, a experincia sim-
blica/ material das pessoas) inteiramente captada, totalmente
imersa em uma composio de imagens virtuais no mundo do faz-
de-conta, no qual as aparncias no apenas se encontram na tela
comunicadora da experincia, mas se transformam na experincia.
Uma experincia que segundo Jean-Franois Lyotard
46
cons-
titui uma forma de saber caracterstico da ps-modernidade: o
saber narrativo. Para o autor, o saber narrativo privilegia dois as-
pectos: a performance (o tom) e o tempo (ritmo). O tempo da
narrativa fragmentado em perodos mtricos que determinam a
amplitude e o comprimento entre os perodos. No momento em
que reproduzem o passado ou o presente, as narrativas ps-mo-
dernas desdobram o tempo em uma efemeridade que se estende
entre o eu vi ou ouvi dizer e o vocs vo ver ou ouvir; ou seja, eu
narro e os outros me narram.
A experincia cotidiana um jogo de histrias onde, o que
mais importa so a arquitetura do personagem e a habilidade de
se narrar. A jogabilidade
47
diretamente proporcional capa-
cidade do criador/criatura de expor o coxo Hefesto pelo olhar
de Afrodite. Cicatrizes, marcas e idiossincrasias so os principais
45 A Sociedade em Rede, 1999, p. 459.
46 A Condio Ps-Moderna, 2002, p. 37-41.
47 Jogabilidade (em ingls, gameplay ou playability) um termo na indstria
de jogos eletrnicos que inclui todas as experincias do jogador durante a
sua interao com os sistemas de um jogo, especialmente jogos formais, e
que descreve a facilidade na qual o jogo pode ser jogado, a quantidade de
vezes que ele pode ser completado ou a sua durao.
69
elementos utilizados pelo Homini Narratus Hefesto para compor
imagograas que sero vistas, examinadas, devoradas e, por m,
regurgitadas por outros Homini Narratus Hefesto.
No reino de Hefesto a criatura/criador tem tanta autonomia
quanto o criador/criatura, ou seja, o personagem pode arquitetar
seu narrador. Em sua obra os Trabalhos e os Dias, Hesodo canta
sobre o Hefesto criador de Pandora:
Disse assim e gargalhou o pai dos homens e dos deuses;
Ordenou ento ao nclito Hefesto muito velozmente
Terra gua misturar e a por humana voz
E fora, e assemelhar de rosto s deusas imortais
Esta bela e deleitvel forma de virgem;
48
Estamos falando dos personagens que forjam seus narrado-
res nos jogos online (MMORPG), nas partidas de Role-Playing
Game, nos Cosplays
49
, pelas mos dos Otakus ou nos pers do
Twitter. o Homini Narratus Hefesto que, em um movimento
duplo, transita e atravessado pela narrativa como autor onis-
ciente. Tal como a categoria proposta por Norman Friedman,
um narrador que tem a liberdade de narrar vontade, de colocar-
se acima, por trs, adotando um ponto de vista divino, para alm
48 1996: 13.
49 Cosplay (em japons: , Kosupure?) abreviao de costume
play ou ainda costume roleplay (ambos do ingls) que podem traduzir-
se por representao de personagem a carter, e tem sido utilizado no
original, como neologismo, conquanto ainda no convalidado no lxico
portugus[1], embora j conste doutras bases[2], para referir-se a atividade
ldica praticada principalmente (porm no exclusivamente) por jovens e
que consiste em disfarar-se ou fantasiar-se de algum personagem real ou
ccional, concreto ou abstrato, como, por exemplo, animes, mangs, co-
mics, videojogos ou ainda de grupos musicais acompanhado da tentati-
va de interpret-los na medida do possvel. Os participantes (ou jogadores)
dessa atividade chamam-se, por isso, cosplayers.
70
dos limites de tempo e espao
50
. Seu territrio, o Quotidiolimpo,
resultado do achatamento do Cotidiano com o Olimpo ou da
co com a realidade, , na verdade, o imaginrio re-territoria-
lizado, re-hierarquizado, re-ocupado por hostes de narradores e
personagens que se fundem em entidades ou sujeitos com ml-
tiplas identidades.
Se a narrativa nasce com a humanidade, ser narrado con-
dio sine qua non para existncia do homem. Homini Narratus
desde o primeiro trao feito nas paredes de sua habitao ou em
seu corpo projeta mundos e os povoa com personagens que ele
mesmo cria. Torna-se Habilis medida que inventa e desenvolve
aparatos reprodutores. Da tinta prensa, da parede ao ciberes-
pao, Apolo, Dioniso ou Hefesto, converte e convertido em
smbolo, produz contra-imaginrios para invadir e ocupar os
imaginrios que se estabelecem ao longo da histria. Cria suas
identidades e suas histrias transformarm o mundo.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BARTHES, Roland. Introduo Anlise Estrutural da Narrativa in
Anlise Estrutural da Narrativa. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1971.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. So Paulo: Paz e Terra, 1999.
CERTEAU, Michel de. A Inveno do Cotidiano. Petrpolis: Editora
Vozes, 1998.
HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Ps-Modernidade. Rio de Ja-
neiro: DP&A, 2005.
HARCQUARD, Georges. Dicionrio de Mitologia Grega e Romana.
Rio Tinto, Portugal: Diviso Grca das Edies ASA, 1996.
HESODO. Os Trabalhos e os Dias. So Paulo: Editora Iluminuras,
1996.
50 Cit in LEITE, L. C. M. : 26-27.
71
LEITE, Ligia Chiappini Moraes. O Foco Narrativo. So Paulo: Editora
tica, 2004 Srie Princpios.
LYOTARD, Jean-Franois. A condio ps-moderna. Rio de Janeiro:
Jos Olympio, 2002.
MAFFESOLI, Michel. A Sombra de Dionsio: contribuio a uma socio-
logia da orgia. Rio de Janeiro: Edies Graal, 1985.
___________. A Parte do Diabo: resumo da subverso ps-moderna. Rio
de Janeiro: Record, 2004.
___________. El Tiempo de laTribu. El ocaso del individualismo en las
sociedades posmodernas. Mxico, DF: Siglo Veintiuno Editores, S.A de
C.V., 2004.
REFERNCIAS ELETRNICAS
Dicionrio Houaiss: http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=a&stype=k
Wikipdia: http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_principal
Wikitionary: http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page
OUTRAS REFERNCIAS
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES BUENOS AIRES: (http://www.
mnba.org.ar/detalle_sala.php?opcion=VISITA_VIRTUAL&piso=0&sala=8)
5. O imaginrio da linguagem
entre logos e mythos
Florence Dravet
51
A PALAVRA PERFORMTICA
Dizer fazer; porque a palavra dotada de fora. A pala-
vra diz, dita, induz, conduz. A palavra determina. perform-
tica. Em um eixo horizontal, j o sabemos desde Austin (1962),
os enunciados, para serem performticos, precisam de algumas
condies socialmente consensuais e estabelecidas: as chamadas
condies de felicidade. Eles podem ento ser locutrios, ilocu-
trios ou perlocutrios. O ato de linguagem locutrio o simples
ato de dizer alguma coisa, e possui um signicado tal como dar
uma informao, armar, perguntar, etc. O ato ilocutrio aque-
le que atribui ao conjunto de sons articulados uma determinada
fora: de ameaa, de promessa, de ordem etc. Ou seja, o valor
de que se reveste um enunciado. O ato perlocutrio o ato que
tenderia a produzir certos efeitos menos diretos sobre o interlo-
cutor: questionamento, medo, convencimento, etc; efeitos que
51 Professora do programa de Ps-graduao em Comunicao da Universi-
dade Catlica de Braslia, ormd@gmail.com
74
podem realizar-se ou no. Por exemplo, ao dar um conselho a al-
gum (ato ilocutrio) do tipo: Por que voc no vai de carro?, o
enunciador pode estar tentando (e conseguir) levar o destinatrio
a lhe oferecer uma carona (ato perlocutrio). A maior contribui-
o de Austin foi ter proposto, de forma inequvoca, um redi-
mensionamento da linguagem no que diz respeito a sua natureza
e sua vocao a linguagem uma forma de ao - abandonando
assim a concepo de linguagem como representao do mundo
e do pensamento.
Logicamente, a fora de ilocuo de um enunciado est liga-
da ao cdigo, ao contexto, ao emissor e ao receptor, ao canal e
prpria congurao da mensagem. portanto determinada por
uma srie de fatores sociais variveis que podem ser classicados.
A partir do estudo de Austin, Searle (1983) props cinco tipos
de atos de fala: representativos (que descrevem um fato); diretivos
(que levam o interlocutor a realizar uma determinada ao futu-
ra); comissivos (que engajam o locutor a realizar uma ao futura);
declarativos (que tornam efetivo o contedo do ato) e expressivos
(que expressam um estado psicolgico, dentre outras contribui-
es). Searle, ao retomar a teoria de Austin, tambm considera
que o ato ilocutrio pode ser realizado de duas formas: uma ex-
plcita, com o uso de um performativo, e outra implcita, sem o
uso de um performativo. Mas, nesse segundo tipo, sempre seria
possvel depreender o performativo omitido, como em:
a) Vamos assust-lo. = Eu armo que vamos assust-lo
b) Vamos assust-lo? = Eu pergunto se vamos assust-lo
c) Vamos assust-lo! = Eu ordeno que o assustemos
Adotada, aperfeioada ou contestada, a teoria desenvolvida
por Austin e Searle inuenciou um grande nmero de linguistas,
dentre eles, Kerbrat-Orecchioni, especialista em anlise conver-
sacional, que utiliza alguns de seus conceitos na anlise das inte-
raes verbais. Em Os atos de linguagem no discurso (2001), ela
faz uma leitura de vrios pontos do assunto, lembrando que, na
75
comunicao, os enunciados efetuados geralmente so acompa-
nhados de gestos, mmicas e outras produes corporais.
Como vemos, a pragmtica da ilocuo que atribui fala um
valor de ao j foi amplamente discutida na lingustica e na co-
municao. Ateremo-nos aqui a analisar o poder da palavra e sua
fora no mais no nvel horizontal da ilocuo, mas no seu nvel
vertical. Trataremos portanto de uma fora que chamaremos de
evocatria.
importante deixar claro aqui que os dois eixos da lingua-
gem, o horizontal (social) e o vertical (transcendental), no esto
separados na realidade. Eles agem conjuntamente uma vez que a
linguagem ao mesmo tempo social, cultural e natural, ou seja,
a linguagem insere-se na totalidade indivisvel em movimento
uindo (Bohm, 2008: 27). somente para a clareza da expo-
sio e por uma premissa epistemolgica, que estabelecemos a
distino entre o eixo horizontal e o eixo vertical e que coloca-
mos o foco no segundo. Sendo assim, veremos a partir de agora
como a palavra possui uma fora prpria e como essa fora pode
ser ativada por aquele que a pronuncia oralmente ou a traa por
escrito. Adentramos o domnio pouco desbravado pelas cincias
da linguagem de um poder da palavra que podemos denominar
de mgico, por exercer aes de evocao, de convocao e de
provocao.
O domnio mgico possui uma extenso vasta de variados
relevos, podendo situar-se nos campos literrios de todas as cul-
turas em seu grau mais civilizado e afastado da natureza; nesse
campo, o domnio mgico encontra-se restrito e domado. Pode
situar-se nos campos litrgicos de qualquer religio em graus que
vo do mais civilizado ao mais prximo da natureza, fundindo e
confundindo-se com ela em alguns casos. Pode tambm situar-se
nos campos ocultos das prticas de feitiaria por mais civilizada
que possa ser a cultura em superfcie, quando na verdade seus
expoentes cultivam formas de contato ou conexo com o natu-
ral que a civilizao insiste em renegar. Finalmente, o domnio
do mgico se estende aos campos do conhecimento popular, pe-
76
netrando o cotidiano e a prosa muitas vezes por processos de
vulgarizao dos conhecimentos litrgico e oculto anteriormente
citados.
A EVOCAO LITERRIA
Trataremos em primeiro lugar do campo literrio e da fora
evocatria da palavra. Isso no porque esse domnio de mani-
festao do mgico seja o mais importante ou o mais pregnante
na comunicao; ao contrrio, consideramo-lo o mais fraco de
todos, na medida em que ele se afasta da ordem natural da ade-
quao entre palavra e coisa. Nesse sentido, ele o mais civiliza-
do. Nele, a fora mgica da palavra se encontra em seu nvel mais
fraco, mais diludo e submetido s regras da esttica muito mais
do que s regras da aproximao entre natureza e cultura. Segun-
do Morin (1962), no processo do imaginrio literrio (o autor
se refere tambm ao imaginrio cinematogrco, mas o que nos
interessa aqui o poder da palavra desprovida de imagem visual):
H um desdobramento do leitor (ou espectador) sobre os perso-
nagens, uma interiorizao dos personagens dentro do leitor (ou
espectador), simultneas e complementares, segundo transferncias
incessantes e variveis. Essas transferncias psquicas que assegu-
ram a participao esttica nos universos imaginrios so ao mesmo
tempo inframgicas (elas no chegam aos fenmenos propriamente
mgicos) e supramgicas (elas correspondem a um estgio no qual
a magia est superada). sobre elas que se inserem as participaes
e as consideraes artsticas que concernem ao estilo da obra, sua
originalidade, sua autenticidade, sua beleza, etc. (Morin, 1962: 78)
77
Morin deixa claro que o processo do imaginrio literrio no
est plenamente inserido no campo da magia, mas est direta-
mente ligado a ele, sendo inframgico e supramgico. Tratar-se-ia
ento de uma degradao do mgico devida ao processo civili-
zatrio em que o homem se afasta gradualmente do seu perten-
cimento natureza para armar-se cada vez mais pertencente ao
universo da elaborao cultural racional e tcnica. Na concepo
moriniana, a palavra literria seria parte de um processo esttico
duplo de projeo/identicao pelo autor criador da obra em
um primeiro momento e pelo leitor fruidor da obra em um se-
gundo momento:
Entre a criao romanesca de um lado e a evocao dos espritos
por um feiticeiro ou um mdium, de outro lado, os processos men-
tais so, at um certo grau, anlogos. O romancista se projeta em
seus heris, como um esprito vodu que habita seus personagens, e
inversamente, escreve sob seu ditado, como um mdium possu-
do pelos espritos (as personagens) que invocou. (...) Esse universo
imaginrio adquire vida para o leitor se este , por sua vez, possudo
e mdium, isto , se ele se projeta e se identica com os personagens
em situao, se ele vive neles e se eles vivem nele. (op. cit. p.78)
Ao que parece, a passagem do mgico para o supramgico
enquanto superao do mgico no uso literrio da palavra
muito mais um fenmeno de civilizao e histria correspon-
dente evoluo ocidental do pensamento do que um fenmeno
psicofsico. Com efeito, em termos psicofsicos, a literatura um
processo medinico e zar
52
de onde nasce uma forma ectoplas-
mtica noolgica projetada e objetivada na interao autor-leitor
em um universo imaginrio. o que faz com que Madame Bo-
52 Palavra etiopiana que designa uma espcie de simulao sincera, a meio
caminho entre o espetculo, o jogo e a magia, analisada por Michel Leiris
em seu texto La possession et ses aspects thtraux chez les Ethiopiens de
Gondar publicado na revista Lhomme. Plon, 1958.
78
vary exista como uma referncia comum a toda uma gerao de
leitores franceses, com que Capitu seja a mulher mais polmica
da histria da literatura brasileira, Hamlet o lsofo dentro de
cada homem, etc. Podemos considerar que, quando os seres nas-
cem do encontro entre a fora da vontade criadora de um autor
e a fora da vontade imaginativa de um leitor, a evocao traz
vigncia uma matria fsico-noolgica na qual o componente
noolgico (psquico-mental-ectoplasmtico) determinante e
predomina. Para vigorarem, esses seres necessitam em primeiro
lugar da palavra potica, mas tambm da repetio e da ence-
nao que, na cultura ocidental se daro atravs das adaptaes,
interpretaes, crticas e da intertextualidade.
Para alm dos processos estticos e imaginrios, e supondo que
nossa linguagem no seja apenas o resultado de um processo civili-
zatrio mas sim de uma relao estabelecida em vrios nveis entre
natureza e cultura, qual seria a propriedade evocatria da palavra
literria e potica? Como se daria o poder criador evocatrio da
palavra em si mesma? Segundo o poeta Roberto Juarroz (2000), a
palavra evoca aquilo que ela nomeia: o ser das coisas. Indo alm da
designao que xa, paralisa e petrica, a palavra literria recupera
o ser das coisas. Um nome pode estar inadequado ou desgastado
pelo uso, ele pode referir-se somente aparncia supercial das
coisas. preciso ento encontrar a melhor congurao possvel,
o nome exato, aquele que nomeia o ser das coisas, aquele que ter
assim o poder de trazer a coisa evocada presena. A palavra liter-
ria assim encontrada poder ento fazer vigorar as coisas presena
dos leitores: um personagem, uma paisagem, um sentimento, uma
atmosfera, uma ideia, um objeto. Quando a palavra traz as coisas
vigncia, vemos, ouvimos, percebemos com os sentidos e reagimos
a essa vigncia. Por isso, podemos armar que a palavra literria
no apenas evoca, mas convoca e provoca. Nisso, ela perform-
tica tambm no nvel vertical da comunicao. O poder mgico
evocatrio da palavra no campo literrio est presente em obras de
todos os gneros, sejam elas orais ou escritas: poesia, dramas, co-
mdias, romances, contos, crnicas, textos jornalsticos literrios,
79
todos os gneros se prezam ao poder mgico da palavra evocatria.
Todos eles so suscetveis de transportar autores e leitores a univer-
sos desconhecidos, de lev-los a conhecer seres desconhecidos, lu-
gares imaginrios, universos construdos no intangvel limite entre
a realidade e a co.
A EVOCAO LITRGICA
Se na literatura, o poder mgico evocatrio da palavra pode
ser considerado fraco e diludo em um processo civilizatrio com-
plexo, no campo litrgico, ele se encontra em seu grau mais alto a
partir do momento em que ele possui uma dimenso religiosa en-
to colocada em primeiro plano. De fato, o termo liturgia, leit
(de las, povo) e urga (trabalho, ofcio) signica servio ou
trabalho pblico. Por extenso de sentido, passou a signicar
tambm, no mundo grego, o ofcio religioso, na medida em que
a religio no mundo antigo tinha um carter eminentemente p-
blico. Na religio catlica, parte principal da liturgia da palavra
constituda pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que
ocorrem entre elas, sendo desenvolvida e concluda pela homilia,
a prosso de f e a orao universal ou dos is. Pois nas leituras
explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela o mistrio
da redeno e da salvao, e oferece alimento espiritual; e o pr-
prio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos is.
Pelo silncio e pelos cantos, o povo se apropria dessa palavra de
Deus e a ela adere pela prosso de f; alimentado por essa pala-
vra, reza na orao universal pelas necessidades de toda a Igreja e
pela salvao do mundo inteiro.
No mbito religioso, o poder evocatrio da palavra se encon-
tra submetido s condies da crena religiosa, Ou seja, sem a
crena, nada evocado. Com a crena nos princpios da religio,
ouvir a palavra de Deus ouvir o prprio Cristo que proferiu
suas palavras, sendo que a participao de um leitor ou de algum
para fazer a leitura do texto pouco relevante. O leitor pblico
cumpre apenas uma funo tcnica de transmisso, funo que
80
deve alcanar um certo grau de qualidade. Nesse sistema cristo,
o poder emana exclusivamente da palavra e no da voz, nem do
corpo, nem da pessoa que a profere.
O termo liturgia nasce com as religies judaico-crists, mas
ele se estende a todas as outras religies, uma vez que todas elas
possuem palavras que servem para ociar os ritos coletivos e p-
blicos dos seus seguidores. Em todos eles, a palavra tem o poder
de trazer presena dos is a divindade ou santidade evocada,
podendo at se tratar de meros espritos no caso das religies ditas
animistas (aquelas que acreditam que todos os seres vivos so do-
tados de esprito e capazes de manifestar-se atravs da atividade
medinica de algum).
Em algumas culturas que no foram subjugadas pela razo
ocidental, o fenmeno da palavra litrgica dicilmente obser-
vvel de forma isolada das outras matrizes da linguagem humana
(o corpo, os gestos, a voz e suas inexes e entonaes, a dana,
a msica, etc.). ento que consideramos extremamente difcil
tratar as palavras como palavras quando seus usurios as tratam
de maneira diferente, como uma realidade distinta do que ns
chamamos comumente e cienticamente de palavra. Isso poder
ser melhor explicitado atravs de exemplos de algumas culturas
que nos foram descritas por antroplogos ocidentais, mas tam-
bm de exemplos observados por ns. Com relao a essas cultu-
ras, Jlia Kristeva (2007) explica:
O universo com a fala nele includa organiza-se como uma imensa
combinatria, como um clculo universal carregado de valores mi-
tolgicos, morais, sociais, sem que o locutor isole o ato de signicar
o seu verbo num exterior mental. Esta participao da lingua-
gem no mundo, na natureza, no corpo, na sociedade de que est
no entanto praticamente diferenciada e na sua completa siste-
matizao talvez constitua o trao fundamental da concepo da
linguagem nas sociedades ditas primitivas. (Kristeva, 2007: 73)
81
Vemos ento que o ato de signicar em algumas culturas
no uma realidade apartada do real, situada num exterior men-
tal. A linguagem participa do mundo, do corpo, da sociedade,
da natureza. Embora sirva para falar, o que supe uma distncia
em relao s coisas, ela tambm uma fora motriz do mun-
do, do corpo e da natureza. esse segundo aspecto que faz das
culturas ditas primitivas, culturas poticas onde a palavra possui
uma fora motriz que se exerce atravs do homem visto que a
linguagem atributo humano, mas que inseparvel do resto
da natureza: o corpo do homem e os corpos dos objetos, seres e
realidades nomeadas, a prpria natureza.
Nas prticas litrgicas das religies afro brasileiras tais como
o Candombl e a Umbanda, o fato de pronunciar entoando se-
gundo um ritmo preciso os Orins, ou cantos litrgicos em lngua
africana referentes a cada entidade cultuada, pode bastar para
que as pessoas presentes e envolvidas pela sua crena religiosa
se ponham a danar e a sentir-se atravessadas e possudas pelas
entidades evocadas. Ocorre ento o transe que pode ser compre-
endido como um fenmeno participativo onde o homem j no
se distingue mais da divindade que passa a habit-lo, assim como
ela habita a natureza. Os movimentos corporais ento correspon-
dem no a uma coreograa ensaiada, nem a movimentos aleat-
rios, mas aos movimentos naturais da entidade (se ela for ligada
gua por exemplo, os movimentos sero circulares e ondulantes,
se ela for ligada ao ar, os movimentos sero espiralares, etc.). Os
gestos e a forma como o mdium em transe se desloca no espao
podero tambm signicar aquilo que a entidade veio fazer em
meio aos homens, o porqu dela se manifestar: um pedido, um
auxlio, uma ddiva, etc. Segundo Rosamaria S. Brbara, socilo-
ga da USP e pesquisadora das danas dos Orixs, nesse contexto
sagrado:
A dana tem um sentido particular porque a expresso da divin-
dade e da identidade mais verdadeira da lha ou lho de santo.
Cada um possui a prpria identidade sonora, o prprio duplo no
82
Orum, que o el encontra no momento da possesso e que aprende
a reconhecer e a conhecer atravs da dana e da msica. (In: Mar-
tins e Lody, 1999:163)
A identidade sonora qual a pesquisadora se refere pode
ser percebida na msica e nas sonoridades das letras dos cantos
sagrados.
Nesse tipo de ato litrgico h, portanto, dois momentos: o
momento da evocao e o da escuta e interpretao. Trata-se,
de fato, de um modo de comunicao interativa entre o mundo
dos deuses e espritos e o mundo dos humanos. Diferentemente
do que acontece nas religies monotestas, onde o Deus ni-
co, absoluto e distante, nas religies politestas e animistas, os
deuses e espritos vivem prximos aos humanos. Na verdade,
no h propriamente separao entre esses dois universos, uma
vez que todos vivem e participam de uma mesma natureza in-
terconectada. Nessa perspectiva, as oraes e os cantos tm um
efeito imediato de conexo com a realidade evocada. Talvez seja
o que faz com que, na cultura brasileira impregnada de suas
matrizes africana e indgena, as oraes coletivas, os hinos e
cnticos entoados em qualquer igreja, independentemente dos
princpios religiosos seguidos, possuam um efeito de comuni-
cao com o sagrado muito rapidamente alcanado. A palavra
cantada, ritmada e repetida como a das oraes, dos cnticos,
louvores e hinos, assim como as poesias so verdadeiros encan-
tamentos de alto poder evocatrio.
O PODER EVOCATRIO EM FEITIARIA
O antroplogo James Frazer, em sua obra clssica O Ramo de
ouro (1915), j havia vericado que em vrias tribos ditas primiti-
vas o nome pode servir de intermedirio - tal como os cabelos, as
unhas ou qualquer outra parte da pessoa fsica para fazer atuar
a magia sobre essa pessoa. Entramos aqui no terceiro campo de
atuao mgica da palavra: as prticas ocultas de feitiaria. Aqui,
83
adentramos uma compreenso da palavra que parece escapar to-
talmente concepo representacional e tridica do signo (signo,
signicante, signicado). A palavra performtica porque ela
aquilo que nomeia. Assim como a unha e o cabelo so a pessoa
que se quer atingir com a magia, o nome tambm o . A lingua-
gem uma matria consistente, a tal ponto que as semelhanas
fnicas so o indcio de semelhana dos signicados e dos re-
ferentes. Essa relao entre nome e coisa se verica em muitas
culturas, como atesta o estudo de Kristeva (2007):
Para o ndio da Amrica do Norte, segundo esse mesmo autor [Fra-
zer], o nome no um rtulo, mas uma parte distinta de seu corpo,
como o olho, o dente, etc., e por conseguinte, o mau tratamento de
seu nome atinge-o como um ferimento fsico. Para salvaguardar o
nome, fazem-no entrar num sistema de interdies ou de tabus. O
nome no deve ser pronunciado, pois o ato de sua pronunciao/
materializao pode revelar/materializar as propriedades reais da
pessoa que o usa, e torn-la assim vulnervel aos olhos de seus ini-
migos. Os Esquims tinham um nome novo quando se tornavam
velhos; os Celtas consideravam o nome como sinnimo da alma e
da respirao; entre os Yuins da Nova Gales no Sul da Austrlia,
e entre outros povos, sempre segundo Frazer, o pai revelava seu
nome ao lho no momento da iniciao, mas poucas pessoas o
conheciam. Na Austrlia, esquecem-se os nomes, trata-se as pessoas
por irmo, sobrinho, primo... Os Egpcios tambm tinham dois
nomes, o pequeno que era bom e reservado ao pblico e o grande
que era mau e dissimulado. (2007: 63)
E so muitos os povos que mantinham - e por vezes ainda
mantm com o nome esse tipo de relao. Nomes de maridos
que as mulheres eram proibidas de pronunciar, nomes dos mor-
tos que nunca deviam ser falados, nomes de reis e personagens
sagradas proibidos, nomes de animais ou plantas perigosas cuja
pronunciao equivaleria a invocar o prprio perigo, etc.
84
Para no restringirmos os exemplos a culturas extintas, tome-
mos os atuais terreiros de Umbanda e Candombl do Brasil, onde
os Iniciados recebem vrios nomes: um que de uso pblico e
profano, outro de uso litrgico, utilizado apenas no decurso de
ritos, e um terceiro que mantido em segredo e revelado somente
aps sete anos, quando o Iniciado adentra um nvel mais alto de
sua formao sacerdotal. Somente ele e o Pai de Santo detm ento
o segredo do nome inicitico. Durante os sete anos de seu percurso
inicitico, o nome mantido em segredo carregou-se de um poder
sagrado, ligado a sua essncia e de seu Orix. O Iniciado con-
rmado poder ento us-lo quando de prticas secretas ligadas
continuidade de seu percurso de formao e exerccio sacerdotal.
Em feitiaria, alm do poder do nome como meio de se
atingir a pessoa a ser enfeitiada (chamado de endereo vibrat-
rio pelo fato de vibrar em consonncia com as sete matrizes da
natureza que correspondem s sete notas musicais), as palavras
tambm possuem poder nas frmulas mgicas, ou encantamen-
tos, frases pronunciadas segundo preceitos precisos para se obter
efeitos especcos. Os preceitos, assim como os prprios encan-
tamentos, so geralmente mantidos em segredo e conhecidos
apenas entre os membros de uma mesma escola ou tradio
magstica, porm, os estudos de Frazer revelam alguns deles. Ge-
ralmente, dizem respeito ao tom da voz, ao nmero de vezes em
que as palavras devem ser proferidas, localizao exata, con-
gurao astral, e a outras precises de ordem natural e csmica.
Os instrumentos, as ervas, os animais e outras substncias
e objetos utilizados em prticas de feitiaria tambm possuem
nomes secretos que no devem ser utilizados em outros contextos
que o prprio ato mgico, de maneira a preservar o poder desses
objetos e substncias. Somente quando os objetos so manusea-
dos com nalidade mgica, os nomes so pronunciados de ma-
neira a potencializar a sua fora.
Mesmo quando no se trata de frmulas mgicas nem de
palavras secretas e ritualsticas, as palavras que servem a expressar
um desejo, formular um pedido ou rogar uma praga adquirem
85
um poder equivalente intensidade colocada no desejo, no pe-
dido, na praga. Em magia, a fora colocada na voz traduz a fora
de vontade do feiticeiro ou daquele que pratica o ato mgico,
sendo portanto fundamental para o bom xito da encomenda.
Na formulao, o ritmo, a repetio, a harmonia dos sons, assim
como o estado de concentrao do praticante so ingredientes
essenciais realizao da magia.
Vemos portanto que as palavras no so um elemento isolado
que serve para designar ou mesmo enunciar o que se veio fazer no
sentido Austiniano do dizer fazer; o que vericamos que as
palavras so parte de uma imensa combinatria, como um cl-
culo universal carregado de valores mitolgicos, morais, sociais,
sem que o locutor isole o ato de signicar o seu verbo num
exterior mental (Kristeva, op. cit.). Em feitiaria, a palavra um
dos elementos de um conjunto harmnico de poderes dados ao
humano que, como parte ativa da natureza, atua nela em funo
de seus interesses e de suas buscas.
Genevive Calame-Griaule (1965) diz que para os Dogons
povo do sudoeste da foz do Nger o termo equivalente a lin-
guagem designa:
A faculdade que distingue o homem do animal, a lngua no sentido
saussuriano do termo, a lngua de um grupo humano diferente da
de um outro, a palavra, o discurso e as suas modalidades: sujeito,
questo, discusso, deciso, juzo, narrativa, etc., mas tambm [...]
a ao, a empresa.
J o termo fala o:
resultado do ato, a obra, a criao material que dela resulta como a
enxada forjada, o pano tecido, etc. estando o mundo impregnado
de fala e sendo a fala o mundo, os Dogons elaboram sua teoria da
linguagem como uma imensa arquitetura de correspondncias en-
tre as variaes do discurso individual e os acontecimentos da vida
social. H 48 tipos de falas decompostas em 2 vezes 24, o nmero-
86
chave do mundo[...] Os diversos elementos que compem a fala
encontram-se no corpo em estado difuso, particularmente sob a
forma de gua. Quando o homem fala, o verbo sai sob a forma de
vapor, visto que a gua da fala foi aquecida pelo corao... (Apud
Kristeva, 2007: 69)
Kristeva relata que concepes parecidas so encontradas en-
tre diversos povos da frica e povos indgenas das Amricas, onde
h sempre uma relao material entre o corpo, a fala e os quatro
elementos csmicos: gua, terra, fogo e ar. A linguagem portanto
no uma abstrao, mas participa de todo o sistema ao mesmo
tempo natural e social em que o ser humano evolui.
MAGIA E IMAGINRIO POPULAR
O quarto mbito da vida social em que a palavra mgica atua
efetivamente o campo do conhecimento popular. Esse domnio
importante porque ele constitui um elo de ligao entre um
conhecimento dito primitivo em suas concepes de linguagem
as que acabamos de apresentar e um conhecimento civilizado
que concebe o poder da linguagem como infra e supramgico,
atuando unicamente no nvel do imaginrio, atravs da palavra
literria, sendo a categoria do imaginrio apartada da realidade.
Entre essas duas concepes est o conhecimento popular que
muitas vezes deriva das antigas tradies religiosas e se encontra
designado como supersticioso nas nossas civilizaes modernas.
possvel, no entanto, que a civilizao miditica, hbrida e
hipermoderna reabilite o supersticioso na categoria do popular
ou do massicado.
Se no mbito religioso o poder mgico se encontra sub-
metido s condies da crena religiosa, no mbito do conhe-
cimento popular, a condio de possibilidade do mgico reside
na transmisso da memria coletiva ancestral. Independente das
religies e de seus princpios, o conhecimento popular baseia-se
na transmisso oral. Provrbios, locues, chaves, clichs, m-
87
ximas, aforismos, adivinhas, cantigas, versos so as formas de um
conhecimento potico que revela a adeso popular ao mgico na
cultura, por mais civilizada e moderna que seja sua sociedade.
exatamente pela transmisso oral que os conhecimentos mais
antigos, mais arcaicos e primitivos se mantm vivos e atuantes
numa cultura. Arquivos que desaam toda e qualquer tecnologia
moderna, os conhecimentos orais se utilizam de tcnicas de me-
morizao anteriores escrita: o canto, a repetio, a versicao,
a rima, a imagem mental, o jogo, o gesto.
Um dos resultados de todas essas tcnicas de memorizao
a perenidade do pensamento mgico antigo, arcaico, prime-
vo, atvico. O homem das cavernas pinta na rocha um bfalo
em um ato mgico ritualstico de evocao de foras antes de
enfrentar os perigos da caa, o homem civilizado de qualquer
cultura das mais desenvolvidas bate trs vezes na madeira para
isolar-se de um pensamento negativo ou de uma palavra in-
consequentemente pronunciada, cruza os dedos nas costas cha-
mando a sorte, desvira o po sobre a mesa, evita passar debaixo
de uma escada, etc. Ele no acredita no que est fazendo, no
encontra argumentos lgicos, mas continua fazendo porque
aprendeu, porque viu os mais antigos fazerem, porque algum
ensinou que assim devia se fazer.
Na cultura popular brasileira, fortemente inuenciada pelas
suas matrizes indgenas e africanas, o poder da palavra pronun-
ciada imenso. Ele atua de diversas formas: na praga rogada, no
pensamento positivo, na utilizao de apelidos e diminutivos, na
proibio de algumas palavras perigosas, nas expresses de con-
trafeitio, etc. Para tratar delas, identicamos trs categorias: o
enfeitiamento pela palavra, os contrafeitios e os tabus.
O pensamento positivo baseia-se na crena de que tudo o
que se concebe mentalmente possui sua contraparte material e
espiritual. Ou seja, se algum tem uma ideia negativa, atrai para
si a negatividade da ideia, tal negatividade pode se manifestar
em seu corpo na forma de doena ou em seu esprito na forma
de maus uidos, azar, etc. Da mesma forma, aquele que emana
88
mentalmente ideias positivas de felicidade, alegria, paz e bem,
por exemplo, atrai para seu corpo e seu esprito a positividade da
ideia. uma das razes pelas quais as pessoas quando se encon-
tram procuram demonstrar alegria, felicidade e bem-estar umas
para as outras, sendo que a tristeza, a melancolia, a raiva e a in-
veja so muito mal vistas e devem ser, seno evitadas, ao menos
mascaradas. Como no se sabe se os outros esto sempre sendo
sinceros ao demonstrarem seus sentimentos, comum as pessoas
terem em suas casas ou portarem consigo plantas ou objetos que
absorvem ou repelem os uidos negativos provindos dos outros,
preservando-se das ms inuncias.
Se os pensamentos emanam uidos negativos e positivos,
quem dir as palavras. As palavras enfeitiam. O melhor exemplo
de enfeitiamento negativo a famosa praga rogada, ou seja,
uma maldio, um desejo negativo, como o desejo de runa por
exemplo, pronunciado em voz alta por algum, com toda sua
fora de vontade. Como exemplo, posso contar o caso se uma
moa de 36 anos, que trabalhava de domstica e me disse: Minha
av por parte de pai no gostava de mim, um dia, ela me rogou uma
praga, disse que meu destino era virar prostituta. Passei minha vida
inteira lutando contra essa praga. Por isso no tenho homem, nunca
casei, no tenho lhos, trabalho como domstica e nunca vou sair
da linha. No quero que ningum se d o direito de dizer que sou
prostituta. , minha lha! Praga rogada pega! forte! Se a pessoa
no lutar contra, a praga pega. Seria interessante fazer um estudo
mais aprofundado das pragas rogadas. Mas o que nos interessa
por enquanto aqui apenas entender o princpio: uma frase pro-
nunciada em voz alta, como um desejo negativo, e com a fora
da vontade de quem a pronuncia, concretiza-se na vida material
e/ou espiritual de algum, exatamente como nas prticas ocultas
de magia.
Outro enfeitiamento negativo muito comum o xingamen-
to. O princpio do xingamento o seguinte: ao se ver atribuir
por algum um nome, geralmente de conotao sexual ou moral
vulgar, a pessoa se sente literalmente afetada por esse nome. Ela
89
ento no somente se sente ofendida, como sua pessoa se encon-
tra associada ao sentido do xingamento. Quanto mais o xinga-
mento for pronunciado com intensidade e acompanhado de ges-
tos, mais poderoso ser o feitio. Imaginrio popular? Realidade
cientca? Pouco importa, o que importa aqui o que acontece.
Pragas so rogadas, pessoas so xingadas. E consequncias se ve-
ricam em suas vidas.
Para se defender dos feitios do dia-a-dia, existem tambm
palavras adequadas. As expresses populares vira essa boca para
l ou bata na boca pronunciadas logo aps algum proferir
uma palavra indesejvel tm essa funo de repelir o efeito mgi-
co daquilo que foi dito. Exemplo de dilogo: Menina, voc vai
morrer de tanto fumar, Vira essa boca para l!. Outro exem-
plo: Acho que no vai chover to cedo, Bata na boca. Aqui,
ca clara a aluso fora da palavra que sai pela boca e cujo sopro
pode ter um efeito devastador. Ao contrrio, as expresses Se
Deus quiser ou Deus te oua tm a funo de reiterar o efeito
mgico positivo de uma expresso. Tomara que amanh cho-
va., Deus te oua. Por trs da aparente superstio, esconde-se
a concepo de um universo de foras interconectadas no qual a
linguagem no uma abstrao, mas participa de todo o sistema
ao mesmo tempo natural e social em que o ser humano evolui.
Existem tambm palavras tabus na sociedade. A palavra Cn-
cer uma das que no devem ser pronunciada porque pronunci-
la atrai a prpria doena. No lugar, usa-se a doena aquela do-
ena ou at a sigla C.A., eventualmente, abaixa-se o tom da voz
para falar o nome da doena. Os nomes prprios de pessoas de que
no se gosta, que podem ser ex-maridos, ex-mulheres, superiores
hierrquicos, vizinhos, etc., so substitudos por nomes deprecia-
tivos como infeliz e desgraado, cuja carga de infelicidade ou
desgraa se dirigir pessoa designada. Nessa hora, o tom e a in-
tensidade da voz so muito importantes para que as pessoas sejam
de fato atingidas. Quanto mais fora de raiva, vingana, dio, etc.,
ser transmitida pela voz, mais chance de atingir a pessoa.
90
O pedido de bno s pessoas que tem funo de cuidar,
proteger tais como pai, me, madrinha, padrinho, tio, tia, av,
av ou mesmo padre, pai-de-santo, me-de-santo, etc. ao qual a
pessoa deve responder Deus te abenoe hbito praticado em
todas as camadas da sociedade. Ao formular o pedido de bno
e ao responder em voz alta Deus te abenoe bem o poder da
palavra que est sendo ativado, junto com o gesto, a entonao e
o sentido posto na palavra atravs da fora de vontade. Entrevis-
tei pessoas que dizem s sarem de casa aps pedir a bno dos
pais, porque sem isso, no se sentem protegidas.
Os exemplos so inmeros do poder mgico atribudo pala-
vra no conhecimento popular. Mais uma vez, esse conhecimento
real e atuante na sociedade. Mas o mais importante para ns
aqui que ele corresponde a uma concepo do mundo e da
linguagem distinta da concepo sgnica representacional. Uma
concepo que qualicamos como mgica, mas tambm mtica
e potica. Esses trs aspectos so inseparveis simultneos e com-
plementares, por questes de apresentao lgica, tivemos que
trat-los separadamente. Agora que analisamos o componente
mgico da linguagem, poderemos, em pesquisas subsequentes,
dar continuidade a este trabalho, analisando o mtico e o potico,
a m de mostrar as conexes e as zonas de interseco e articula-
o entre eles.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AUSTIN, J. L. How to Do Things With Words. Oxford: Oxford Uni- Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1962.
BOHM, D. Totalidade e a ordem implicada. So Paulo: Madras, 2008.
FRAZER, J. O Ramo de ouro. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1982.
JUARROZ, R. Poesa y creacin. Buenos Aires: Carlos Lolh, 1978.
91
KERBRAT-ORECCHIONI, C. Os atos de linguagem no discurso. Rio
de Janeiro: Eduff, 2001.
KRISTEVA, J. Histria da linguagem. Lisboa: Edies 70, 2007.
LEIRIS, M. La possession et ses aspects thtraux chez les Ethiopiens
de Gondar. Lhomme. Plon, 1958.
MARTINS, C. e LODY, R. Faraimar: o caador traz alegria. Rio de
Janeiro: Pallas, 1999.
MORIN, E. Cultura de massas no sculo XX. Rio de Janeiro: Forense,
1962.
SEARLE, J. Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind. New
York: Cambridge University Press, 1983.
6. A cincia no imaginrio miditico
Lavina Madeira Ribeiro
53
MDIA, CINCIA E IMAGINRIO
O tema da presente reexo consiste no lugar, cada vez mais
central, que a cincia ocupa no imaginrio social contemporneo
como critrio de verdade para prticas, valores e concepes de
realidade. A mdia participa ativa e cotidianamente deste proces-
so, sedimentando a cincia como instncia privilegiada na din-
mica de suas representaes.
Tal assertiva resulta, em particular, da anlise das representa-
es simblicas produzidas pela programao da televiso fecha-
53 Professora Adjunta IV, da Faculdade de Comunicao da Universidade de
Braslia - UnB. Membro do Colegiado do Programa de Mestrado e Dou-
torado. Doutora em Cincias Sociais pela Unicamp-SP e Ps-doutora pela
ECO/UFRJ. Autora de inmeros artigos e com dois livros lanados em
maio de 2004, Imprensa e Espao Pblico A Institucionalizao do Jornalis-
mo no Brasil 1808-1960, RJ, E-Papers, 384p. e Ensaios sobre Comunicao,
Cultura e Sociedade Debates Contemporneos, RJ, E-Papers, 364p.
94
da brasileira
54
, cuja diversidade de gneros e contedos consti-
tui um celeiro de explorao permanente de novas fronteiras do
imaginrio social. Parte signicativa e crescente destes contedos
tem a cincia como fonte de validao discursiva. Est presente
em gneros diversos como o informativo, o publicitrio, o do-
cumental e o ccional. Invade desde as regies mais veladas da
intimidade ao funcionamento das instituies sociais. A cincia
racionaliza a compreenso da natureza e da experincia humana,
alimentando, por sua vez, uma congurao fortemente utilita-
rista do imaginrio social. Isto pe em relevo as condies de
possibilidade da ao humana, a fora mobilizadora e formativa
deste imaginrio social, o poder inerente s suas representaes, o
reforo, como diz Baczko, da dominao efetiva pela apropria-
o dos smbolos, a garantia da obedincia pela conjugao das
relaes de sentido e poderio (Baczko, 1985: 299)
A televiso fechada brasileira foi criada com a nalidade de
ampliar o espectro de mensagens disponveis ao telespectador
nacional, a partir de premissas fundadas na busca do enriqueci-
mento, da diversicao e maior aprofundamento das represen-
taes da experincia social contempornea, em especial, daquela
relativa ao pas e s suas imensas diferenas, desigualdades e par-
ticularidades scio-econmicas, polticas e culturais. De acordo
com o Artigo 3, da Lei que criou o assim chamado Servio
de TV a Cabo, sua destinao seria promover a cultura uni-
versal e nacional, a diversidade de fontes de informao, o lazer
e o entretenimento, a pluralidade poltica e o desenvolvimento
social e econmico do Pas.
55
Este novo sistema televisivo, en-
54 Resultados parciais da pesquisa Padres Culturais Hegemnicos na Te-
leviso Fechada Brasileira, realizada no mbito do Grupo de Pesquisa
Cultura, Memria e Desenvolvimento, UnB, 2008/9.
55 Lei 8.977, de 6 de janeiro de 1995. Para tanto, foram previstos, no mbito
desta Lei, a obrigatoriedade de canais no apenas de livre programao,
mas tambm um conjunto de canais de origem e nalidade ligadas trans-
misso de mensagens de natureza educativa, cultural, poltica e de utilida-
95
tretanto, conquistou uma restrita, porm signicativa, audin-
cia de cerca de 7,5% da populao do pas
56
, com programaes
audiovisuais oriundas dos grandes produtores norte-americanos
e alguns europeus. E, deste modo, inaugurou a entrada efetiva
de uma parcela importante do pblico brasileiro em uma esfera
de comunicao global. No ambiente brasileiro de televiso fe-
chada, operadoras vinculadas s Organizaes Globo detm mais
de 75% das assinaturas
57
, congurando um quadro de evidente
monoplio no setor. A maioria dos seus canais oferecem progra-
maes oriundas primordialmente dos EUA (cerca de 85%) e os
demais transmitem programaes oriundas da Inglaterra, Itlia,
Espanha, Alemanha e Amrica Latina.
Imaginrio e sujeito se constituem mutuamente nos limites
de um tempo histrico. As instituies miditicas j se desenvol-
veram ao ponto de manter um sosticado sistema de produo
de sentido, de valores, comportamentos e prticas. Num processo
que resulta em forte padronizao de estilos de vida e formas
de concepo da realidade. Isto leva formao de imaginrios
ancorados em modelos produzidos articuladamente pelos diver-
sos sistemas de comunicao e que tendem a generalizar consen-
sos sobre tematizaes levadas esfera pblica miditica. Nestes
de pblica, tais como os canais bsicos e de utilizao pblica (oriundos
do circuito aberto), canais gratuitos destinados a prestao de servios (co-
munitrios, religiosos, parlamentares e educativos), assim como canais des-
tinados a prestao eventual de servio, mediante remunerao, e canais
destinados prestao permanente de servio, destinados transmisso
e distribuio de programas e sinais a assinantes, mediante contrato, de
forma permanente, em tempo integral ou parcial.
56 Pblico de maior poder aquisitivo do pas, entre as classes A e B, com
posies privilegiadas no sistema produtivo, nas instituies polticas e cul-
turais do pas, posies de deliberao, formulao de polticas pblicas,
de investimento e movimentao de grande parte da riqueza nacional. For-
madores de opinio, de estilos de vida, padres de comportamento. Dados
Tela Viva, www.telaviva.com.br, acesso outubro de 2009.
57 Operadoras NET e SKY.
96
termos, sujeito, suas prticas e o imaginrio que os orienta, na
interao com a esfera miditica, sofrem limitaes prprias
natureza destes consensos provisria e continuamente criados,
mantidos e transformados nos processos formativos de padres
identitrios hegemnicos.
Nas representaes dos programas de expressiva audincia na
televiso fechada brasileira, por mais que a inteno e a abordagem
sejam de cunho cientco, nos elementos formais mobilizados para
constru-las, como enquadramentos, planos, tomadas, iluminao,
entre outros, so incorporadas variveis estticas que atribuem a
estas representaes uma carga emocional, um apelo sensorial que
ultrapassa a assepsia da linguagem cientca. Tais representaes
so dotadas de apelos emocionais e afetivos capazes de gerar pro-
cessos de identicao e familiaridade com os imaginrios sociais.
Segundo Giddens, a identidade se ancora no que ele denomi-
na de colonizao do futuro (Giddens, 1992: 275) onde o passado
se apresenta como objeto a ser reinventado, nos limites internos
de desenvolvimento dos seus sistemas abstratos de conhecimen-
to. Ocorre o que ele chama de sequestro da experincia, ou seja,
um processo produzido pelas instituies sociais que traduz em
termos tcnicos questes morais bsicas inerentes condio
humana (sexualidade, loucura, morte, criminalidade, doena e
natureza). Esta a dimenso de vigilncia e de controle das insti-
tuies sociais sobre as prticas e autorrepresentaes dos indiv-
duos, a qual consiste em garantir aos indivduos as bases de sua
necessria segurana ontolgica, responsvel pela administrao
das crises existenciais individuais, pela consolidao de uma per-
manente conana nos sistemas abstratos, pelo desencadeamento
da agncia humana e aceitao da realidade.Isto cria uma esfera
de inuncias sociais em parte incontrolveis pelos indivduos e em
parte apropriveis por eles e sujeitas a redenies, num movimen-
to que ao mesmo tempo conferem poderes aos indivduos para o
gerenciamento de suas trajetrias e lhes negam a possibilidade de
vivenciar seus impasses morais dentro de um campo imaginativo
diversicado.
97
As instituies de comunicao sustentam, de forma hegem-
nica e exaustiva, a tematizao da vida cotidiana com base nestes
sistemas abstratos, no discurso cientco. Esta , por excelncia, a
fala autorizada no mbito da publicidade miditica para legitimar
e consolidar modelos de sociabilidade e de interao social e, as-
sim como para mobilizar imaginrios sociais capazes de alimentar
a formao de identidades.
Para Giddens, o conhecimento cientco tem substitudo a
tradio no movimento de busca dos indivduos por fontes de se-
gurana ontolgica. A insegurana gerada pelas transformaes so-
ciais e suas rupturas de estruturas tradicionais enfrentada pela ab-
soro de sistemas abstratos de conhecimentos teorias, conceitos
e descobertas que, apesar de volteis, mantm nveis aceitveis de
segurana e ordem. Segundo Giddens, em todas as sociedades, a
manuteno da identidade pessoal, e sua conexo com identidades
sociais mais amplas, um requisito primordial de segurana on-
tolgica.(Giddens, Beck, Lash, 1994: 100) As sociedades atuais,
enquanto sociedades ps-tradicionais, enfrentam as incertezas da
vida incorporando o conhecimento especializado desde o mbito
mais ntimo da vida privada quele da vida pblica.
58
Esta apro-
priao se impregna na experincia da vida cotidiana, nos estilos
de vida, na esfera do trabalho, assim como nos imaginrios so-
cialmente compartilhados.
Esta concepo da reexividade ancorada em sistemas es-
pecialistas uma armao categrica com ambio explicativa
sobre os mecanismos operativos e dinamizadores da vida social.
Assusta, de certo modo, crer que esta dinmica tenha, como re-
58 Segundo Giddens, o mais importante de tudo que a conana nos siste-
mas abstratos est ligada a padres de estilo de vida coletivos, eles prprios
sujeitos a mudana. (...) Nas sociedades modernas as escolhas de estilo
de vida so ao mesmo tempo constitutivas da vida cotidiana e ligadas a
sistemas abstratos (...) As alteraes nas prticas de estilo de vida podem-
se tornar profundamente subversivas dos sistemas abstratos centrais. A.
Giddens et al., idem, p. 112.
98
curso central, sistemas cientcos cujos critrios evolutivos nem
sempre respeitam limites ticos e humanistas. Para Giddens, a
cincia, os sistemas abstratos e a tecnologia tm papel central
na experincia, no modo como indivduos leigos se atualizam
sobre questes de relevncia pessoal e pblica. Ele se baseia em
evidncias advindas, seja do modo como o mundo sistmico,
econmico e tecnolgico absorve suas crises, como diz Haber-
mas, autoaplicando retroativamente procedimentos resultantes
de suas prprias leis internas, sem prestar contas s repercusses
de seus sistemas funcionalmente diferenciados para setores mais
amplos da sociedade, seja em razo do recurso ao conhecimen-
to cientco como fonte legitimadora da discursividade pblica
poltica e comunicativa, por mais provisrios, parciais e super-
ciais que sejam os termos deste recurso. Segundo ele, a cincia
tem-nos colocado diante de situaes novas onde tradicionais
fundamentos morais e ticos so questionados do ponto de vis-
ta de sua imanncia natureza humana. Fixar tais parmetros,
na atualidade, depende de uma vontade discursivamente mani-
festa em esferas pblicas, onde a mdia tem grande relevncia.
(Habermas, 2004: 46)
As sociedades primitivas possuam mecanismos restritivos e
autorreguladores de natureza religiosa e mtica que se faziam oni-
presentes e capazes de controlar a conduta dos seus membros. O
mesmo ocorre, de forma to restritiva e intensa, nas sociedades
atuais, pelo imperativo da cincia, por mais que seus smbolos
provisrios, mutveis e falveis sejam criaes de seus membros,
eles tm correspondncia com os smbolos e mitos do imaginrio
primitivo. E a mdia cumpre uma nalidade institucional funda-
mental ao ser a instncia que reverbera, para todo o tecido social,
os smbolos, os valores, os padres comportamentais, os sistemas
explicativos da racionalidade tcnico-cientca e assim promo-
vem a regulao, a integrao e relativa estabilidade do processo
social. Vive-se, de certo modo, sob o encantamento mgico
de signicaes coletivizadas pelas instituies miditicas, com
grande fora civilizatria sobre processos identitrios, de indi-
99
viduao e dos contornos e limitaes da dinmica das represen-
taes do imaginrio social.
Na relao entre tempo e imaginrio, o primeiro atua como
mecanismo demarcador de padres correlatos ao decorrer da
maturao fsica dos indivduos, o segundo orienta as aes hu-
manas dentro de uma realidade imaginada socialmente. A cada
etapa deste processo, corresponde um conjunto de referenciais
simblicos valorativos, prticas culturais, auto-imagens com
exigncias de autocontrole amplamente tematizadas na produ-
o segmentada, dirigida e diversicada da mdia. Necessidades,
dvidas, expectativas, emoes, carncias, ambies e riscos de
cada fase so os temas recorrentes da representao miditica da
experincia humana.
No entender de Elias, a vida nas sociedades contemporneas
marcada com preciso. H uma coordenao numrica de or-
dem temporal que semanticamente atua ao ser utilizada como
uma designao simblica abreviada de diferenas biolgicas,
psicolgicas e sociais bem conhecidas. Ela, segundo ele, desem-
penha um papel importante no sentimento de identidade pessoal
e de sua continuidade atravs do que denominamos de curso do
tempo (Elias, 1998a: 57). A irreversibilidade do tempo uma
varivel estvel que confere validade e pertinncia aos processos
signicativos e imaginativos correspondentes a cada fase do de-
correr desta ordem temporal inevitvel.
Entende-se, assim, como tais marcaes favorecem a legi-
timao argumentativa de prescries comportamentais, valo-
rativas e racionalizadoras do autoentendimento dos indivduos
acerca de sua mortalidade oferecidas continuamente pela mdia,
cuja sosticao simblica na atualidade a torna capaz de abran-
ger todo o arco do tempo de uma vida humana, desde a tenra
infncia, onde so oferecidas programaes infantis, histrias em
quadrinhos, aconselhamentos psicolgicos para pais e outros g-
neros de produes miditicas, at a idade avanada. Para cada
momento deste percurso temporal irreversvel, a mdia oferece
um acervo de sistemas abstratos referenciais capazes de garantir o
100
autocontrole, a racionalizao da experincia e a relativa integra-
o dos indivduos no interior da teia social.
Segundo Durand, a imaginao simblica a negao da
morte: o smbolo surge como restabelecedor do equilbrio vital
comprometido pela noo de morte (Durand, 1988: 100). A
cincia assume nos dias atuais, de certo modo, idntica funo,
contraditoriamente racional e mtica, porque apresenta critrios
racionais para a ao apoiada em premissas que se propem ver-
dadeiras, porm mticas em sua pretenso de neutralidade.
CINCIA E IMAGINAO DA VIDA
O tema de maior explorao no universo simblico da televiso
fechada brasileira o da medicina. Isto se deve, segundo Beatriz Sarlo,
porque a democracia miditica insacivel em sua voracidade pelas
vicissitudes privadas que se transformam em vicissitudes pblicas.
(Sarlo, 1997: 123) Ela se faz presente em todas as fases da vida huma-
na, da sua gestao velhice. Por meio de gneros como documen-
trios, programas de auditrio e de entrevistas, cujas estruturas so
dinamicamente renovadas pela assimilao de elementos de outros
gneros, como o ccional e o noticioso, imagens, textos e msicas
abordam, por exemplo, a formao do ser humano ainda no tero,
com detalhes explicativos de todo o processo de surgimento e desen-
volvimento de cada parte do corpo, com lmagens feitas dentro do
tero materno. Tais imagens permitem visualizar de forma realista
um processo nunca antes visto. Acrescentam ao imaginrio contem-
porneo elementos que nos associam s demais espcies do planeta,
nos tornam cmplices da vida orgnica, capazes de assumi-la como
verdade intrnseca s leis da gentica e da ligao visceral com o ciclo
vital da natureza.
101
H programas dedicados ao nascimento.
59
A Chegada do Beb,
por exemplo, se passa no hospital, onde so acompanhados os partos.
Eles ressaltam a autoridade do mdico, seus procedimentos e deci-
ses, demonstrando o quanto este momento depende de sua pre-
sena, conhecimento e interveno, e de todo o aparato tecnolgico
hospitalar. As imagens nas salas de cirurgia expem a intimidade fe-
minina, partes de seus corpos, alm de suas dores, medos e dvidas,
reaes a medicamentos, assim como o prprio parto em si. So ima-
gens de forte realismo. Os programas so feitos em grandes hospitais
dos EUA, com uma sosticada ala obsttrica, muitos recursos fsicos,
instalaes higinicas, mquinas de monitoramento contnuo, alm
de mdicos, residentes e enfermeiras sempre presentes. Assistir a estes
programas deixa pouca ou nenhuma margem para a imaginao de
outras formas de dar luz que possam substituir a interveno mdi-
ca, a tecnologia e as instalaes hospitalares.
Depois de nascido, o programa Histria de um Beb, apre-
senta os procedimentos recomendados por pediatras, nutricionistas,
enfermeiras e psiclogos sobre os cuidado com o recm-nascido em
seus dias e meses iniciais de vida. As imagens ressaltam o contraste
entre a fragilidade do beb e a ecaz segurana dos especialistas,
demonstrando como a vida depende deles para se desenvolver. Os
papis da me e do pai so denidos dentro deste complexo de atores,
interligados entre si, criando laos de dependncia dos pais com os
prossionais de sade.
Para a infncia e adolescncia
60
h programas que orientam os pais
como corrigir e educar os lhos de modo a que internalizem va-
59 Canal Discovery Home & Health, programas como Maternidade, A Chega-
da do Beb e Histria de um Beb, apresentados semanalmente no horrio
entre 19 e 21 horas, quando as mes ainda esto acordadas e envolvidas com
os cuidados maternos de seus bebs, na NET e SKY, operadoras que detm a
maioria das assinaturas da televiso fechada no pas.
60 Canal Discovery Home & Health, programas SOS Bab, Supernanny e
Anjolescentes, A Domadora, passados e reprisados durante a semana em
horrio diurno e noturno. Revista Monet, Rj, Ed. Globo, maro a dezem-
bro de 2009.
102
lores como hierarquia paterna, obedincia, assim como regras de
convvio familiar e papis sociais, no sentido de torn-los capazes
de internalizar o imaginrio das sociedades contemporneas que
envolve esta fase da vida. Os conitos nunca tm uma origem
clara, parecem decorrer exclusivamente do desconhecimento do
saber especializado, do imperativo de regras estudadas e propos-
tas pela psicologia da infncia e da adolescncia. Tais regras esto
para alm de variveis advindas da personalidade dos pais, de suas
experincias de vida e trabalho e outras contingncias, limitaes
e diculdades prprias da vida em sociedades complexas e desi-
guais. Um modelo de educao e comportamento ensinado e
se cristaliza no imaginrio da relao entre pais e lhos como o
padro correto a ser seguido.
Quando adultos e mesmo na velhice, padres de sade e be-
leza se impem pelos instrumentos da engenharia qumica, nu-
tricional, sioterpica, esportiva e cirrgica. H um conjunto de
programas dedicados aos cuidados com a sade, cujos argumen-
tos se apiam em estudos sobre o funcionamento dos rgos, a
atuao de alimentos e substncias e atividades fsicas que de-
nem o imaginrio de uma vida saudvel. As receitas cientica-
mente legitimadas desta vida saudvel se impem para alm
do histrico siolgico de cada ser humano, das suas condies
prticas de sobrevivncia, de trabalho, da sua capacidade de lidar
com obstculos, fatalidades e insucessos.
Os programas alimentam o mito de um ser humano capaz de
viver em equilbrio fsico perfeito. Este ideal de sade est no ho-
rizonte de um imaginrio possvel, por mais que ele no seja al-
canado. Ele a idealidade de uma condio fsica que pode ser
realizada por indivduos que so capazes de superar quaisquer
obstculos e contingncias que a vida apresenta. O mito do corpo
saudvel se confunde com o estado de pura natureza, despe-se
dos riscos, das limitaes individuais e presses da sociedade e se
reencontra enquanto corpo puramente natural.
O corpo doente e acidentado, construdo, reconstrudo, sal-
vo, reconstitudo, os enigmas diagnosticados, legitimam a medi-
103
cina como cincia com poderes ilimitados em suas realizaes. Le
Breton fala ainda do corpo indesejado: a procriao in vitro se-
para a fecundao da maternidade, tende hoje a dissociar a crian-
a da gravidez para transform-la em pura criao da medicina.
(Le Breton: 2003, 75) A contingncia das doenas, dos aciden-
tes, das anomalias fsicas e mentais oferece um terreno de ines-
gotveis possibilidades de representao miditica, alimentando
a continuidade de programas por anos a o na grade dos canais.
So realizados programas em gneros e formatos diversos, que
abrangem seriados mdicos, acompanhamento do cotidiano de
salas de emergncia de grandes hospitais, cobertura das atividades
de especialistas em cirurgias plsticas, em doenas terminais e de
outros tipos, documentrios sobre indivduos com distrbios in-
comuns, como gigantismo, gmeos siameses, obesidade mrbida,
deformidades fsicas raras, patologias mentais, entre outras.
Ao explorar de forma herica
61
e inquestionvel as mltiplas
fronteiras de ao da cincia mdica, a mdia atua como fora
reguladora da vida social. Suas representaes alimentam imagi-
nrios derivados da experincia concreta de indivduos annimos
expostos em suas privaes, medos, desejos e esperanosa con-
ana no instituto mdico. Os espectadores no tm como saber
quantas vezes a cincia falhou, porque os programas ocultam a
morte e momentos de ineccia da prtica mdica. O imaginrio
da resultante fornece referenciais coletivos de entendimento da
experincia individual, equaciona interpretaes e expectativas e
orienta a ao coletiva. Alm disto, prestigia e privilegia a cin-
61 Herica no sentido de que os programas sempre tm um desfecho em que
a medicina vence a doena e cura o enfermo. Poucos so os programas em
que o paciente falece, isto ocorre raramente em alguns programas ccionais,
como os seriados mdicos. Nos programas que documentam fatos reais,
como os realizados nas salas de emergncia dos hospitais, ou os que apresen-
tam o trabalho de mdicos especialistas, no h casos em que a doena vena
a vida ou em que os mdicos falhem em seus procedimentos. Isto ocorre, por
vezes, nos lmes, onde no h vnculo concreto com fatos reais.
104
cia mdica como prtica e conhecimento hegemnicos em meio
ao repertrio limitado de padres de ao e de representaes
coletivas que guiam uma ordem social. Como arma Baczko,
o simbolismo da ordem social, da dominao e submisso, das
hierarquias e privilgios quantitativamente limitado e tem uma
xidez notvel. (Baczko, 1985: 299)
A NATUREZA IMAGINADA PELA CINCIA
Quando a cincia se aproxima da natureza, o critrio de ver-
dade est na sua capacidade de reproduzi-la, racionaliz-la, ope-
racionaliz-la e instrumentaliz-la como meios para ns dados e
ilimitados. Sua racionalidade tcnica no requer consenso, ela se
impe em sua aplicabilidade. Nesta perspectiva so apresentados
muitos programas
62
que exploram a vida natural do planeta. Pre-
valece, em todos eles, o que Durand denomina de regime diur-
no da imagem. Nele, os smbolos da luz enfrentam a escurido,
permitem a prtica da elevao imaginria (Durand, 2002: 146),
com ideais de potncia verticalizantes e ascensionais. So sm-
bolos de conquista herica da natureza, por meio da arma do
conhecimento, que transcende suas obscuras ameaas e instaura a
razo luminosa, solar, cuja fora de seus signicados assegura aos
indivduos a imaginao de poderes de domnio sobre a mesma.
A maioria dos programas sobre a natureza so, aparentemen-
te, documentrios. Eles representam, em geral, o contato real do
pesquisador com seu objeto de estudo. O enredo envolve, muitas
62 H canais voltados para a vida animal, como o Animal Planet e National
Geograc. Outros, ocupam cerca de 40% de sua grade mensal de progra-
mao com temas ligados natureza em geral, como Discovery Channel,
Discovery Science e History Channel. So canais com ndices signicativos
de audincia, logo abaixo dos canais de maior audincia, aqueles voltados
para apresentao de lmes e seriados, como Fox, Warner, AXN, Univer-
sal. Conforme dados do documento TV Paga Alcance Emissoras, de
outubro de 2009. Disponvel em www.almanaqueibope.com.br, acesso em
outubro de 2009.
105
vezes, grandes desaos, como aproximar-se de tempestades, vul-
ces ativos, navegar em mares gelados e revoltos, escalar ngre-
mes montanhas, mergulhar em grandes profundidades marinhas,
adentrar reservas, orestas e pntanos com animais selvagens vi-
vendo em liberdade, como crocodilos, hipoptamos, lees, leo-
pardos, elefantes, serpentes, tubares, sapos, aranhas, plantas e
insetos venenosos que, aparentemente, ameaam a vida do estu-
dioso em sua busca pelo conhecimento destas espcies. A trama
se desenvolve em torno de certos objetivos apresentados pelo pes-
quisador. Apesar do suspense e das expectativas criadas ao longo
do processo de alcan-los, fatores que somam aos programas
apelos emocionais e sensacionalistas, os corajosos e pertinazes
pesquisadores sempre atingem parte dos resultados almejados.
O cientista se envolve em tarefas imprevisveis, onde, por
exemplo, tenta amarrar a boca de crocodilos, aproximar-se de
fmeas selvagens com suas proles recm-nascidas, alimentar go-
rilas, capturar cobras com mais de 12 metros, lmar tubares,
entre outras inmeras cenas. A imprevisibilidade do desfecho, o
suspense e o perigo iminente tornam estes pesquisadores parti-
cularmente heroicos, xando no imaginrio dos espectadores a
importncia indubitvel do conhecimento cientco da natureza.
como modo racional, objetivo e necessrio ao entendimento de
espcies distintas dos seres humanos e ao imperativo de domnio
do homem sobre a natureza.
A importncia crescente do imaginrio que defende a pre-
servao das espcies do planeta, sem que nem sempre, entre-
tanto, questione a hegemonia do imperativo cientco, resulta,
de certo modo, da imaginao implcita de que assim como os
humanos tm biologicamente direitos, o mesmo vale para as
demais espcies, segundo Rorty, algo que nos conecta com o
mundo animal, vegetal e mineral e lhes confere uma dignidade
moral. (Rorty,1997: 48). E tal dignidade, se expressa, em grande
medida, nas imagens esteticamente pungentes que acompanham
estes programas. Cenrios plasticamente grandiosos representa-
dos por longas tomadas areas de vales e montanhas em regies
106
praticamente desconhecidas pelos espectadores, de cardumes de
peixes nadando em crculo, saltos de golnhos e baleias, mar-
cha de pinguins, migraes de aves, relaes afetivas entre pais,
mes e lhotes nas regies de procriao. Um campo inndvel
de representaes da vida natural que tende a criar uma relao
de generosidade da cincia para com a natureza. Ela explora,
classica e zela pela sua existncia. O espetculo generoso com
a natureza e com o espectador, mesmo quando os programas
expem os efeitos nocivos da tecnologia que esto ameaando a
biosfera terrestre. Mesmo quando a cincia violenta a natureza,
os esclarecimentos dos especialistas, seus alertas, dados e preo-
cupaes no os levam a deixar de buscar na prpria cincia a
soluo para estes problemas.
Esta cincia herica, aventureira, generosa, comprometida,
solidria e universalista apresenta assim sua face mtica. Segundo
Denise, o mito se mantm nas representaes miditicas, quando
pesquisador e espectador no aparecem como sujeitos de uma
prtica informacional, (Siqueira, 1999: 138) a esttica da forma
mitica a fala autorizada, que prescinde de uma esfera argumen-
tativa dialgica para se impor enquanto verdade.
A CINCIA CONTRA O CRIME
Outro espao explorado continuamente pelos programas
concerne legitimao da cincia, da tecnologia e das institui-
es responsveis pela defesa e controle das ameaas e riscos po-
tenciais das sociedades contemporneas. Os seriados policiais e
os documentrios sobre crimes tm expressivo espao em canais
de grande audincia. Eles tm em comum, alm de um vigoroso
imaginrio que legitima as instituies de segurana, seus pro-
cedimentos cientcos, critrios e suposto compromisso com a
justia e a verdade, a soluo dos crimes por meio da cincia,
tais como a medicina forense e seus sosticados recursos tecno-
lgicos, a balstica, percia e a psiquiatria. Neste contexto, alm
disto, o uso de armas de fogo praticamente naturalizado e vem
107
at os espectadores como recurso necessrio e justicvel da vida
em sociedades complexas. Assim tambm ocorre com o poder
poltico institudo e suas instituies, jamais apresentadas como
agentes capazes de aes de prepotncia e de invaso da soberania
de outros pases (Iraque, Afeganisto, Cuba, entre outros). A legi-
timao do armamentismo, do poderio militar, da alta tecnologia
aplicada a armas de destruio em massa uma constante em
lmes e documentrios.
A cincia adquire assim mais um atributo mtico, ela a jus-
ticeira, a perdigueira implacvel da verdade e a puricadora da
sociedade E, deste modo, fomenta no imaginrio social apelos
e imperativos de respeito, conana e obedincia. Soma credi-
bilidade e suscita a adeso ao seu sistema, consolidando valores
positivos relativos instituio policial. Neste sentido, mais uma
vez ela herica, uma espcie de guerreira justiceira que con-
quista legitimidade pela sua capacidade de provar a verdade dos
fatos por meio da anlise cientca de suas evidncias e provas
periciais. Segundo Durand, o arqutipo do heri combatente est
presente em todas as sociedades de homens. (Durand, 2002: 163)
Este heri solar est presente nos enredos dos seriados policiais.
Ele encontra o criminoso, a arma de fogo, considerando este um
arqutipo do elemento puricador, a tecnologia que a cincia
oferece para a limpeza, a puricao da sociedade de todo mal.
CINCIA E CONSUMO: IMAGINA E SATISFAZ NECESSIDADES
A publicidade, na televiso fechada brasileira, abrange na
maior parte, bens de empresas de telecomunicaes (celulares),
bancos, automveis, perfumes e cosmticos de marcas interna-
cionais, e, em escala bem inferior, utilidades domsticas e ali-
mentos. Concernem a bens de consumo acessveis somente a
quem possui um alto padro de vida. So, em sua maioria, origi-
nrios de empresas estrangeiras multinacionais.
A mdia sustenta, de forma hegemnica e exaustiva, a tema-
tizao da vida cotidiana com base em sistemas abstratos, no dis-
108
curso cientco. Esta , por excelncia, a fala autorizada no mbi-
to da publicidade miditica para legitimar e consolidar modelos
de sociabilidade e de interao social e, portanto, de formao de
identidades. O discurso do consumo ancora-se, sobremaneira,
na legitimidade das descobertas cientcas. Cosmticos que con-
tm substncias capazes de reverter o envelhecimento natural do
corpo, supostamente capazes de remodelar corpos no sentido de
torn-los idnticos aos padres dominantes, de promover eleva-
o da autoestima e fortalecer as bases do sentimento de perten-
cimento cultura legitimada.
Instituies bancrias nacionais e estrangeiras oferecem ga-
rantias de assessoramento especializado de nanas pessoais e,
com isto, sensaes de poder diante de situaes de instabilidade
econmica do pas ou pessoal. O dinheiro, a moeda corrente do
prazer e o bilhete de ingresso no restrito universo da sociedade de
consumo brasileira, representado publicitariamente como algo
a ser tratado pelo sosticado clculo gerencial destas instituies.
Empresas de telefonia mvel competem assdua e insistente-
mente pela empatia de consumidores com suas promessas de su-
perao das distncias fsicas regionais e continentais, simulando
sensaes de proximidade afetiva entre entes queridos por meio
de suas tecnologias de comunicao. Nas entrelinhas de todas
elas ecoa a promessa de que a tecnologia faz o planeta caber den-
tro de sua mo.
Automveis so bens de consumo que abrem aos indivduos
os horizontes espaciais do prazer por meio da possibilidade de
locomoo segura e controlada cienticamente pela alta tecno-
logia. Sensaes de poder, de realizao pica e herica de con-
quistas territoriais compem o argumento central que sustenta o
consumo destes bens, a aquisio de novos modelos, a permanen-
te atualizao acerca dos novos atributos somados a tais produtos.
A publicidade recorre a indivduos annimos como fonte de
legitimao do consumo de seus produtos. Muitas campanhas
apresentam indivduos externos ao circuito das celebridades,
para demonstrar uma ideia de consumo na realidade cotidiana
109
de qualquer indivduo , no apenas de uma camada altamente
exposta pela mdia. Assim, por exemplo, recorrente a apresenta-
o de produtos de limpeza, de utilidades domsticas, cosmticos
e outros no ambiente da vida cotidiana de indivduos annimos.
Isto confere ao consumo uma forma de legitimidade ampliada e
disseminada no seio de toda a parcela do pblico que comparti-
lha de semelhantes estruturas de vida.
Mas na relao entre indivduo e estrutura, a individualizao
se confronta com matrizes estruturadas de processos sociais que
esto alm da vontade do indivduo. Vale, a propsito de exem-
plo, constatar que a mdia no cria por si um senso de realidade
desconectado da estruturao dos processos sociais. Assim como
Giddens, Touraine e Habermas, tambm Elias v na racionali-
zao cientca um procedimento substitutivo do pensamento
mgico-mtico das sociedades primitivas e tradicionais. A razo
cientca atributo de civilidade. Segundo Norbert Elias,
A imagem idealizada da civilizao d a impresso de que todos
os seus representantes so uniformemente civilizados. Esse no
o caso, entretanto. A abordagem cientca da natureza representa
alto nvel de autocontrole, que paralelo ao alto nvel de controle
do objeto. A, o teor de fantasia contido nos processos cognitivos
dos indivduos diminuiu, sua orientao para a realidade aumen-
tou, e essa modalidade de pensamento racional se enraizou to
profundamente e est to amplamente espalhada pelas sociedades
mais desenvolvidas, que se passou a consider-la faculdade quase
inata, dom natural partilhado por todos os humanos antes de qual-
quer experincia. (Elias, 1998b: 256)
Esta racionalidade naturalizada, entretanto, no uniforme
entre os indivduos em todas as instncias de suas vidas. Para
Elias, os perigos que os seres humanos representam uns para
os outros esto em nvel to alto seno maior quanto o das
etapas mais simples que se conhece Os conitos entre naes,
entre grupos tnicos, sociais, a violncia urbana, a intolerncia
110
e demais fenmenos destrutivos so sintomas das contradies
prprias desta racionalizao naturalizada da experincia, cujos
sistemas explicativos, muitas vezes, so ecazes em certo aspecto,
mas no esgotam o espectro de variveis passveis de emergirem
em decorrncia deles, cujas repercusses se transformam em no-
vas fontes de ameaa existncia humana. Em suma,
as diferenas nos graus de conduta civilizada correspondem s di-
ferenas no grau de perigo e de controle do perigo nas diferentes
esferas da vida. A diculdade, como j foi indicado, que a inter-
dependncia do controle do perigo e do autocontrole circular.
Assim, a questo se resume a como diminuir os perigos e aumentar
o autocontrole e o controle do perigo de todos os envolvidos con-
comitantemente. (ELIAS, 1998b: 258)
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BACZKO, Bronislaw. Imaginao Social, em ROMANO, Ruggiero
(org.). Enciclopdia Einaudi, Vol. 5, Anthropos-Homem, Lisboa, Im-
prensa Nacional/Casa da Moeda, 1985, pp. 296 a 332.
DURAND, Gilbert. A Imaginao Simblica.Traduo Eliane F. Perei-
ra, SP, Cultrix/Edusp, 1988.
___________. As Estruturas Antropolgicas do Imaginrio Introduo
Arquetipologia Geral. 3.ed., Traduo Hlder Godinho, SP, Martins
Fontes, 2002
ELIAS, Norbert. Sobre o Tempo. Traduo Vera Ribeiro, RJ, Jorge
Zahar Editor, 1998a.
___________. Envolvimento e Alienao. 1
a
. Ed., Traduo de lvaro
de S, RJ, Bertrand Brasil, 1998b.
GIDDENS, Anthony. Modernity and Self-Indentity. Cambridge, Polity
Press, 1992.
111
___________; BECK, Ulrich e LASH, Scott. Reexive Modernization
- Politics, Tradictions and Aesthetics in the Modern Social Order. 1a.. ed.,
California, Stanford University Press, 1994.
HABERMAS, Jrgen. O Futuro da Natureza Humana. . Traduo de
Flvio Beno Siebeneichler SP, Martins Fontes, 2004.
LE BRETON, David. Adeus ao Corpo: Antropologia e Sociedade. Tradu-
o Marina Appenzeller. Campinas, SP, Papirus, 2003.
RORTY, Richard. Objetivismo, Relativismo e Verdade. Traduo de
Marco A. Casanova, RJ, Relume-Dumar, 1997.
SARLO, Beatriz. Paisagens Imaginrias: Intelectuais, Arte e Meios de Co-
municao. Traduo Rbia Prates e Srgio Molina, SP, Edusp, 1997.
SIQUEIRA, Denise da Costa O. A Cincia na Televiso Mito, Ritual
e Espetculo. SP, Annablume, 1999.
7. Imaginando o tringulo: msica,
comunicao e histria
Clodomir Ferreira
63
Se existe uma caracterstica de brasilidade, talvez seja a pro-
duo musical, uma faceta que marca tanto quanto o futebol e
a televiso. O caldeiro cultural do Pas iniciou sua mistura na
msica dos ndios ancestrais, nas canes folclricas, nas folias
rurais e nos cantos ritmados vindos da frica, assim como no
aculturamento inevitvel trazido pelos navios coloniais. Ao mes-
mo tempo em que era descoberto, tambm se descobria os ecos
europeus e os tambores negros, unidos aos sons e vozes dos habi-
tantes originais. Mesmo agora, mais de quinhentos anos depois,
ainda temos muito a pesquisar para entender a grandeza da m-
sica do Brasil.
Do ponto de vista acadmico, merece especial ateno a m-
sica urbana, nascida no incio do sculo XX e que resultou em
63 Doutor em Histria Cultural pela Universidade de Braslia, professor da
Faculdade de Comunicao da UnB, credenciado pelo Programa de Ps-
Graduo de Msica da Universidade de Braslia. Compositor de msica
popular.
114
pouco mais de cem anos de um patrimnio inestimvel. Na g-
nese, essa msica urbana comea a se formar no momento em
que o m da escravido provoca o inchao das cidades, e, ao mes-
mo tempo, se verica o aparecimento da modernidade na forma
de tecnologias de comunicao que mudaram denitivamente os
modos de produzir e consumir msica.
A presena de registros musical em novos formatos, acrescido
da possibilidade de reproduo em larga escala, desenha outro
cenrio:
No mera coincidncia, portanto, que essa cano tenha se de-
nido como forma de expresso artstica no exato momento em
que se tornou praticvel o registro tcnico. Ela constitui, anal, a
poro da fala que merece ser gravada. (Tatit, 2004)
A msica popular ou a cano, como alguns preferem
pode ser percebida e estudada na sua especicidade musical, mas
cresce a convico de que uma nica disciplina parece no dar
conta da abrangncia e o alcance dessa manifestao cultural em
toda sua potencialidade. A tendncia que se observa nos estudos
recentes a busca da integrao entre diversas disciplinas para
uma melhor compreenso do fenmeno.
A diviso do conhecimento em disciplinas, mesmo tendo o
reconhecimento de sua importncia, mostra-se insuciente para
enfrentar a complexidades de determinados objetos. Os novos
objetos podem ser melhores identicados pela interdisciplinari-
dade, quando ocorre transferncia de mtodos de uma disciplina
para outras. Essa vocao para a interdisciplinaridade est ligada
umbilicalmente prpria Universidade de Braslia. Em novem-
bro de 1993, quando o Conselho Superior aprovou o atual Es-
tatuto, deixou explicitado logo no item 4 do artigo 3, que trata
dos princpios da instituio: universalidade do conhecimento e fo-
mento interdisciplinaridade.
Mas h o risco que a nova sntese interdisciplinar cai na ten-
tao de se tornar uma nova disciplina, com todas suas limita-
115
es. por essa razo que alguns autores defendem uma trans-
discisplinaridade, suplantando mtodos e objetos de disciplinas
e interdisciplinas, na busca de uma viso holstica (DAmbrosio,
1999). Essa nova perspectiva dever aumentar sua penetrao no
meio acadmico, principalmente considerando as preocupaes
ambientais em ascenso, uma vez que as questes planetrias so
relevantes na transdisciplinaridade.
Embora reconhecendo a validade da proposta transdiscipli-
nar, o ambiente da interdisciplinaridade - respeitando a impor-
tncia do conhecimento especco de cada rea se apresenta
como um passo apropriado e sucientemente adequado. ne-
cessrio ter cuidados para no cair na armadilha de estabelecer
uma nova disciplina congelada, mas perseguir a criao de um
estudo mltiplo e coerente. O importante provocar um dilogo
entre as disciplinas, extraindo delas as teorias e mtodos que se
completam.
Lembrando que o ser humano multidimensional, Morin
alerta para que no se exera uma segmentao demasiada dos
saberes, rearmando a simultaneidade dos aspectos que esto
concentrados ao mesmo tempo. A percepo do homem emerso
numa complexidade pede, realmente, abordagens mais amplas e
menos centradas em disciplinas:
H complexidade quando elementos diferentes so inseparveis
constitutivos do todo (como o econmico, o poltico, o sociol-
gico, o psicolgico, o afetivo, o mitolgico), e h um tecido inter-
dependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhe-
cimento e contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes
entre si. (Morin, 2000: 38)
Essas vises esclarecem sucientemente a urgncia de incluir
abordagens mltiplas para tratar da msica, especialmente a po-
pular. Isso decorrncia da fase de transio e da revoluo cien-
tca em curso, quando a insegurana das antigas ncoras ainda
no foi substituda por novas prticas dentro de outros paradig-
116
mas. H uma mudana se operando, o que indica num momento
em que ningum pode visualizar projetos concretos de investi-
gao que correspondam inteiramente ao paradigma emergente.
(Santos, 2009). Ao mesmo tempo em que h um abalo na base
disciplinar, emerge o direito de propor novos recortes e aborda-
gens para os objetos que se pretende decifrar ou explicar.
A costura entre as diversas reas para uma aproximao de
objetos mltiplos e complexos vem precedida de mapas que fa-
cilitem as escolhas tericas e metodolgicas. H uma grande va-
riedade de modelos, como o que interliga comunicao, cultura
e poltica (Martin-Barbero, 2009), estabelecendo vnculos entre
Matrizes Culturais, Formatos Industriais, Lgicas de Produo
e Competncias de Recepo e Consumo. H, tambm como
exemplo, o terreno artstico (Canclini, 1979), que prope que se
procurem elementos sociolgicos do objeto esttico na sua in-
terao com o campo artstico e no na relao imediata com
o contexto social. Tambm vale considerar possibilidade como
os estudos desenvolvidos no campo sistmico (Vaz apud Valente,
2007).
No h um modelo nico genuno, o que temos so opes
adequadas para fazer a articulao necessria entre os inmeros
ngulos. O pesquisador no encontrar uma frmula, mas de-
ver desenvolver a capacidade de estabelecer uma estrutura que
equilibre os aspectos que pretende colocar em foco de maneira a
no superdimensionar apenas um determinado parmetro (Na-
politano, 2005). De qualquer forma, deve ser estabelecido um
ponto de partida.
Aqui, a proposta buscar a relao entre trs vertentes que se
alimentam mutuamente, dentro das reas irms da msica, comu-
nicao e histria.
Assim, o percurso passa pela produo musical, buscando co-
nhecer e desvendar os estilos, a esttica, os temas, a vida emo-
cional e a biograa de artistas. O outro vrtice caminha para o
entendimento da inuncia dos meios de comunicao, identi-
cando a hegemonia de cada um em determinado perodo, e como
117
as caractersticas tecnolgicas dos diversos veculos e espaos cul-
turais podem afetar a esttica. Finalmente, cabe acrescentar re-
exo ao contexto social, a moldura que provoca, explica e, de
certa forma, dene a relao entre os meios e a esttica, fechando
o tringulo bsico que sustenta esse mapa, uma vez que a esttica
est profundamente vinculada histria e representao social.
Seria ingenuidade no considerar a economia e os interesses
polticos. Os condicionamentos econmicos dizem respeito cen-
tralizao das formas de produo e divulgao, onde o mercado
tem hoje um papel regulador. Os interesses polticos aparecem
quando o mercado elege ou elimina artistas, praticando sua polti-
ca cultural. Embora o mercado tenha inuenciado a msica popu-
lar urbana desde seu princpio nos anos 1920, somente na dcada
de 1970 a indstria fonogrca ganhou o aparato mercadolgico
sosticado que passou a exibir no Brasil. No momento, a nfase
no lucro e na competitividade est asxiando a msica brasileira.
A indstria da msica, entretanto, passa tambm por uma enorme
crise diante dos desaos da pirataria e a crescente presena das re-
centes tecnologias, como a internet, capaz de colocar em cheque as
formas de criao, produo e divulgao musical.
A indstria cultural, abrangendo discos, cinema, jornal, livro,
revista, televiso, rdio e outros meios tecnolgicos, engloba for-
mas de produo simblica, to bem estudada por Nstor Garcia
118
Canclini, a partir de uma viso sociolgica. Canclini argumenta
que a sociologia deu um choque social na teoria e histria da arte,
exigindo o reconhecimento dos condicionantes decorrentes da
produo, da circulao e do consumo de bens artsticos. A socio-
logia estaria, portanto, instigando os pesquisadores a superarem a
viso de isolar e sacralizar as obras do contexto social. O processo
de circulao social passa a ter um valor mais signicativo para o
entendimento das manifestaes artsticas:
As chaves sociolgicas do objeto esttico e de sua signicao no con-
junto da cultura no se encontram na relao isolada da obra com o
contexto social; cada obra o resultado do terreno artstico, o comple-
xo de pessoas e instituies que condicionam a produo dos artistas
e interferem entre a sociedade e a obra, entre a obra e a sociedade: os
editores, marchands, crticos, censores, museus, galerias e, evidente-
mente, os artistas e o pblico. (Canclini, 1979: 31)
O tringulo aqui proposto com os ngulos produo musical,
meios de comunicao e contexto social, ser o mapa que servir de
guia nessa viagem.
Para o estudo da produo musical, h uma gama de opes
que permitem ora aprofundar os aspectos estticos, ora buscar
119
as caractersticas de movimentos musicais, estilos e temas, para
servir de ilustrao. O ngulo da produo musical contempla
um painel de mltiplas possibilidades. A msica construda e
exercida por tantos aspectos, que exige muitas vezes que se faa
um recorte mais preciso para analis-la esteticamente (Suassuna,
2007). Ela pode ser vista como resultado de um ofcio, onde ha-
bitam as regras mais estveis, dogmticas e ligadas aos materiais
especcos. O campo da msica, especialmente o erudito, pr-
digo em estudos dessa vinculao. No caso da msica popular,
tambm se acumulam iniciativas nesse sentido, que podem ser
simbolizadas nos trabalhos pioneiros de Mrio de Andrade, a
partir da dcada de 1930. Suassuna faz questo de lembrar que
no exerccio do ofcio o artista aprende a dominar os gneros, os
processos rtmicos e todo o conhecimento que d sustentao s
diversas formas artsticas.
Outro campo o da tcnica onde o artista vai encontrar
maiores chances de colocar sua personalidade com mais nfase.
Aqui, h ainda uma comunho do artista com seus congneres,
na absoro e superao de modelos e estilos:
Podemos dizer que, depois de escolher sua Arte, o artista, aos
poucos, tateando at encontrar o verdadeiro caminho necessrio
ao desenvolvimento de sua personalidade, escolher, talvez at de
modo a princpio inconsciente, uma famlia de espritos ans, uma
linhagem de parentes mais velhos qual ele se lia, seguindo aquele
impulso to natural ao esprito humano de, mesmo quando vai re-
novar, apoiar-se numa tradio ou num exemplo. (Suassuna: 264)
Ultrapassando o mbito da tcnica, o caminho leva ao campo
da forma, ainda segundo Suassuna. Aqui predomina a imaginao
criadora, o pleno exerccio do talento do artista. O lugar da forma
abriga as marcas pessoais, os saltos geniais e faz surgir manifesta-
es que distinguem um artista de todos os outros. A expresso
da originalidade faz a fronteira entre esse campo e os outros dois
antes citados. No se pode ensinar o domnio da forma, pois cada
120
um tem o seu toque e sua personalidade, diferentemente do ofcio
e da tcnica que podem ser comungadas:
No ofcio e na tcnica est tudo o que, numa Arte, pode ser ensina-
do, tudo aquilo que governado pelas vias certas e determinadas da
Arte, coisa indispensvel ao iniciante, mas que, no mximo, forma
um bom arteso (Suassuna: 267)
Em se tratando dos meios de comunicao, abre-se uma aveni-
da enorme. Em primeiro lugar, urge a oportunidade de visitar as
questes ligadas tecnologia. A presena da tecnologia na socie-
dade atual central, uma vez que um corpo de conhecimento se
caracteriza como tecnologia quando empregado para controlar,
transformar ou criar coisas e processos, naturais ou sociais (Bun-
ge, 1980: 186). A hegemonia de um determinado meio tecno-
lgico tem um reexo enorme sobre a produo musical. Um
meio no se exclui na presena de outro, mas alguns perodos so
indiscutivelmente dominados por um ou outro.
No caso brasileiro, a hegemonia de um determinado meio em
determinado perodo gritante. Chegamos a chamar parte da hist-
ria da msica popular como a Era do Rdio, tamanha a centralidade
do veculo e suas caractersticas por vrios anos. Depois, a chegada
da televiso alterou as formas de criar, selecionar, apresentar e re-
percutir a msica popular, modicando os estilos, as abordagens e
inaugurando novas perspectivas artsticas. Foi essa Era da Televiso
que permitiu o surgimento dos Festivais como lugar de expresso da
boa parte do que hoje tradio no repertrio brasileiro.
O termo tecnologia, portanto, poder tanto ser empregado
em relao aos equipamentos propriamente ditos, como aos co-
nhecimentos que possibilitam controlar, transformar ou criar
processos. Isso leva a considerar que, na adoo dos meios, como
rdio, televiso, suportes fonogrcos e outros produtos indus-
triais, tambm h uma vertente da formao de procedimentos e
linguagens prprios de cada inovao.
121
Mesmo no estudo das tecnologias, j se constata a necessidade
de dilogo com outras instncias:
A tecnologia est, pois, enraizada em outros modos de conhecer.
No um produto nal, ao contrrio, est metamorfoseada na
prtica tcnica e na percia do mdico, professor, administrador,
nancista ou especialista militar. Nem tudo puro na tecnologia
e suas redondezas: existem componentes estticos, ideolgicos -
loscos, e, s vezes, traos de pseudocincia e pseudotecnologia.
(Bunge. 1980: 188).
As tecnologias, para efeito dos estudos de sua ligao com
a comunicao e a msica, precisam ser vista em suas dimenses
sociais, carregadas de simbolismo e vulnerveis aos paradoxos e
contradies eternas da vida social, tanto em sua criao como
em seu uso (Silverstone, 2005). Dessa maneira, possvel pensar
que, por exemplo, no nascimento da msica popular no Brasil,
j possvel observar os aspectos tecnolgicos mesmo no Teatro
de Revista, quando a msica teve um papel central, adequado
aos formatos e linguagens prprios, antecipando os programas
de auditrio do rdio que viriam depois. O teatro de rebolado
j trazia alguns traos da msica subsequente, uma vez que se
inseria num ambiente urbano, buscando um apelo popular e foi
responsvel pelo surgimento de importantes compositores e in-
trpretes musicais (Paiva, 1991).
Falar de msica produzida e consumida a partir do incio do
sculo XX induz a colar a reexo ao universo tecnolgica que
lhe d suporte. Mesmo que se encontrem resqucios em tempos
passados, nem mesmo a inveno da imprensa e a existncia dos
livros podem ser vistos na mesma dimenso dos meios eletrni-
cos que surgiram depois:
A grande exploso da comunicao massiva, entretanto, viria com
seus dois gigantes, o rdio e a TV que, tendo seus alimentos funda-
mentais na publicidade, instauraram a cultura popular massiva. Foi
122
s ento que a comunicao se instituiu como rea de conhecimento
reclamando para si uma certa autonomia, por exemplo, nos estudos
da publicidade, nas anlises de contedo das mensagens veiculadas
pelos meios e na pesquisa de opinio . (Santaella, 2001: 25)
conveniente acrescentar ao comentrio anterior de Santa-
ella que o cinema do sculo XX teve uma ligao forte com a m-
sica popular, bastando para isso lembrar a presena de Carmem
Miranda nos musicais, a divulgao de marchas de carnaval e ou-
tros momentos em que msica e cinema dialogaram muito bem.
O novo cenrio urbano embalado pelos meios de comuni-
cao provocou o meio acadmico na busca de modelos e teo-
rias que dessem conta do mundo sob o signo da mdia. Entre
os principais movimentos na construo de quadros explicativos
da atualidade, destacam-se os empirismos da Escola de Chicago,
a pesquisa da comunicao de massa, a teoria da informao, a
teoria crtica, o estruturalismo e os Estudos Culturais, entre ou-
tras abordagens (Mattelart, 1999). Mais recentemente, cresce a
preocupao com a questo da mediao, na inteno da transdis-
ciplinaridade de Martin-Barbero (2009) de superar iluses ro-
mnticas, ao reducionista de tantos marxistas e ao aristocratismo
frankfurtiano.
O mbito do vrtice do contexto social pode levar a muitas
entradas. Creio que as cincias sociais podem auxiliar, na medida
em que suas teorias e mtodos esto prximos das explicaes
do cotidiano. A Histria pode ser uma das vias para uma boa
aproximao. Aqui tambm diversos conceitos beneciam a ope-
rao dos estudos. Um desses conceitos fundamentais a noo
de identidade (Stuart Hall, 2001 e 2003). Por muito tempo, a
msica popular do Brasil viveu e de alguma forma ainda vive
sob a inuncia pesada da questo da identidade nacional. Esse
aspecto teve relevncia nos tempos de Getlio Vargas, como sua
nfase na formao de uma cara brasileira, nacional, um projeto
de pas que tinha na msica um forte apelo cultural. Depois, na
luta contra a ditadura militar, especialmente na dcada de 1960,
123
o nacionalismo reaparece no combate invaso da msica estran-
geira. Hoje, parece que se vive, baseando-se em Hall, no vis das
novas identidades, no mais ancoradas nas questes nacionais,
mas centrados em novos campos, como a armao das mino-
rias, o feminismo, a voz das periferias e outros enfoques. Outras
vertentes esto disposies dos pesquisadores e lanam luzes
tericas importantes como - e s como exemplos - a representao
social (Jodelet, 2001), cultura (Pesavento, 2003), estudos do ima-
ginrio (Castoriadis, 1982), e poder simblico (Bourdieu, 1992)
A abordagem proposta aqui, entretanto, no nasce comple-
ta. No um depositrio de conhecimentos, naquela forma que
Paulo Freire chamava de bancria. Ao contrrio, h um interesse
e um mtodo: construir o conhecimento.
Tambm relevante, at por se tratarem de objetos musicais,
cultivar a prtica de ouvir disco, assistir vdeos, alm da leitura
constante e atualizada da literatura disponvel. A falta de intimi-
dade visual com personagens e cenrios culturais de outras pocas
pode ser superada dessa forma, tornando a pesquisa e o aprendi-
zado mais atraentes e - porque no? - emocionantes.
O interesse do autor desse texto pelo assunto advm do fato
de ser compositor de msica popular, vnculo que no pretende
esconder. Tem discos gravados em gravadoras convencionais, as-
sim como outros feitos de forma independente. Ao mesmo tem-
po, seu repertrio autoral soma cerca de 100 msicas gravadas
por diferentes intrpretes na msica brasileira.
Por outro lado, tanto o currculo da Faculdade de Comuni-
cao como o Programa de Ps-Graduao de Msica da Univer-
sidade de Braslia incentivam a criao de disciplinas optativas
que injetem entusiasmo na grade horria, e foi o que se fez com
a criao da disciplina Comunicao e Msica, na Faculdade de
Comunicao, e ao ministrar Interpretao Musical em Contexto,
no Departamento de Msica, ambas na Universidade de Braslia.
No seu mestrado, o autor estudou a produo independente e teve
a oportunidade de reetir sobre as relaes de mercado e arte,
especialmente a desenvolvida em Braslia. Na ocasio, identicou
124
o potencial da regionalizao da produo, o papel da produo
independente e o crculo vicioso que amarra artistas e pblico
num espetculo que no agradar ningum. Seu Doutorado em
Histria Cultural desenvolveu uma tese sobe a produo musical
na era do CD em Braslia.
A comunicao est no olho do furaco da questo da msica.
Ela o transmissor, e, simultaneamente, o impedimento, o muro a
separar o pblico dos artistas. A falta de conhecimento sobre a m-
sica popular talvez seja uma falha na formao de grande parte dos
acadmicos. O encurtamento da memria faz com que muitos ar-
tistas caiam no esquecimento e virem peas de um museu invisvel.
Para complicar, o mundo vive uma discutvel globalizao.
Que interesses movem a cultura? Quem se benecia do que se
vende? Quem escolhe o que vai ser visto e ouvido? A divulga-
o da msica atravs da comunicao ultrapassa a funo de
simples distribuio de produtos culturais, mas se transformou
num distribuidor efetivo de produtos comerciais, com alto poder
econmico. No caso do Brasil, cabe compreender o que signica
a centralizao da indstria fonogrca em poucos centros pro-
dutores, como Rio de Janeiro e So Paulo, aspecto to relevante
que est expresso na Constituio, embora sua aplicao carea
de leis mais especcas.
Enm, relevante rever o conceito de MPB e observar a
msica dos meios de comunicao, as trilhas de cinema, TV e
teatros, as vinhetas e a msica publicitria. Uma boa pauta est
na preocupao com a democratizao da msica nos meios de
comunicao, compreender suas limitaes e reconhecer possibi-
lidades de mudana. Est na hora de buscar uma viso crtica, e,
se possvel, alimentar a admirao pela emoo dos que acredi-
tam na cultura como expresso de um povo.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BOURDIEU, P. O poder simblico. Rio de janeiro. Editora Bertrand
Brasil, 1992.
125
BUNGE, M. Epistemologia. So Paulo. EDUSP. 1980.
CANCLINI, Nstor Garcia. A produo simblica: Teoria e Metodolo-
gia em Sociologia da Arte, Rio de Janeiro, Ed. Civilizao Brasileira. Tra-
duo: Glria Rodrigues. Col. Perspectivas do Homem, vol. 133. 1979.
______. A globalizao imaginada. So Paulo: Iluminuras, 2003.
CASTORIADIS, C. A instituio imaginria da sociedade. Rio de Janei-
ro: Paz e Terra, 1982.
DAMBROSIO, Ubiratan. Educao para uma sociedade em transio,
Campinas SP: Papirus, (Coleo Pairus Educao). 1999.
JODELET, D (Org.). As representaes sociais. Rio de Janeiro: Ed.
UERJ, 2001.
HALL, S. A identidade cultural na ps-modernidade. 5 ed. Rio de Ja-
neiro: DP&A, 2001.
HALL, S.; SOVIK, L. (Org.). Da dispora: identidades e mediaes cul-
turais. Belo Horizonte: Ed. UFMG. 410 p. (Coleo Humanitas) 2003.
MARTIN-BARBERO, Jess. Dos meios s mediaes: comunicao, cul-
tura e hegemonia: Rio de Janeiro, ed. UFRJ. 2009.
MATTELART, A.; MATTELART, M. (Colab.). Histria das Teorias
da Comunicao. So Paulo: Edies Loyola, 1999.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessrios educao do futuro. Braslia.
Cortez/UNESCO, 2000.
PAIVA, Salvyano Cavalcanti de. Viva o rebolado! - vida e morte do teatro
de revista brasileiro. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 1991.
PESAVENTO, S. J. Histria & Histria Cultural. Belo Horizonte: Au-
tntica, v. 1, 2003.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as cincias, 6. Ed.
So Paulo: Cortez, 2009.
SILVERSTONE, Roger. Porque estudar a mdia? So Paulo, 2 ed: Edi-
es Loyola, 2005.
126
SUASSUNA, A. Iniciao esttica. 8 ed. Rio de Janeiro: Jos Olym-
pio, 2007.
VALENTE, Heloisa (org.). Msica e mdia: novas abordagens sobre a
cano. So Paulo: Via Lettera/ Fapesp, 2007.
8. Imaginrio, o sensvel e o jornalismo
Gislene Silva
64
Estudar o imaginrio na imprensa supe, de antemo, o en-
frentamento dos fundamentos que vm sustentando uma Teoria
do Jornalismo bastante difundida no ensino e pesquisa desta rea
no pas os da objetividade, imparcialidade, clareza e exatido.
Inserida na camisa-de-fora da realidade factual e comprovvel
empiricamente, esta teoria ignora ou recusa as manifestaes sen-
sveis e emocionais, simblicas e mticas do mundo imaginrio,
percebidas aqum e alm do que nos mostram os recursos do
pensamento racional e objetivo, e que esto presentes rotinei-
ramente nas temticas diversas da cobertura jornalstica. mais
fcil saber hoje que os sentimentos excedem a esfera do indivi-
dual e do privado e se estendem para os domnios sociais; e
mais aceito o entendimento de que a memria e as produes
simblica, imaginativa, mtica e imaginria tm carter tambm
social, coletivo.
64 Professora da Faculdade de Comunicao da Universidade Federal de San-
ta Catarina, gislenedasilva@gmail.com
128
Como diz Michel Maffesoli, em referncia especca ao
onrico, a publicidade, os vdeosclipes, a produo cinemato-
grca, as diverses de toda ordem, a multiplicidade de festas
esto a para prov-lo (Maffesoli, 1998, p.156). Eu incluo aqui
o jornalismo, tomando-o sempre como um dos fenmenos da
mdia, sendo parte, portanto, dos interesses, cuidados e crticas
do pensamento terico do campo da Comunicaao. Maffesoli,
considerando o sentimento coletivo e suas consequncias, tanto
sociais quanto polticas, tanto para melhor ou para pior, defende
uma razo sensvel que integre a sensibilidade no ato do conheci-
mento. Tratando dos afetos e das vibraes comuns, ele explicita:
No h domnio que esteja indene da ambincia afetual do mo-
mento. A poltica, evidentemente, que se tornou um vasto espet-
culo de variedades que funcionam mais sobre a emoo e a seduo
do que sobre a convico ideolgica; mas, igualmente, o trabalho,
onde a energia libidinal exerce um papel importante; e no esque-
cendo todas as eferverscncias musicais e esportivas que so tudo
menos racionais. Tudo isso mostra que existe uma dialtica entre o
conhecimento e a experincia dos sentidos.
(Maffesoli, 1998, p.192).
Dentro de igual perspectiva, Muniz Sodr prope uma teoria
compreensiva da comunicao que possa observar as estratgias sens-
veis na relao mdia e poltica e que seja capaz de trazer mais luz
ou hipteses mais fecundas sobre as transformaes das identidades
pessoais e coletivas, as modulaes da poltica e as ambivalncias
do pluralismo cultural no mbito da globalizao contempornea
(Sodr, p. 70). Tratar-se-ia de investigar uma dimenso primordial,
que tem mais a ver com o sensvel do que com a medida racional,
que reconhece a potncia emancipatria contida no sensvel e no
afetivo, para alm dos cnones limitativos da razo instrumental
(Sodr, p.13). Tambm para Martin-Barbero a presena dessas di-
menses afetivas que os meios de comunicao potencializam no
despolitiza a ao. Se trata de la reintroducin, en el mbito de
129
la racionalidad formal, de las mediaciones de la sensibilidad que el
racionalismo del contrato social crey poder (hegelianamente)
superar.
65
por tais dimenses sensveis ou afetivas que passam
os estudos do imaginrio. Mas o imaginrio tem muitas vezes sido
tomado conceitualmente como muito prximo dos conceitos de
representao social, imagem mental, ideologia, crena, atividade
simblica, cultura e imaginao. Cada um desses termos, no en-
tanto, tem complexas matrizes tericas e disciplinares (ver Legros;
Silva, J.M.; Susca; Maffesoli, 2008). Para pensar o fenmeno do
jornalismo como expresso do imaginrio coletivo, interessa aqui
tomar o imaginrio pela conceituao de Gilbert Durand, cujo
lastro, por sua vez, vem pela linha terica por onde passaram G.
Simmel, C. Jung, M. Eliade e G. Bachelard. Tais autores e outros
como E. Morin, M. Maffesoli e J. M. Silva, e mesmo C. Casto-
riadis elaboram um olhar mais positivo sobre o imaginrio, este
visto quase sempre como oposio ao real, ou seja, como falsidade,
fuga, iluso, no-real. que a boa vontade para com a vida ima-
ginria nos dias de hoje ainda se d num ambiente ora de discreta
desconana ora de hostilidade contra os estudos do imaginrio.
Geralmente enclausurada nos desvios e mistrios da psique, limita-
da ao universo das culturas arcaicas, recolhida ao mundo das artes,
s muito lentamente a problemtica do imaginrio vem ganhan-
do visibilidade nas cincias sociais. Durand chega a constatar, em
muitas disciplinas do saber, a formao de uma cincia do imagi-
nrio, que vem desmisticando as proibies e os exlios impostos
imagem pela civilizao que criou essas mesmas disciplinas (Du-
rand, 1998, p. 71 e 77). Em seu livro As estruturas antropolgicas do
imaginrio, de 1960, depois de criticar vrios tericos e recensear
inmeras posturas conceituais, Durand conclui que todos eles, in-
cluindo Bergson, Sartre, Barthes e a prpria psicanlise freudiana
65 Martin Barbero em texto oferecido no curso Cartograas culturales de la
sensibilidad y la tecnicidad, ECA/USP, agosto de 2008. O texto intitula- ECA/USP, agosto de 2008. O texto intitula-
do Razn tcnica y razn poltica: espacios/tiempos no pensados foi publicado
pela revista Ciencias de la Comunicacin, no.1, So Paulo, 2005.
130
e a etnologia estruturalista, apesar de contriburem para o resgate
do mundo das imagens, minimizaram a imaginao e deixaram
evaporar a eccia do imaginrio. Na sociedade contempornea,
em que a vida cotidiana, mais do que em outros tempos, mediada
pela imagem, principalmente pelas imagens da mdia, Durand diz,
ao estudar o paradoxo do imaginrio no Ocidente (Durand, 1998:
9-34), que, por um lado, a nossa civilizao propiciou ao mun-
do as tcnicas de reproduo da comunicao de imagens, sempre
em constante desenvolvimento, mas, por outro, junto losoa
fundamental, demonstrou uma desconana iconoclasta endmica.
No entanto, Durand acredita que todo o esforo do Ocidente em
conferir um imperialismo ideolgico cincia, como nica dona
de uma verdade iconoclasta e fundamento supremo dos valores,
foi um trabalho em vo, pois as imagens, expulsas pela porta da
frente, reentravam pela janela para atacar os conceitos cientcos
mais modernos como as ondas, os corpsculos, as catstofres...
(Durand, 1998, p. 68).
Antes de seguir a reexo sobre a entrada do imaginrio
como objeto de conhecimento no pensamento social, impor-
tante aqui deixar explcito que estamos tratando de imagens ar-
quetpicas, metforas de base, grandes imagens, imagens-matrizes,
compreendendo imagem, portanto, como manifestao sensvel
do abstrato ou do invisvel algo prximo de imagem liter-
ria, e no como imagem pictrica. Tal como sugere Sodr, levo
em considerao a imagem subjetiva ou interna, sendo que ima-
gem faz referncia no apenas ao sentido da viso, mas tambm
a qualquer modalidade sensorial. Embora diferindo essencial-
mente da sensao, a imagem subjetiva a esta se assemelha em
alguns apectos, como o das mesmas reaes diante de um objeto
ou do prolongamento imagtico da sensao.
Assim, as imagens internas podem ser visuais, auditivas, gus-
tativas, olfativas e tteis (Sodr, p. 81). Seria semelhante a pers-
pectiva de Maffesoli: No a imagem que produz o imaginrio,
mas o contrrio. A existncia de um imaginrio determina a exis-
tncia de um conjunto de imagens. A imagem no o suporte,
131
mas o resultado (Maffesoli, 2008: 76). Mesmo que lentamente,
as cincias humanas e sociais passaram a se interessar pelo estudo
do imaginrio h mais tempo do que as cincias da comunica-
o. No livro Sociologia do imaginrio, os pesquisadores franceses
Legros, Monneyron, Renard e Tacussel rastreiam o imaginrio
entre os fundadores da sociologia (passando por Marx e Engels,
Tocqueville, Le Bom, Tarde, Preto, Durkheim, Weber e Simmel),
apontam os fundadores de uma sociologia do imaginrio (lem-
brando, entre tantos, de Mannheim, Mauss, Bataille, Benjamin,
Sansot, Callois), at chegar aos pesquisadores contemporneos
(Halbwachs, Durand, Bachelard, Barthes, Castoriadis, Morin,
Baudrillard, Maffesoli). J na introduo, os autores avisam que
sociologia do imaginrio no um campo denido por um ob-
jeto e sim um ponto de vista sobre o social: ela se interessa pela
dimenso imaginria de todas as atividades humanas, pela di-
menso mtica da existncia social. O mesmo quero dizer sobre
o estudo de imaginrios na mdia noticiosa. Ou seja, tambm in-
teressa Teoria do Jornalismo o enraizamento arquetipal, o homo
imaginans e no somente o homo rationalis.
As palpitaes, criaturas e as recriaes do imaginrio coletivo so,
portanto,testemunhos vivos intangveis, mas estruturantes, pre-
sentes em nossa vida onrico-emocional mesmo antes que a ela-
borao racional de modalidades atravs das quais se vai trans-
formando a experincia vivida, o modo de habitar o mundo. (...)
devemos nos deter seriamente sobre cada faceta, detalhe, mscara
propostos e projetados pelo imaginrio coletivo, olhar por trs de-
les, escondidos dentro dos abalos e custdias, na hilaridade mais
boba ou na agressividade mais rude que possuem, qualquer coisa
que na realidade os transcende no momento mesmo em que se lhes
d a vida. A sociologia do imaginrio tem, portanto, a possibilida-
de de sugerir qual potncia-tendncia social alinha no corao da
sociedade espetacular (...). (Susca: 79 e 80).
132
Para observar e descrever fragmentos desses testemunhos de
imaginrios na imprensa, faz-se necessria a retomada de algumas
denies do que seria, ento, o imaginrio coletivo. A comear
pela observao bsica de J. M. Silva de que o imaginrio deve
sempre ser entendido como algo mais amplo que um conjunto de
imagens. O imaginrio no seria um mero lbum de fotograas
mentais nem um museu da memria individual ou social. Tam-
pouco se restringiria ao exerccio artstico da imaginao sobre o
mundo. O imaginrio uma rede etrea e movedia de valores
e sensaes partilhadas concreta ou virtualmente. (J.M.Silva,
2006: 9). Depois, reforo o pressuposto de que na relao imagi-
nrio e jornalismo interessa o aspecto coletivo, a manifestao so-
cial do imaginrio, uma vez que o fenmeno da comunicao no-
ticiosa de natureza igualmente social e coletiva. De acordo com
Legros e demais autores do livro acima referenciado, o imagin-
rio circula atravs da histria, das culturas e dos grupos sociais.
um fenmeno coletivo, social e histrico (Legros et al.: 10) a
historicidade do imaginrio pode ser mais entendida a partir do
conceito de trajeto antropolgico de G. Durand, do qual tratarei
adiante. Parte dos estudos do imaginrio dedica-se a observar a
relao das imagens com a vida cotidiana (outras atuam nos es-
tudos da co, em especial na literatura e cinema, e nas vises
de mundo da poltica, religio, cincia). O imaginrio no
uma forma social escondida, secreta, inconsciente que vive sob as
bras do tecido social. Ele no o reexo, o espelho deformado,
o mundo revirado ou a sombra da realidade, uma sociedade sub-
terrnea que cruzar profundamente os esgotos da vida cotidiana,
mas ele estrutura, no fundo, o entendimento humano. (Legros
et al.:111). Com foco no cotidiano, e citando Tacussel, os autores
argumentam que o imaginrio sublinha como a experincia vi-
vida, o labirinto das relaes afetivas e o movimento tumultuoso
das paixes se concretizam em um cenrio coletivo, simultane-
amente banal e trgico, no qual a mitologia (os heris, os mrti-
res, as vitimas sacriciais, os dolos do esporte ou da cano, os
faits divers extraordinrios ou as supersties domesticas) habita
133
as formas sociais (Legros et al., p. 100). Na avaliao de Legros
e demais autores do livro, Maffesoli se imps como o principal
terico da sociologia do imaginrio, ao sugerir que essa matria
subterrnea das coisas assegura a coerncia secreta do natural e
do cultural, do espao social e do sentimento esttico. Em Ma-
ffesoli, o imaginrio que para ele coletivo na maior parte do
tempo se constitui pela ideia de fazer parte de algo, de partilhar
uma losoa de vida, uma linguagem, uma atmosfera, uma ideia
de mundo, uma viso das coisas, na encruzilhada do racional e
do no-racional. Muito de seu entendimento a respeito do que
o imaginrio est claramente resumido em uma entrevista que
o pesquisador deu a uma revista acadmica brasileira (Maffeso-
li, 2008). Entre muitas consideraes, Maffesoli v o imaginrio
como (a) uma fora social de ordem espiritual, uma construo
mental, que se mantm ambgua, perceptvel, mas no quanti-
cvel, (b) um estado de esprito de um grupo, de um pas, de
um Estado-nao, de uma comunidade; (c) como promotor de
vnculo, cimento social; (d) como detentor de um elemento ra-
cional (assim como a ideologia), mas de tambm outros parme-
tros como o onrico, o ldico, fantasia, o imaginativo, o afetivo,
o no-racional, os sonhos; (e) o imaginrio no seria de direita
nem de esquerda, pois estaria aqum ou alm desta perspectiva
moderna; (f ) o imaginrio atravessaria todos os domnios da vida
e concilia o que aparentemente inconcilivel, por isso mesmo os
campos mais racionais, como as esferas poltica, ideolgica e eco-
nmica, seriam recortados pelo imaginrio, que tudo contamina.
Alm de coletivo, o imaginrio transita entre passado e futuro.
Nos termos de J.M.Silva (2006: 9-12), ele seria reservatrio e
motor. Como reservatrio, o imaginrio agregaria imagens, sen-
timentos, lembranas, experincias, vises do real, leituras de vida
e, atravs de um mecanismo individual/grupal, sedimentaria um
modo de ver, de ser, de agir, de sentir e de estar no mundo. Como
motor, elemento propulsor, o imaginrio retorna ao real, seria
um sonho que realiza a realidade, funcionando como catalisador,
estimulador e estruturador das prticas. Assim, arma o autor,
134
todo indivduo submete-se a um imaginrio preexistente e todo
sujeito um inseminador de imaginrios (Silva, J. M., 2006: 9
-12). Nesta questo especca do imaginrio estar olhando tanto
para trs como para frente, Patai vem dizer que o importante
no considerar a sobrevivncia do passado no presente, mas o
exame das foras e processos mitopoticos vivos que atuam em nossa
cultura, como resultado de um real dinamismo psicossocial que
opera na psique do homem moderno em grau to intenso quanto
aquele em que operou em geraes do passado remoto. Portanto,
alm de considerar o residual, inclusive em forma de memria,
necessrio tomar essas imagens primordiais como depsitos
das experincias constantemente repetidas da humanidade, cuja
direo voltada para orientar o futuro (Patai: 29).
Todas essas reexes sobre o que o imaginrio so tribu-
trias de Gilbert Durand, que prope uma teoria geral do ima-
ginrio ou uma antropologia do imaginrio. Interessanos, no
pensamento de Durand, mais do que seu inventrio crtico e
suas estruturas para apreender o imaginrio, a vitalidade por ele
atribuda ao recurso antropolgico, que nos permite avanar no
entendimento do imaginrio como um fenmeno concomitan-
temente individual e social, mtico e histrico. Ao longo de suas
obras, Durand elabora alguns conceitos de imaginrio: conjunto
de imagens e relaes de imagens que constitui o capital pensa-
do do homo sapiens; faculdade da simbolizao de onde todos os
medos, todas as esperanas e seus frutos culturais jorram conti-
nuamente desde os cerca de um milho e meio de anos que o
homo erectus cou de p na face da Terra. Como bom discpulo
de Bachelard, defende uma lgica no-linear, constelacional, em
que a nica coisa normativa o universo das grandes reunies
plurais de imagens em constelaes, enxames, poemas ou mitos.
Chega a falar em algica, a outra lgica que rege o imaginrio
em suas manifestaes mais tpicas: o sonho, o onrico, o mito,
o rito, a narrativa da imaginao e, por que no acrescentar-
mos, parte da literatura, da co cinematogrca (como faz E.
Morin), da prpria mdia e mesmo do jornalismo. Uma ideia
135
condensa, de certa maneira, o pensamento de Durand: a de traje-
toantropolgico, que ele dene como incessante troca que existe
ao nvel do imaginrio entre as pulses subjetivas e assimiladoras
e as intimaes objetivas que emanam do meio csmico e social
(Durand, 1997: 41)
66
. Este trajeto tem duas mos, partindo tan-
to do cultural como do psicolgico, uma vez que o essencial da
representao e do smbolo est contido entre esses dois marcos
reversveis. Em outras palavras, o trajeto antropolgico represen-
ta a armao na qual o smbolo deve participar de forma indis-
solvel para emergir numa espcie de vaivm contnuo nas razes
inatas da representao do sapiens e, na outra ponta, nas vrias
interpelaes do meio csmico e social (Durand, 1998: 90). Em
outros termos, o trajeto antropolgico seria o movimento em que
os smbolos, transitando entre motivaes subjetivas e objetivas,
ganham sentido; ou seja, as imagens se formam pela interao da
subjetividade com o meio material e social, o imaginrio se d na
conuncia do subjetivo e do objetivo, do mundo pessoal e do
meio csmico/ambiente.
O imaginrio, longe de aparecer como um momento ultrapas-
sado na evoluo da espcie, manifesta-se como elemento constitu-
tivo e instaurativo do comportamento especco do Homo sapiens
(Durand, 1997: 429 ). As vises que costumamos ter do Homo
sapiens privilegiam o Homo sapiens-faber, o ser racional e produtor
de ferramentas, e com isso afastamos tudo o que diz respeito fan-
tasia, ao sonho e ao imaginrio. Aqui a validade da abordagem de
Morin, quando discute a reintroduo do imaginrio e do mitol-
gico na denio fundamental do homem. Por isso, preciso falar
do Homo sapiens-demens. Cada um dos termos reconduz ao outro
sem que se saiba jamais muito bem qual o momento em que
se sapiens ou demens (Morin, 2000: 190). Ao reetir sobre o
homem imaginrio, tambm Morin aponta a complementaridade
66 Durand esclarece que a teoria do trajeto antropolgico encontra-se impl-
cita no livro O ar e os sonhos de Bachelard, tal como nas reexes de Roger
Bastide sobre as relaes da sociologia e da psicanlise.
136
entre extrospeco sociolgica e introspeco psicolgica, espao
onde estariam escondidas as mensagens secretas, a mais profunda
intimidade da alma e as carncias universais e as do sculo presente
(Morin, 1997: 245).
Na proposta particularssima de Durand, ele parte da hip-
tese de que existe uma estreita concomitncia entre os gestos do
corpo, os centros nervosos e as representaes simblicas, e elege
trs gestos dominantes do imaginrio: o postural (verticalidade),
digestivo (descida) e o copulativo (ritmo). Na base da organiza-
o das imagens, o autor percebe duas fundamentaes, ou dois
regimes: o diurno (da posio, das armas, do masculino, da ele-
vao e puricao) e o noturno (da nutrio, do feminino, do
ciclo). O regime diurno seria o das oposies, das separaes,
divises, lutas, e o noturno seria o das conciliaes, unicaes,
complementaes. Nessas convergncias e cruzamentos, Durand
postula certos protocolos normativos das representaes imagi-
nrias, agrupados em estruturas estruturas implicadas em dina-
mismo transformador. Na opinio de Durand, Bachelard quem
enxerga a plenitude das imagens e o dinamismo criador do ima-
ginrio. Inspirado em seu pensamento, Durand quer insistir na
diferena entre imagem e palavra, entre signo e smbolo e armar
que o smbolo no do domnio da semiologia, mas de uma se-
mntica especial, menos arbitrria. Sobre os mtodos elaborados
por Durand, gostaria de comentar a combinao de dois deles:
a mitocrtica e mitoanlise, prprios para serem aplicados a rela-
tos, quer literrios ou sociolgicos, e, como proponho, a textos
jornalsticos. A mitocrtica se faz sobre uma obra literria (inu-
ncia mais bachelardiana) ou um autor (textos) e a mitoanlise,
mais abrangente, se faz em terreno social amplo (sociedade). Os
estudos de seguidores do pensamento de Durand levaram a uma
ampliao da mitocrtica para a mitoanlise, reforando um olhar
histrico e sociolgico sobre os mitos mitos romnticos, mi-
tologias ociais (do nacional-socialismo ou do comunismo), a
imaginria da alquimia ou da cincia etc.
137
Desde ento, metodologicamente, toda mitanlise dever come-
ar pelo exame mitocrtico o mais exaustivo das obras ou dos
bens de uma poca ou cultura dada. Pinturas, esculturas, mo-
numentos, ideologia, cdigos jurdicos, rituais religiosos, modos,
vestimentas e cosmticos em uma palavra, todo o contedo do
inventrio antropolgico so igualitariamente convidados a nos
informar sobre tal ou tal momento da alma individual ou coletiva.
(Durand citado por Pitta:102)
O jornalismo poderia ser includo como um dos bens desse
inventrio antropolgico, pensado como uma tpica sociocultu-
ral da expresso do imaginrio social, com uma gramtica espec-
ca e com uma dinmica que perpassa concomitantemente texto
e sociedade, num continuum. Por isso a sugesto da combina-
o de mitocrtica e mitoanlise, uma vez que o texto jornalismo
transita entre sua prpria linguagem codicada e o ouvir dizer
que que serve durao e transformao do imaginrio (para
Durand, passando por vrias geraes) e serve tambm ao ouvir
dizer que no qual se fundamenta a produo jornalstica, via as
rotineiras entrevistas. Importante considerar o relato jornalstico
(de qualquer matria jornalstica: hardnews, softnews, opinativa,
sensacionalista etc) como lugar de expresso (clara ou obscura,
latente ou facilmente visvel) do imaginrio social compartilhado
por todos os sujeitos envolvidos no universo das notcias, sejam
reprteres, leitores/receptores, fontes, publicitrios, proprietrios
do veculo, editores, anunciantes.
Insisto que ambos, produtores e recepetores de notcias,
compartem imaginrios, e por isso que podemos estudar esse
mundo imaginal tanto no texto, na observao e coleta junto aos
jornalistas, na recepo. Por tudo o que foi dito anteriormente,
rearmo a relevncia e pertinncia de estudos de imaginrio no
campo do Jornalismo. Se o imaginrio tudo perpassa, a imprensa
lcus fecundo de observao desses vestgios imaginais, uma vez
que as notcias trazem toda a diversidade do mundo, da poltica
e economia arte, entretenimento e vida cotidiana. Toma-se, en-
138
to, o jornalismo como uma tecnologia de criao e reproduo
de imaginrios sociais, como fonte que alimenta com imaginrios
o cotidiano contemporneo e, ao mesmo tempo, de imaginrios
sociais alimenta a si mesmo
67
. Exatamente por isso o conceito de
trajeto antropolgico de Durand fundamental nessas reexes
aqui porque, ao considerar o transitvel entre o indivduo e o
social atravs da ponte do imaginrio, nos fornece o percurso
necessrio para compreender as imagens trabalhadas no e pelo
jornalismo.
Porm, a opo por uma teoria mais aberta para investigar
o fenmeno jornalstico, especicamente nos estudos do ima-
ginrio coletivo na imprensa, requer uma outra atitude episte-
molgica e metodolgica, mais pela via compreensiva do que
explicativa, mais bem demarcada pelo enfoque nas categorias
vida cotidiana e senso comum, ambas preciosas para os estudos
jornalsticos em geral, e mais especialmente para a pesquisa de
manifestaes de imaginrios no jornalismo. Legros et al., ana-
lisando os pesquisadores da temtica do imaginrio, dizem que
a grande maioria deles tem comportamentos que denem, em
67 Imprescindvel lembrarmos de A instituio imaginria da sociedade (Rio:
Paz e terra, 1982) de Cornelius Castoriadis, com quem concordamos
quando diz que o mundo scio-histrico est indissociavelmente entre-
laado com o simblico e que as instituies, embora s possam existir
atravs do simblico, no se reduzem a ele. No cabe discordncia tambm
por dizer que o simbolismo se crava no natural e no histrico; e que no
livremente escolhido, nem escravo da funcionalidade. Mas divergimos
quando arma que no se pode pensar as signicaes imaginrias a partir
de uma relao que elas teriam com um sujeito que as traria ou as visa-
ria. Isso seria negar toda a contribuio da antropologia e da prpria psico-
logia na compreenso de um objeto por natureza multidisciplinar. Por isso,
concordamos com Durand quando aponta que em Cornelius Castoriadis
(e tambm em Georges Balandier de Os poderes em cena) as razes po-
lticas dos poderes aparentes so to racionalizadas que se destacam sobre
um fundo imaginrio, de certa forma secundrio (Durand, 1998: 56). Para
uma leitura sobre o percurso de uma sociologia do imaginrio, ver Legros,
P. at al.
139
geral, aquele explorador possuidor de mapas imprecisos de um
territrio mal conhecido, e, portanto, perigoso. E armam que
reetir e trabalhar sobre o imaginrio supe uma grande mo-
dstia, pois o homem e a sociedade saem da iluminao fcil dos
pressupostos aos quais se empresta f em virtude de uma razo
que (a)parece, repentinamente, frgil (Legros et al., 2007: 102).
Somente uma epistemologia compreensiva, como defendida por
Sodr, pode abrir para a anlise comunicacional um caminho
terico que saiba privilegiar o emocional, o sentimental, o afe-
to e o mtico. E no s para indagar sobre o encaminhamento
poltico das emoes, como faz o pesquisador, mas igualmente
aberta para qualquer instncia coletiva por onde se movimenta o
imaginrio no caso do jornalismo, cabe investigar na imprensa
vestgios e marcas do imaginrio econmico, poltico, religioso,
cientco, tecnolgico, artstico, esportivo, da natureza etc; po-
dendo fazer recortes especcos como, por exemplo, imaginrios
de jovens, mes, ecologistas, operrios, leitores e at de jornalistas
e as imagens que tm de sua prpria prosso. o mtodo que
Maffesoli chama de impressionismo intelectual, pelo qual o pes-
quisador trabalharia ao ar livre, escapando do enclausuramento
das frmulas prontas, para dar conta das ambincias (Maffesoli,
1998: 22). Para tanto, continua Maffesoli, o pesquisador pode-
ria se socorrer da metfora como ferramenta uma alavanca
metodolgica, como foi o conceito, num tempo em que reinava
a razo abstrata e a esperana em valores universais oriundos da
losoa das Luzes (1998:156) e da descrio como tcnica.
Mais do que razo a priori, sugere o autor, entraria em ao uma
compreenso a posteriori, que se apoia sobre uma descrio rigo-
rosa (1998: 47). Metodologicamente, sabe-se que a descrio
uma boa maneira de perceber, em profundidade, aquilo que
constitui a especicidade de um grupo social. Quanto a isto, os
diversos processos etnolgicos foram disseminados por todas as
cincias sociais (1998: 123). Maffesoli entende que os jornalistas
esto cada vez mais atentos trama social e seu cotidiano,
140
concedendo, ao lado de rubricas polticas, econmicas, um lugar
no negligencivel s chamadas ocorrncias (fr. faits divers). Eu
diria que, para alm dos simples clichs jornalsticos, convm dar
um estatuto terico a esse conjunto de `ocorrncias. Isso pode ser
feito se observao for concedida a dignidade que lhe de direito.
(Maffesoli, 1998: 123 e 124).
E eu mesma diria que, muitas vezes, s aparentemente trata-
se de clichs e estertipos na imprensa. As matrias noticiosas
so carregadas de imaginrios. E uma Teoria do Jornalismo mais
aberta igualmente capaz de contribuir para dar estatuto terico
a esse conjunto de ocorrncias e acontecimentos, de declaraes,
crticas e opinies (ver trabalhos de Bird e Dardene, Carey, Co-
man, Lule, e, entre os brasileiros, Barros, A.; Machado Benetti,
M.; Moretzsohn, S.; Silva, G.; Silva, J.M., Sodr, M.). De fato,
h em tudo isso um importante interesse epistemolgico.
Assim, longe de ser uma abdicao do intelecto pode-se acreditar
que, graas a descries e comparaes precisas, seja possvel esta-
belecer uma tipologia operatria que permita apreender, com mais
justeza, o estilo de vida contemporneo. Tal descrio, pondo em
jogo metforas, analogias, poder ser um vetor de conhecimento,
muito precisamente estabelecendo grandes formas que permitam
sobressair os fenmenos, as relaes, as manifestaes gurativas da
sociabilidade contempornea. (Maffesoli, 1998:128).
Para concluir, como aconselha o prprio Maffesoli, a tarefa
requer que se leve a srio o sensvel. Isso se traduz na recusa a
opor os fatos afetivos e os fatos cognitivos mas, em vez disso,
reconhecer a dinmica que os une sem cessar. Dinmica em ao
na vida social, dinmica que deve se encontrar, de fato, no ato do
conhecimento. (Maffesoli, 1998: 194). Alm disso, o racional e
o imaginrio no devem ser tomados como categorias antitticas,
pois ambos pertencem ao universo das imagens (Silva, G., 2009:
213), uma vez que o imaginrio no nem abstrato nem concre-
141
to, nem racional nem irracional, sempre ambos. Por isso, as no-
tcias devem ser compreendidas como um exerccio de produo
de sentido e de entendimento do mundo que responde no s a
demandas pragmticas apreender a realidade objetiva e rotinei-
ra mas tambm a demandas subjetivas nos elevar para alm
do imediato dirio e nos situar dentro de imensos edifcios de
representao simblica (Silva, G. 2005: 101). Penso que, para
estudar parte do grande acervo ou repertrio imaginrio que est
presente, vivo, nas pginas da imprensa, devemos recorrer con-
tribuio da antropologia do imaginrio:
A razo e a cincia apenas unem os homens s coisas, mas o que
une os homens entre si, no nvel humilde das felicidades e penas
cotidianas da espcie humana, essa representao afetiva, porque
vivida, que constitui o imprio das imagens. (...) E ento que a
antropologia do imaginrio pode se constituir, antropologia que
no tem apenas a nalidade de ser uma coleo de imagens, de
metforas e de temas poticos. Mas que tambm deve ter a ambio
de montar o quadro compsito das esperanas e temores da espcie
humana, a m de que cada um nele se reconhea e se revigore.
(Durand, 1988: 106)
Recupero aqui uma aproximao inspirada em modo de
conhecimento do mundo e do homem prprio dos povos cha-
mados primitivos. Esses povos, segundo Lvi-Strauss, souberam
elaborar mtodos racionais para inserir, sob seu duplo aspecto de
contingncia lgica e de turbulncia afetiva, a irracionalidade na
racionalidade (Lvi-Strauss, 1989, p. 270). Tal debate me parece
importante para o jornalismo, no seu enfrentamento da questo
objetividade-subjetividade na apreenso dos acontecidos, no que
diz respeito a sua congurao como produto cultural e como
produtor de cultura.
142
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BARROS, Ana Tas M. Portanova. O iconoclasmo no jornalismo. Tese
de doutoramento Sob o nome de real: imaginrios no jornalismo e no
cotidiano. ECA/USP 2003.
BIRD, Elizabeth. The anthropology of news and journalism: why now?
In: BIRD, Elizabeth. The anthropology of news and journalism: global
perspectives. Bloomington: Indiana University Press, 2009. p. 1-19.
BIRD, Elizabeth; DARDENNE, Robert. Mito, registro e histrias: ex-
plorando as qualidades narrativas das notcias. In: TRAQUINA, Nelson.
Jornalismo: questes, teorias e estrias. Lisboa: Vega, 1993. p. 263-277.
CAREY, James. A cultural approach to communication. In: CAREY,
James. Communication as culture: essays on media and society. London:
Routledge, 1992. p. 13-36.
CAREY, James. Media, myths and narratives: television and the press.
Newbury Park, Sage, 1988.
COMAN, Mihai. News, stories and myth: the impossible reunion? In:
ERIC W. Rotherbuhler e Mihai Coman (Eds.). Media anthropology.
Thousand Oaks. CA: Sage. 2005a. p. 111-119.
DURAND, Gilbert. A imaginao simblica. So Paulo: Cultrix /
Edusp, 1988.
___________. As estruturas antropolgicas do imaginrio; introduo
arquetipologia geral. So Paulo: Martins Fontes, 1997.
___________. O imaginrio: ensaio acerca das cincias e da losoa da
imagem. Rio de Janeiro: Difel, 1998.
LEGROS, Patrick et al. Sociologia do imaginrio / Frdric Monneyron,
Jean-Bruno Reanrd. Patrick Legros e Patrick Tacussel. Porto alegre:
Sulina, 2007 (Coleo Imaginrio Cotidiano)
LVI-STRAUSS, C. O pensamento selvagem. Campinas, SP: Papi- Campinas, SP: Papi-
rus,1989.
143
LULE, Jack. Daily news, eternal stories; the mythological role of journal-
ism. New York: The Guildford Press, 2001.
LULE, Jack. News as myth: daily news and eternal stories. In: ERIC
W. Rotherbuhler e Mihai Coman (Eds.). Media anthropology. Thou-
sand Oaks.CA: Sage. 2005. p. 101-110.
MACHADO, Marcia Benetti. Jornalismo e a lgica transversal do imagi-
nrio. II Encontro Nacional de
Pesquisadores em Jornalismo, 2004, Salvador. Anais eletrnicos. Bras-
lia: SBPJor, 2004. s/ p.
___________. Jornalismo e imaginrio: o lugar do universal. In: Di-
mas Kunsch. (Org.). Esfera pblica, redes e jornalismo. So Paulo: E-
papers, 2009, p. 286-298.
MAFFESOLI, Michel. Elogio da razo sensvel. Petrpolis, RJ: Vozes,
1998.
___________. O imaginrio uma realidade (entrevista). Revista Fa-
mecos: mdia, cultura e tecnologia, Porto Alegre, v. 1, n. 15, p. 74-82,
ago. 2001.
MORETZOHN, Sylvia. Pensando contra os fatos: jornalismo e cotidia-
no, do senso comum ao senso crtico. Rio de Janeiro: Revan, 2007.
MORIN, Edgar. A inteligncia da complexidade. So Paulo: Peirpolis,
2000.
MORIN, Edgar. O cinema e o homem imaginrio; ensaio de antropolo-
gia. Lisboa, Portugal: Relgio
Dgua/Grande Plano, 1997.
PATAI, Raphael. O mito e o homem moderno. So Paulo: Cultrix, s.d.
PITTA, Danielle Perin Rocha. Iniciao teoria do imaginrio de Gil-
bert Durand. Rio de Janeiro: Atlntica Editora, 2005.
144
SILVA, Juremir Machado. A questo da tcnica jornalstica: cultura e
imaginrio. Revista Famecos: mdia cultura e tecnologia, Porto Alegre, ,
n. 39, p. 13-18, ago. 2009.
____________________. As tecnologias do imaginrio. Porto Alegre:
Sulina, 2006.
SILVA, Gislene. Jornalismo e construo de sentido: pequeno inven-
trio. Estudos em Jornalismo e Mdia. Florianpolis, vol. 2, n. 2, 2o.
semestre, 2005. p. 95-107
_____________. De que campo do jornalismo estamos falando?. Matri-
zes (USP) v. 1, 2009. p. 197-212.
______________. Sobre a imaterialidade do objeto de estudo do Jornalis-
mo. E-Comps, v. 12, 2009. p. 1-14.
____________. O sonho da casa no campo: jornalismo e imaginrio de
leitores urbanos. Florianpolis: Insular, 2009.
SODR, Muniz. As estratgias sensveis afeto, mdia e poltica. Petrpo-
lis, RJ: Vozes, 2006.
SUSCA, Vicenzo. Nos limites do imaginrio: o governador Schwarzeneg-
ger e os telepopulistas. Porto Alegre: Sulinas, 2007.
9. Imaginrio, web e telejornalismo
Letcia Renault
68
Bronislaw Baczko considera o imaginrio social uma das for-
as reguladoras da existncia coletiva. O imaginrio seria o lugar
estratgico onde os homens se apropriam de smbolos e tentam
entender os sentidos da vida em sociedade. Para o autor, o imagi-
nrio social torna-se o lugar e o objeto dos conitos sociais (...) as
referncias simblicas no se limitam a indicar os indivduos que
pertencem mesma sociedade, mas denem tambm de forma
mais ou menos precisa os meios inteligveis das suas relaes com
ela, com as divises internas e as instituies sociais. (Baczko,
1985: 309-310).
Uma das funes dos imaginrios sociais consiste em orga-
nizar e controlar o tempo coletivo no ambiente simblico. Tais
imaginrios atuam de forma ativa e contnua na memria dos
indivduos. A despeito de toda a racionalizao da vida moderna,
ela depende tanto do imaginrio, quanto as sociedades arcaicas
ou histricas. Entre seus exemplos, ele cita as cidades como proje-
68 Professora da Faculdade de Comunicao da Universidade de Brslia.
146
es dos imaginrios sociais no espao, onde a arquitetura traduz
ecazmente na sua linguagem prpria o prestgio que rodeia um
poder. (Baczko, 1985: 313).
Castoriadis compartilha com Baczko o entendimento do
imaginrio como lugar estratgico para a vida social dos homens
e acrescenta que cada sociedade dene e elabora uma imagem do
mundo natural, do universo onde vive em busca de uma ordem
no mundo, onde objetos e seres naturais relevantes para vida co-
letiva encontram signicado (Castoriadis, 1995: 179). Para Cas-
toriadis, o conjunto da experincia humana, nos diversos tipos
de sociedades, sempre dispe e subordina as nervuras racionais
segundo signicaes que dependem do imaginrio, mesmo em
sociedades guiadas ao extremo pelo racionalismo.
A racionalizao da vida em sociedade tem substitudo, de
forma contnua e crescente, sistemas simblicos tradicionais,
crenas, valores e costumes herdados da tradio histrica por re-
ferenciais ancorados na razo cientca. A razo tcnico-cientca
conforma um expansivo imaginrio social de natureza prtico-
instrumental, que atua na contemporaneidade como um sistema
referencial, cada vez mais ecaz da ao humana em sociedade.
Nesta dinmica em que imaginrio e sujeito se constituem
mutuamente nos limites deste tempo histrico racionalista e
instrumental, as instituies miditicas j se desenvolveram ao
ponto de criar, manter e transformar um sosticado imaginrio
formado por um sistema de produo de sentido, de valores,
comportamentos e prticas fortemente sustentados por premis-
sas cientcas. Tal processo legitima a padronizao de estilos
de vida em formas objetivistas de concepo da realidade. Leva
alimentao de imaginrios ancorados em modelos produzi-
dos articuladamente pelos diversos sistemas de comunicao e
que tendem a generalizar consensos sobre tematizaes levadas
esfera pblica miditica, nos diversos gneros e formatos dos
diversos suportes tecnolgicos em que so produzidos e difun-
didos, tais como a televiso, a web, o telejornalismo e o webjor-
nalismo, entre outros.
147
Nestes termos, o sujeito, suas prticas e o imaginrio que os
orienta, na interao com a esfera miditica, sofrem limitaes
prprias natureza destes consensos provisria e continuamen-
te criados e transformados nos processos formativos de padres
imaginrios hegemnicos. A televiso um meio de comuni-
cao audiovisual pela qual a civilizao exprime aos seus con-
temporneos o registro do seu cotidiano, dos prprios conitos,
crenas, inquietaes, descobertas, sucessos e fracassos. Tal como
o cinema, a televiso atua em territrios narrativos desiguais: o
da co e o da no-co. um meio que segue a trilha aberta
pelo cinema, pelo jornal e pelo rdio, produzindo uma escritu-
ra audiovisual feita a partir, em geral, dos objetos que esto no
mundo real.
A televiso pode ser considerada um dos lugares estratgicos
de que fala Baczko, onde o brasileiro, ao entreter-se e informar-
se, apropria-se de smbolos e produz signicaes. Dar signi-
cado implica entrar no plano do simblico; lanar mo do ima-
ginrio, daquilo que passa pela imaginao humana. A televiso
organiza o tempo coletivo com sua narrativa seriada. Novelas,
shows, lmes e telejornais so produzidos por uma lgica indus-
trial que prev sua exibio entremeada por blocos de anncios
publicitrios. A televiso interfere sobre a memria coletiva; ele-
gendo e explorando temas, dizendo ao telespectador a todo tem-
po em que ele deve prestar ateno. Ela deve ser vista como fonte
produtora e reprodutora de imaginrio que alimenta e atualiza o
horizonte cultural do meio em que atua.
Edgar Morin compara o impacto da inveno do avio do
cinema na vida do homem do incio do sculo XX. Para ele, so
as duas inovaes tcnicas que retiraram o homem da terra.
(Morin, 1957: 24.). Morin explica que enquanto o avio entrou
sensatamente no mundo das mquinas, a obra criada pelo cine-
ma, ou seja, o lme que ascende cada vez mais alto (Morin,
1957: 24.) e permite ao homem escapar para um lugar povoado
por estrelas e por msica. Para Morin, o cinema escapou sina
cumprida pela maior parte das invenes que se transformam
148
em ferramentas e acabam arrumadas em hangares, pois ele
uma arte geradora de emoes e sonhos.
No cinema, a objetiva, a lente da cmera posta a servio
do registro dos homens e dos objetos que esto no mundo real,
mas vai alm da realidade e, ao envolver o espectador, o leva para
o campo do imaginrio e atua sobre o simblico. O espectador
constitui, segundo Morin, o prprio cinema. O texto cinemato-
grco s se realiza no e pelo espectador.
Assim como Morin, Jacques Aumont lana mo de uma
comparao entre mquinas, para explicar a mudana qualitati-
va, que a arte das imagens tcnicas audiovisuais em movimento
possibilitou no olhar e memria dos homens. Se Morin com-
para a criao do cinema inveno do avio, Aumont busca
na estrada de ferro, o ponto de partida para compreender o que
molda o imaginrio das sociedades modernas. Para Aumont, foi
a locomotiva que enquadrou o olhar do homem a partir do s-
culo XIX. Sentado, passivo, transportado, o passageiro de trem
aprende depressa a olhar deslar um espetculo enquadrado, a
paisagem atravessada, analisa o autor. (Aumont, 2004: 53.)
O olhar do homem moderno passa a ser enquadrado pela
ao da objetiva, a cmera de cinema e mais tarde a cmera de
televiso, que passa a enquadrar o que deve ser visto. No cinema,
surge uma cmera voltada para produzir sonhos. Na televiso,
uma cmera a servio de gneros mais desacreditados, como a
teledramaturgia ou como j dissemos, a informao. A cmera e
sua objetiva so os mediadores que no cinema e, mais tarde na te-
leviso, especicamente a cmera do telejornalismo, vo alimen-
tar o imaginrio das sociedades modernas. A cmera de cinema
faz sonhar, fugir do cotidiano, da realidade que pode se tornar
insuportvel em um mundo complexo.
J a cmera do telejornal aproxima o que est distante, traz
para perto realidades desconhecidas e as coloca dentro do espao
privado do homem. A cmera e sua objetiva passam a operar no
imaginrio dos homens, uma tnue linha entre a realidade e o so-
nho, entre o real e o espetacular, entre o indito e o banal. Com
149
a cmera e as imagens tcnicas em movimento materializadas em
lme, depois em ta analgica e mais recentemente, em bits nu-
mricos digitalizados; a montagem cinematogrca ou a edio
televisiva reproduzem um mundo fragmentado em planos, edita-
do em takes, uma narrativa exibida numa construo calculada.
No que interessa especicamente a este trabalho, ou seja, o
universo de produo de informao jornalstica na televiso e na
web
69
, a edio pode ser considerada uma meticulosa construo
de um relato audiovisual, onde imagens diversas so articuladas
umas s outras, uma aps a outra, levando o olhar do telespec-
tador em um giro sem obstculos por onde a televiso se prope
estar em seu imediatismo, sua instantaneidade e simultaneidade,
no papel de fazer circular e provocar sentidos sobre o mundo.
(Fiske, 1990: 1). O aparato tecnolgico permite televiso exi-
bir o fato imediatamente no momento em que ocorre de forma
simultnea para milhes de telespectadores que precisam estar
disponveis, pois a mensagem televisiva instantnea.
Com a criao da web, o hipertexto possibilita ao homem,
um novo tipo de acesso informao mediada pela tcnica. O
hipertexto revoluciona a vida da sociedade a partir do nal do
sculo XX, ao abrir uma porta que atrai o olhar do homem para
a internet. A partir dele, jornais impressos, redes de televiso e de
rdio passaram a utilizar a web e os processos de informao jor-
nalstica sofreram mudanas denitivas, medida que o hipertex-
to reuniu em uma mesma home page, ou seja, na primeira pgina
69 A web um meio de comunicao concebido a partir de um novo paradig-
ma que a internet. Internet e web no so sinnimas. So relacionadas,
pois uma contm a outra. A internet conecta milhes de computadores em
todo o mundo numa infraestrutura em rede que se tornou uma plataforma
a partir da tecnologia digital. A World Wide Web foi lanada pela Organiza-
o Europeia para a Investigao Nuclear - CERN em 1991, e se tornaria
popularmente conhecida como web, um ambiente signicativamente novo
para a produo, distribuio e recepo no jornalismo.
150
que aparece ao se acessar um site
70
, textos escritos, fotogrcos,
ilustraes grcas, udios e imagens em movimento.
O hipertexto possibilita que os diversos formatos informati-
vos consolidados pelos meios de comunicao tradicionais con-
vivam juntos em um mesmo espao, criando um ambiente de
multimidialidade. Texto e fotograa, por exemplo, j conviviam
em uma pgina de jornal, assim como imagem em movimento
e som na televiso, mas na web eles se conjugam no ambiente
multimdia do hipertexto, causando transformaes na produ-
o, edio e divulgao da informao jornalstica.
O hipertexto tambm apresenta um novo enquadramento
para o olhar do homem sobre o mundo mediado pela tcnica. A
informao enquadrada pela televiso ganha outros aspectos ao
ser acessada pelo computador. Trata-se de um acesso individuali-
zado e personalizado. Uma forma de recepo diversa daquela de
quem espectador de cinema e de televiso, que, na web, torna-se
internauta. Este no se submete a um script dado para ento in-
teragir, produzir e assimilar contedos. Ele navega pela web e es-
colhe o qu, quando e quanto tempo vai dedicar aos contedos.
A ao do internauta tem uma postura inicial diversa daquela
que, historicamente, teve como telespectador, pois de antemo
h a possibilidade de interagir construindo seu prprio percurso.
To logo se conecta a web, o internauta j est selecionando, edi-
tando e personalizando suas escolhas, atuando como produtor e
no apenas receptor de contedos. No caso dos sites jornalsticos,
a web desloca o imaginrio do homem da tela compacta, slida
para a tela uda do monitor do computador. Opera-se uma alte-
rao signicativa de ponto de vista.
70 Este texto adota a palavra site (stio) para designar o website. O website
denido como um conjunto de pginas na web, isto , de hipertextos aces-
sveis geralmente pelo protocolo HTTP na internet. O conjunto de todos
os sites pblicos existentes compe a World Wide Web. Site o lugar, local,
endereo na web. Exemplo de site: www.unb.br. o endereo eletrnico
da Universidade de Braslia na web.
151
A tela do computador pode ser considerada uda porque
permite a comunicao on line, em tempo real, aberta intera-
o imediata do homem. uma tela uda porque democratiza
a produo de contedos informativos, medida que pode ser
compartilhada por todos de forma interativa. Cenrio diverso
do propiciado pela televiso, onde a produo de contedos
centralizada por grupos econmicos, o uxo de contedos se d
predominantemente do produtor para o receptor e as possibilida-
des de resposta dos telespectadores acontecem de forma desigual
no tempo e espao sociais.
A proposta de contrapor televiso e web pode causar estra-
nheza pela natureza distinta destes sistemas tecnolgicos de co-
municao com nvel de acesso bastante desigual no pas. A te-
leviso aberta est em 95,1% dos domiclios brasileiros, segundo
a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domiclios PNAD\
IBGE 2008, enquanto a web ainda um fenmeno urbano des-
frutado pelas classes favorecidas econmico e socialmente, mas os
dados tm demonstrado que, com as novas tecnologias de infor-
mao, o homem da sociedade complexa cada vez mais passa de
telespectador a internauta conectado.
O Comit Gestor da Internet no Brasil informou que em
2010, os domnios .com.br atingiram a marca de 2 milhes.
71
A Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informao e da Co-
municao no Brasil 2009 TICs 2009
72
realizada pelo Comit
aponta que 30% dos domiclios possuem computador e quando
tem acesso web, o brasileiro a utiliza intensamente. Segundo
71 Um domnio um nome que serve para localizar e identicar conjuntos de
computadores na Internet. O nome de domnio criado com o objetivo de
facilitar a memorizao dos endereos de computadores na rede. Sem ele,
seria necessrio memorizar uma sequncia grande de nmeros. O domnio
.com.br rene os computadores e usurios localizados a partir do Brasil.
72 A Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informao e da Comunicao
no Brasil 2009 realizada pelo Comit Gestor da Internet no Pas est dis-
ponvel em: http://www.cgi.br/
152
a amostragem revelada pela TICs 2009, 58% dos brasileiros que
tm acesso individual web conectam-se diariamente e destes
48% gastam de 1 a 5 horas por semana navegando. A maioria,
41% j o faz da prpria casa.
A web quebra com a primazia do cinema e da televiso sobre
a linguagem audiovisual. O ambiente hipertextual, multimiditi-
co, capaz de aglutinar os diversos cdigos lingusticos atravs da
digitalizao um espao que demonstra fortemente uma natu-
reza audiovisual. E atravs desta natureza a web subverte, solapa
os padres impostos historicamente pela televiso ao telejornalis-
mo. A produo de contedo jornalstico audiovisual est disse-
minada pela web. medida que a banda larga
73
se expande, cada
vez mais, permite a exibio de contedos de telejornais, que so
as reportagens produzidas em vdeo editadas entre 1:10 a cerca
de 2:00 no padro adotado pelo telejornalismo brasileiro, tama-
nho que j alcana resoluo e velocidade para a exibio on line.
No campo que interessa a este ensaio, a web tem produzi-
do transformaes signicativas desde a produo de conte-
dos, apresentao e recepo de telejornais. O telejornalismo
broadcasting,
74
detentor de audincias macias na segunda metade
do sculo XX, est em busca do olhar do internauta. Esfora-se
para exibir na web, contedos veiculados em broadcasting e passa
a produzir contedos especcos para o ciberespao como pode
ser visto nos sites das redes abertas. Alguns deles: http://www.
73 O termo banda larga tem recebido diferentes explicaes de acordo com
o contexto tecnolgico a que se refere. Este artigo o utiliza para designar
a conexo internet com velocidade superior ao padro das linhas tele-
fnicas convencionais (56 Kbps - kilobits por segundo), o que permite
transmitir dados com rapidez e alcanar conectividade web. Permite a
transmisso de imagens e udios, portanto; de contedos telejornalsticos.
74 a televiso que se recebe sem pagar. Do ingls, broadcast (transmitir)
sistema de transmisso de televiso e rdio em sinal aberto disponibilizado
por antenas de transmisso, em que o contedo distribudo ao mesmo
tempo para milhares de receptores. Diferente de narrowcast, a transmisso
fechada, por cabo.
153
g1.com.br, para onde converge o telejornalismo da Rede Glo-
bo de Televiso; http://www.r7.com.br, destino dos contedos
jornalsticos da Rede Record de Televiso na web e o endereo
http://www.tvbrasil.org.br, onde se acessa a produo jornalstica
da TV Brasil, o canal pblico de televiso do Brasil.
O territrio audiovisual construdo pelo telejornalismo nas
emisses abertas de televiso foi invadido pela web. Para com-
preender este novo ambiente de produo e acesso informao
telejornalstica, este trabalho entende que um caminho pode ser
a compreenso do universo simblico produzido pelo telejorna-
lismo, gnero televisivo hoje em processo de adequao web.
O TELEJORNALISMO COMO UM IMAGINRIO EFETIVO
O telejornalismo um gnero com espao demarcado na te-
leviso. Ele se ocupa de dar corpo e face informao, um gnero
narrativo ancorado na realidade. John Fiske diz que a televiso
pode ser chamada de meio essencialmente realstico, porque tem
a habilidade de transmitir um convincente senso do real. (Fiske,
1990: 21.) Esta denio se aplica ao telejornalismo, pois ele
o gnero televisual que se coloca como o lugar de fala em que o
objetivo propiciar conhecimento sobre a realidade, onde o ho-
mem se informa, busca saber o que ocorre no presente no mun-
do. Uma realidade que pode estar na esquina da rua onde mora
ou do outro lado do planeta, mas o telejornal promete colocar
dentro de casa, na frente do telespectador dia aps dia.
Ao aproximar o telespectador dos fatos da realidade, o tele-
jornal impe a sua realidade ao pblico, uma realidade mediada
tecnicamente por cmeras, reprteres, ncoras, apresentadores e
ilhas de edio. O telejornal pode ser ainda considerado um lu-
gar onde ocorrem diariamente em horrio estabelecido, atos de
enunciao a respeito de assuntos diversos, em um emaranhado
de temas e vozes levados ao ar de forma selecionada e organiza-
da pela televiso em um modelo industrial. Um telejornal um
conjunto de blocos de reportagens entremeados por blocos de
154
anncios comerciais. O pacto do telejornal com o telespectador
noticiar fatos verdadeiros.
A base do telejornalismo a imagem. Sem imagem, sem o re-
gistro materializado pela cmera, a principio, no h histria a ser
contada pela televiso, no h notcia. O papel da cmera segun-
do Edgar Morin, o de transgredir a unidade de lugar. (Morin,
1957: 83). Atravs da ao da cmera, a televiso transporta o
telespectador a qualquer ponto geogrco, a qualquer perodo de
tempo. Aqui comea a fabulao. O telespectador se mantm no
seu ambiente familiar em que o aparelho de TV uma presena
fsica e tambm simblica, atravs do qual chega o mundo, com
os seres e os objetos que o habitam e os acontecimentos que se
sucedem.
Assim como o cinema, a TV consegue produzir a metamor-
fose do tempo e do espao: aproxima o telespectador em um tem-
po prprio. Um tempo recortado no mundo. O protesto acon-
tece do outro lado do globo, mas acompanhado daqui ao vivo,
imediatamente ao momento em que acontece e simultaneamente
para milhares de aparelhos; e ser exibido novamente no jornal
das oito da noite, na edio das dez horas e quantas vezes a televi-
so achar necessrio. Na reiterao dos fatos, a televiso amplia e
reverbera o que considera interessar a todos. O que a objetiva da
cmera enquadra, a ilha de edio reconstri e chega ao telespec-
tador com o aval de um ncora, passa a importar, ganha lugar no
mundo mediado pelas imagens televisivas.
A imagem registrada pelo telejornalismo concebida segundo
o que Ferno Pessoa Ramos chama de posio prossional, em
que as imagens so produzidas com uma inteno inicial na to-
mada ou no momento do take pretensamente objetiva operando
cdigos jornalsticos e pretendendo-se despida de posicionamento.
(Ramos, 2005:155). Estes cdigos selecionam no mundo da vida o
que deve interessar de acordo com critrios bem denidos histori-
camente pelo jornalismo: o ineditismo, o espetacular, o poder po-
ltico, o poder econmico e at a localizao geogrca a partir dos
centros industrializados onde cam as sedes das redes de televiso.
155
Nem tudo o que ocorre no mundo vai ser divulgado pelo
telejornal. Ele seleciona o que exibe segundo critrios prprios do
jornalismo. Assim, em um determinado dia, o brasileiro pode ser
informado sobre o fato de que em Pequim, na capital da China,
um homem passou cinco horas preso em um elevador e, nesta
mesma edio de telejornal no receber qualquer informao so-
bre o que ocorre em um dos pases vizinhos na Amrica Latina
ou no interior do Brasil. As objetivas das cmeras de televiso
passaram a se importar cotidianamente com a China economica-
mente forte, enquanto os pases pobres da Amrica do Sul, apesar
de mais prximos geogracamente, no possuem o mesmo valor
notcia, ou seja, atrativos para serem noticiveis.
a partir deste universo de produo de imagens jornals-
ticas que a televiso tece um imaginrio prprio e alimenta o
do homem moderno. Tal imaginrio, o telejornalismo atual se
esfora por convergir para a web. Algumas categorias podem ser
identicadas nesta tessitura e sero discutidas a seguir. So elas:
o lugar de fala do telejornal, a ritualizao no e pelo telejornalis-
mo, a paisagem instituda e a vida e a morte como critrios de
noticiabilidade.
O LUGAR DE FALA
O lugar de fala do telejornal demarcado na grade televisiva
por vinhetas. As vinhetas, os sons e a construo esttica visual
do telejornalismo diferem de todos os outros gneros narrativos
na televiso. A comear pelo estdio, cenrio rotineiro, familiar,
repetitivo, de onde diariamente, os ncoras surgem para noticiar
os fatos. O cenrio do telejornal um lugar construdo, idea-
lizado para abrigar uma forma especca de se contar histrias
no mundo contemporneo. o lugar isolado, hermeticamente
fechado e ao mesmo tempo, iluminado como qualquer cenrio
feito para a produo de um lme ou de um comercial para TV.
Os sons do mundo no devem interferir no estdio do telejornal.
A luz natural no pode entrar para interferir no processo de cons-
156
truo da iluminao ideal, digna do espetculo da notcia, que
tratada como o produto nobre fabulado, fabricado para deleite
do telespectador.
Os cenrios do telejornalismo se caracterizam por possuir
sempre uma mesa, que chamada de bancada. Trata-se de um
lugar institucionalizado de onde o ncora narra os fatos que mar-
cam a histria diria, seja na cidadezinha do interior em um jor-
nal de repercusso local ou em uma rede de televiso que trans-
mite para todo o globo. A bancada do telejornal se consolidou
ao longo da histria do telejornalismo como um lugar de fala,
de onde diariamente se lana para o telespectador aquilo que a
televiso seleciona como relevante para que o homem moderno
tome conhecimento do que acontece no mundo em que vive.
Se em tempos ancestrais, o homem se reuniu em volta de
fogueiras para interagir com os seus, hoje ele se senta frente da
TV ou acessa o laptop informando-se sobre os fatos do mundo.
Se em sociedades tradicionais, o homem esperava por determina-
do momento do dia em que um mestre, um escolhido, pregaria
do alto de um minarete para orientar a vida local, hoje, o homem
espera no s o noticirio, mas todo tipo de orientao em frente
TV. O cenrio dotado de uma bancada, de onde fala um ncora
de telejornal passou a simbolizar nesta sociedade, um lugar insti-
tucionalizado no qual se deve prestar ateno. Se a mdia con-
siderada uma instituio determinante na sociedade moderna, o
cenrio do telejornal deve ser compreendido como um lugar a
partir do qual a televiso produz sentidos e onde o homem se
alimenta para produzir signicao na atualidade.
Transposto para a web, o cenrio do telejornal se dilu nas
pginas hipertextuais e multimiditicas dos sites jornalsticos. O
ambiente do hipertexto na web plural, no prioriza um nico
lugar de fala. Resultado: a tela uda do computador retira dos
ncoras do telejornalismo a concretude possibilitada pela tele-
viso e os transforma em apenas mais um dos diversos elemen-
tos disposio do internauta. Na web, o cenrio do telejornal
apagado, perde a grandiosidade, em meio multimidialidade.
157
No computador os papis se invertem. Se na televiso, ncoras e
reprteres atuam sobre o pblico com o roteiro pr-estabelecido,
na web passam a car a merc do interesse do internauta em seu
roteiro de navegao. No h mais audincia assegurada como na
televiso hegemnica.
A RITUALIZAO
a partir do cenrio, que o telejornal apresenta ao telespec-
tador uma ritualizao diria. No telejornalismo, devem-se ob-
servar ritos de duas naturezas: uma interna e outra voltada para a
sociedade. O telejornalismo se constitui como um rito intermi-
nvel desde que a televiso foi criada e alcanou hegemonia.
um gnero que dia aps dia, em horrios determinados e conso-
lidados, est presente no vdeo em busca da ateno do telespec-
tador. No Brasil, no dia que em o primeiro canal de televiso foi
inaugurado, um telejornal entrou no ar.
75
Telejornais em horrio
nobre
76
existem desde a dcada de 60 do sculo passado, exibidos
pelas emissoras Bandeirantes e Globo. O Jornal da Band est no
ar desde 1967, exibido de segunda-feira a sbado, em horrios
que variaram entre as 19h e 20h. Atualmente vai ao ar s 19h20.
J o Jornal Nacional da Rede Globo de Televiso entrou no ar
em 1969 em rede nacional exibido diariamente s 20h15min,
exceo dos domingos.
Disperso no tempo, o telejornal se constitui como gnero
televisivo de primeira necessidade no cardpio cultural dirio do
brasileiro, igualando-se na grade de programao das emissoras a
mais popular das atraes televisivas: a telenovela. Trata-se de um
75 Trata-se do telejornal Imagens do Dia produzido pela TV Tupi, primeira
emissora instalada na Amrica Latina. O telejornal entrou no ar no dia 19
de setembro de 1950, no dia seguinte inaugurao ocial da emissora.
76 Considera-se horrio nobre, o prime-time, o horrio noturno entre 20hs e
22hs, quando a maioria dos cidados chega do trabalho, ca em casa com
tempo livre e a televiso alcana as maiores audincias.
158
ritual to consolidado que a parceria telenovela/jornal local/te-
lenovela/jornal nacional/telenovela tornou-se o modelo padro
de programao da televiso brasileira no horrio nobre. este
o modelo que sustenta a grade de programao nas emissoras no
pas em seis dos sete dias da semana.
A segunda forma de ritualizao promovida pelo telejornal
est na seleo e no tratamento dado a determinados contedos
exibidos. O telejornalismo ritualiza acontecimentos que marcam
a vida social e com isto mobiliza o pblico, por exemplo, como
nao. Tem sido atravs do aparelho de televiso que o brasileiro
acompanha e participa simbolicamente de ritos coletivos diver-
sos. Desde a doena, morte e sepultamento do primeiro presi-
dente civil que tomaria posse aps a ditadura militar, at os ritos
ligados a manifestaes culturais e religiosas. o Carnaval, so as
grandes procisses, as festas de santos, a Copa do Mundo.
A eventos como estes, o telejornal reserva tratamento diferen-
ciado, mais extenso, aprofundado, exaustivo, na maioria das vezes,
repetitivo. Isto pode ser identicado pelo nmero signicativa-
mente maior de reportagens exibidas sobre estes eventos, pelo uso
de plantes de notcias e transmisses ao vivo fora dos limites dos
horrios de exibio do telejornal. So eventos que o telejornalismo
estende por perodos maiores na programao televisiva.
De todos, o futebol o evento popular que o telejornalismo
mais alimenta como um rito imprescindvel. Para tal, o esporte
mais praticado no pas recebe um tratamento diferenciado. O
futebol tema pautado diariamente em toda a hierarquia da tele-
viso no Brasil, que vai dos telejornais locais, aos estaduais at os
de transmisso nacional. Entre as diversas editorias contempladas
pelo telejornalismo, tais como: a poltica, a economia, a polcia,
o meio ambiente, e a cultura s os esportes ganham programas
dirios exclusivos em todas as emissoras. Na maioria destes tele-
jornais, a cobertura jornalstica trata unicamente dos times e das
competies de futebol.
Na sociedade em que a tecnologia a base da maioria das
atividades, em que a comunicao se d mediada pela tcnica, o
159
telejornalismo o lugar tecnolgico sem fronteiras das transmis-
ses televisivas, para onde foram transportados os rituais coleti-
vos que um dia foram contemplados em naves de igrejas e nas
praas pblicas. Um lugar de fala que com a web estende-se pelo
ciberespao.
A televiso tem ritualizado os insucessos e malogros sociais,
reexos dos fundamentos da sociedade brasileira, tais como o pa-
triarcalismo, a falta de transparncia no uso dos bens pblicos,
a corrupo e toda gama de violncia gerada pela desigualdade
social e falta de acesso educao. (Carvalho, 2007:19-31.) A
ritualizao da violncia urbana tem sido tema recorrente no te-
lejornalismo. A dor da perda coletiva vivenciada simbolicamente
pelo pblico substituda pela indignao ou o medo, tambm
compartilhados de forma coletiva.
A mesma ritualizao diria acontece na cobertura de escn-
dalos de corrupo em que os polticos que receberam o voto po-
pular escondem dinheiro de origem duvidosa em malas, cuecas
e meias. E a tecnologia do audiovisual aquela capaz de agrar
e deixar vir a pblico as negociatas nos gabinetes do poder. As-
sim, a cmera do telejornal tem cumprido uma dupla e contra-
ditria funo junto ao imaginrio do telespectador: naturaliza e
denuncia. Ao ritualizar o cotidiano o naturaliza, transformando-
o numa condio natural, imutvel da sociedade brasileira. Ao
agrar o desconhecido dos olhos da maioria, denuncia, apresenta
o fato novo, ao mesmo tempo em que alimenta o moto contnuo
da ritualizao telejornalstica.
A PAISAGEM INSTITUDA
Mediante a ritualizao dos temas, o telejornalismo elege
determinadas paisagens no mundo. Meio de comunicao que
aproxima homem e acontecimento em tempo real, no tempo e
no espao geogrco, a televiso vista como uma tecnologia
capaz de difundir a pluralidade. Capaz de aproximar, de divulgar
conhecimento sobre a existncia do diverso. No entanto, ao fazer
160
esta aproximao atravs de um modelo industrial, o ritual do te-
lejornal alimenta o imaginrio coletivo reduzindo, simplicando
paisagens e atores.
O singular institudo no lugar do que plural. A imagem
de uma cidade, lugar heterogneo, complexo passa a ganhar
unanimidade no vdeo. Uma cidade como o Rio de Janeiro, por
exemplo, retratada pelos seus extremos. Ora por imagens plas-
ticamente perfeitas de uma cidade maravilhosa localizada a beira
mar. Ora pelas imagens da violncia gerada pelo trco de dro-
gas. So estas as verses da cidade que alimentam o imaginrio
coletivo. No h outras faces do Rio de Janeiro a serem exibidas
nos telejornais.
J Braslia, a capital federal, tem ganhado no vdeo a con-
traditria imagem de sua modernidade arquitetnica solapada
pelo atraso das prticas polticas que no se modernizaram junto
com a cidade planejada. A Braslia enquadrada pela cmera do
telejornal exibe a contradio entre os grandes espaos pblicos
e as linhas retas dos prdios modernistas, esvaziados pela ao
poltica insatisfatria da mquina pblica ineciente. A cmera
dos telejornais, na maioria das vezes, enquadra a capital isolada
nos espaos do poder federal, pouco exibindo o mundo da vida
fora da Esplanada dos ministrios. O resultado que o telejornal
passa a instituir estas imagens no imaginrio coletivo e o enqua-
dramento exibido por ele passa a ser validado pelo telespectador.
VIDA E A MORTE COMO CRITRIOS DE NOTICIABILIDADE
A ao de instituir a paisagem atua em consonncia com a
ritualizao dada a determinados temas e se somam a uma tercei-
ra categoria na fabricao de sentidos pelo telejornalismo. So os
critrios de noticiabilidade utilizados pelo telejornal para eleger
o que deve ser noticiado. Pode-se elencar como critrios de noti-
ciabilidade: o ineditismo, o espetacular, o poder poltico, o poder
econmico e at a localizao geogrca das sedes das redes de
televiso. Tais critrios de noticiabilidade so povoados por dois
161
temas ancestrais: o da vida e o da morte. Pode-se considerar que
a questo da vida e da morte do homem percorre a maioria das
matrias jornalsticas.
O telejornalismo trata a questo da morte de forma evidente.
O que h em comum entre uma notcia sobre um acidente com
uma aeronave de uma companhia francesa na costa brasileira, a
morte inesperada de um astro da msica pop internacional e um
cerco policial a um sequestrador em um conjunto habitacional
na periferia da cidade de So Paulo, que mantm uma jovem sob
a mira de um revlver? A morte de seres humanos o tema re-
corrente entre estes trs fatos to diversos que conviveram juntos
por um perodo de 2009 em telejornais do Brasil.
A dualidade vida/morte transita pelo telejornal o tempo
todo. No s os crimes, os atos de violncia, o desenrolar das
guerras so tratados pelo prisma desta dualidade. Trata-se de um
ponto de vista que perpassa todos os assuntos pautados pelo te-
lejornal, sejam as questes da economia, do exerccio poltico ou
do ambientalismo. Vida e morte so critrios que norteiam o jor-
nalismo e, como gnero informativo, foram transpostos para o
webjornalismo.
CONSIDERAES FINAIS:
O telejornalismo deve ser considerado lugar estratgico em
que o homem se apropria de informaes simblicas, produz seu
prprio texto e entende o sentido da vida coletiva. No se trata
mais do homem visto por Jacques Aumont nos primrdios do ci-
nema, um homem sentado no trem, vendo o mundo enquadrado
pela janela a seguir em uma direo segura, sabedor do destino
que o trem seguiria. O mundo apresentado pelo telejornalismo
fragmentado, pode levar a inmeros destinos, graas tecnologia
e transgresso que a cmera imps ao narrar o cotidiano no
homem na terra.
Sabe-se que a inovao tecnolgica em comunicao gera de-
mocratizao do acesso informao. A televiso a cabo trouxe
162
ao Brasil canais legislativos, comunitrios, de uso das universi-
dades, criou a concorrncia com o negcio da televiso aberta
monopolizado. A Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Infor-
mao e da Comunicao no Brasil 2009 revela que a proporo
de usurios de computador no pas j pouco superior metade
da populao, 53%, e a de pessoas que j utilizaram a Internet
alguma vez na vida de 45%.
A web chega para subverter a lgica do telejornal, pois pos-
sibilita um acesso informao dotado de uma liberdade desco-
nhecida do telespectador. A liberdade de escolher contedos e sa-
bore-los livres das imposies de horrios impostas pelo broad-
casting. Se a cmera de televiso reenquadrou o olhar do homem
descrito por Jacques Aumont, a web o leva a um giro de cento e
oitenta graus at a nova condio de internauta protagonista das
escolhas diante da tela uida. Condio que leva o telejornalismo
hegemnico a se reinventar como lugar de fala em uma espcie
de simbiose com a web. Ela oferece ao telejornalismo espaos de
informao novos que alimentam o imaginrio do telespectador
internauta.
E o telejornal passa a oferecer contedos especcos para a
web. Atravs dela ganha uma nova forma de interagir com o p-
blico, recebendo e acatando sugestes. Para a sociedade imersa na
tecnologia, televiso e web passam a se complementar, na uidez
da informao audiovisual que as permeia. E juntas, televiso he-
gemnica e web controlam atravs da informao, o tempo cole-
tivo alimentando os imaginrios.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AUMONT, Jacques. O olho interminvel. So Paulo: Cosac Naify,
2004.
BACZKO, Bronislaw. Imaginao social. In: Enciclopdia Einaudi, s. 1.
Lisboa: Imprensa Nacional\casa da Moeda, Editora Portuguesa, 1985.
CAMPBELL, Joseph. O poder do mito. So Paulo: Palas Athena, 1990.
163
CARVALHO, Jos Murilo de. Fundamentos da poltica e da sociedade
brasileira. In: Avelar, Lcia e Cintra, Antnio Octvio (Org.). Sistema
Poltico Brasileiro: uma introduo. So Paulo: Ed.UNESP, 2007. ed.2.
p.19-31.
CASTORIADIS, Cornelius. A Instituio Imaginria da Sociedade. RJ:
Paz e Terra, 1982.
CASETTI, Francesco; DI CHIO, Federico. Anlisis de la Televisin.
Instrumentos, mtodos y prcticas de investigacin. Ed. Paids Iberica.
1999.
FISKE, John. Television Culture. London, Routledge. 1990.
MONTORO, Tnia. Cmera na Mo e Violncia no Telo. Texto apre-
sentado ao NP Cultura da Mdia, Comps, 2006.
MORIN, Edgar. As Estrelas: Mito e Seduo no Cinema. SP: Jos Olim-
pio editora, 1990.
MORIN, Edgar. Cinema ou o homem imaginrio. Lisboa: Relgio
Dgua, 1957.
PITTA, Danielle Perin Rocha. Iniciao teoria do imaginrio de Gil-
bert Durand. Rio de Janeiro; Atlntica Editora, 2005.
RAMOS. Ferno Pessoa. (org.) Teoria Contempornea do Cinema. Vol.
II. So Paulo: Ed. Senac, 2004.
RIBEIRO, Lavina Madeira. Cincia como Critrio de Verdade no Ima-
ginrio das Representaes Miditicas. Curitiba, PR, Revista Interin:
PPGCOM-UTP, n 8, dezembro de 2009, http://www.utp.br/interin/
revista_interin.htm.
10. Imaginrio inicitico, imerso e
cibersocialidade: o exemplo do jogo
online World of Warcraft
Frdric Vincent
77
A civilizao moderna achou que poderia se livrar facilmen-
te do imaginrio, essa louca da casa, essa mestra de erros e
falsidades, com a difuso massiva do iconoclasmo no esprito
do tempo. Ela tambm se adiantou exageradamente quando pre-
tendeu radicalidade racional do progresso tcnico. Este no se
limita a veicular o racionalismo to defendido pelo progressismo
da modernidade. Ao contrrio, percebemos bem agora como o
progresso tcnico tornou-se meio para remisticar o mundo, re-
encant-lo, reinvestir a magia, o emocional e o fantstico na vida
cotidiana. A legitimidade que tanto se atribua razo inteligvel
rui aos poucos para ceder lugar a uma posmodernidade que pode
ser entendida como zona de alta presso imaginria (Gilbert
77 Doutor em sociologia da Universidade de Montpellier, pesquisador do
CEAQ, co-responsvel pelo GEMMI (groupe dtude sur le mythe et le
monde imaginal) na Universidade de Paris 5. Publicou: Le Voyage initia-
tique du corps. Vers une philosophie du lien, Detrad, 2009; La structure
initiatique du manga in Socits n106, de boeck, 2010. (Texto traduzido
do francs por Florence Dravet).
166
Durand). No medimos ainda a potncia mgica e emocional do
progresso tcnico como um meio que nenhuma sociedade havia
at aqui possudo na histria da espcie
78
.
A modernidade insuou uma onda de dessacralizao ao
Ocidente que no poupou o modelo religioso e social da inicia-
o. nesse sentido que Mircea Eliade entende um desapareci-
mento da iniciao, ou pelo menos, uma profunda degradao
dos ritos iniciticos. No entanto, Eliade observa que os temas ini-
citicos reaparecem em romances, novelas e outros poemas
79
. Um
imaginrio inicitico parece presente no mais na vida institucio-
nal, mas no cotidiano, principalmente atravs da literatura e do
cinema. preciso acrescentar a esses, tambm, a emergncia das
novas mdias tal como a web, os ipods, iphones e outros consoles
de vdeo. Um inteiro conjunto de mdias participa da difuso de
um imaginrio inicitico que se faz cada vez mais pregnante. Os
sucessos dos universos de Star Wars, Harry Potter e O Senhor dos
Anis so as maiores provas disso. Uma nostalgia da renovao
inicitica parece fragrante nas sociedades posmodernas. preci-
so aqui entender a posmodernidade como a emergncia de um
sonho em torno da gura do iniciado (sonha-se em encarnar um
guerreiro ou um bruxo, sofrer provaes fsicas, transformar-se,
sentir-se pertencer a um cl) que vem destituir os sonhos moder-
nos em torno da asceno social (o goldenboy, o businessman ou,
ainda, a working girl). nesse sentido que Michel Maffesoli cons-
tata, por exemplo, que o valor trabalho no tem mais ressonncia
no corao das novas geraes.
No entanto, o desejo de ser iniciado parece pregnante nesta
era dos tempos. Sonha-se em ser um iniciado, no para ser apre-
sentado a tal ou tal saber, mas para pertencer a um cl, a uma
tribo, que busca o mesmo ideal de vida, o ideal da busca iniciti-
ca, da aventura perigosa que transforma um homem em sua to-
78 Gilbert Durand. Limagination symbolique. Paris, PUF, 1998 (1964): 123.
79 Ver Mircea Eliade. La Nostalgie des Origines. Paris, Gallimard, 1971.
167
talidade. esse sonho que est encenado em algumas produes
literrias ou cinematogrcas como Harry Potter e O Senhor dos
Anis. O imaginrio inicitico participa desse desejo de tornar-se
um iniciado, um homem transformado pelas provaes, um ho-
mem completo, pertencente a uma tribo especca. O indivduo
sonha alm de tudo em pertencer a uma sociedade secreta, entrar
em uma sociedade mtica e fantstica, enm, viver aventuras ex-
traordinrias. Tudo isso traduz, claro, o desejo inerente a todo
homem de transcender os limites da condio humana. Se o in-
divduo no consegue tornar-se realmente esse iniciado, nada o
impede de sonhar intensamente. disso que trataremos aqui.
O indivduo das sociedades contemporneas , inevitavelmente,
um consumidor, um cidado, um ator do mundo do trabalho.
Ele tudo menos um iniciado, um cavaleiro ou um heri. E no
entanto, todo um imaginrio inicitico vem implantar-se em seu
cotidiano. O que queremos signicar aqui que aquilo que ,
aparentemente, da ordem do sonho, pode simplesmente se meta-
morfosear, se materializar na forma de produtos e prticas sociais.
Nossa pesquisa quer mostrar que o imaginrio inicitico parte
integrante da realidade social e no se limita a um simples sonho.
Esse imaginrio tem consequncias bvias sobre os modos de es-
tar no mundo.
A necessidade de ser iniciado, de ter companheiros de estrada,
de participar de provas que perturbam o que se (metanoia), uma
necessidade universal que vive em cada um. Essa necessidade pode,
como qualquer necessidade espiritual, ser ocultada ou condenada
por outras representaes do mundo. A modernidade provou sua
capacidade em degradar, denigrir, rebaixar tal necessidade. Mesmo
assim, esta continua persistindo no humus (aquilo que pode ser
extinto). nesse sentido que queremos compreender a psmoder-
nidade, como o surgimento de uma tendncia societal que expressa
o desejo de reencontrar e satisfazer antigas necessidades, como o
de se tornar um iniciado, de caminhar em alguma via inicitica.
Compreendemos melhor ento o lugar particular que ocupam
o cinema, a literatura e os vdeogames nas prticas cotidianas. A
168
iniciao no tem como prosito introduzir o indivduo em um
mundo angelical e maravilhoso, mas, ao contrrio, de tir-lo de sua
representao infantil do mundo (dreaming innocense), revelando-
lhe a qualidade existencial do Dasein heideggeriano (ser-a). par-
tir dessa revelao que a tribo determina socialmente o indivduo.
O iniciado aquele que saiu de seus sonhos infantis, que experi-
mentou as condies trgicas de sua existncia e que pode, ento,
assumir um papel social em sua comunidade.
O imaginrio inicitico desvela ao indivduo as condies
trgicas nas quais o jovem heri evolui. Nesse sentido, pensa-
mos que ler um romance inicitico, assistir a um lme como Star
Wars, ou ainda participar de um jogo online como War of War-
craft
80
no pode ser reduzido simplesmente s prticas andinas
do puro entretenimento. H, por trs dessas prticas sociais de
aparncia supercial, implicaes muito mais profundas.
O game War of Warcraft oferece o exemplo de uma realidade
virtual que permite ao indivduo se projetar em um outro mundo
em potencial que reproduz o mais exatamente possvel o mundo
real ou um universo fanttico ccional. Alm disso, a particulari-
dade do jogador online de confrontar-se, no s com sua pr-
pria imerso na realidade virtual, mas tambm com a de outrem.
A presena do outro aparece ento em um novo aspecto: deixa de
ser simplesmente a presena fsica, o corpo, a voz, o odor conhe-
cidos habitualmente, torna-se um avatar. Percebemos ento uma
nova forma de socializao que se delinea: a cibersocialidade. O
avatar torna-se esse outro virtual que esconde a presena de ou-
trem e com quem devo doravante contar para construir o social.
80 War of Warcraft o game online mais frequentado do mundo. O universo
fantstico no qual os jogadores evoluem evoca estranhamente o mundo
do Senhor dos Anis de Tolkien. Nessa realidade virtual, dois mundos se
enfrentam, a Horda e a Aliana. O jodagor que deve pagar uma assinatura
mensal (por volta de 13 Euros), deve escolher um avatar entre toda uma
gama de raas (humanos, mortos-vivos, trolls, gnomos...) e lhe atribuir
uma funo (feiticeiro, guerreiro, druida...). O objetivo desse jogo fazer
evoluir seu avatar, faz-lo ganhar pontos de experincia ao cumprir metas.
169
O fenmeno de imerso traduz uma articulao entre o real e
o virtual. O sujeito pode ento se destacar de seu mundo habitu-
al, de seu ambiente social (famlia, trabalho, escola) para integrar
uma nova presena no mundo. Podemos encontrar, de modo ge-
ral, trs tipos de realidade virtual:
1. Reproduo realista do ambiente social;
2. Desenvolvimento de universos imaginrios fantsticos;
3. Compartilhamento de universos animados coletivamen-
te na Internet.
Atravs de um realismo cada vez mais performativo, o prin-
cpio de imerso total: o jogador consegue experimentar a real
sensao de se deslocar na imagem e viver plenamente o universo
imaginrio. A distncia entre real e virtual diminui, a favor de uma
imerso absoluta do jogador em uma existnciaoutra. Aventu-
rar-se em uma mata hostil ou em um templo da Grcia Antiga,
combater ao lado do Rei Arthur, encarnar Luke Skywalker que
enfrenta Dark Vader, tudo se torna possvel. Essa iluso positiva
proporcionada pelas imagens atravs da identicao doravante
possvel de ser sentida e plenamente vivida graas prtica vide-
oldica. As possibilidades de projeo-identicao que as reali-
dades virtuais oferecem permitem que o jogador online acesse a
algo radicalmente diferente de sua existncia cotidiana: tornou-se
at possvel tocar o domnio do sagrado. Um universo como o de
World of Warcraft apresenta um inteiro conjunto de elementos
simblicos e mticos. Isso signicativo pois pensamos, como
Durkheim, que no apenas a experincia religiosa que se funda
em simbolismos, mas toda a experincia social. Desta forma, a
vida social em todos os seus aspectos e em todos momentos de
sua histria, s possvel graas a um vasto simbolismo
81
. O
81 Emile Durkheim, Les formes lmentaires de la vie religieuse, Paris, PUF,
2005: 331.
170
sagrado, portanto, no est relacionado apenas vida religiosa,
encontra-se amplamente difundido em toda a vida social, da qual
constitui o cimento. O sagrado um simbolismo que preenche
o vazio da realidade opaca, por assim dizer. Talvez seja necess-
rio voltar a Mircea Eliade se quisermos entender as intenes do
sagrado. Para Mircea Eliade, o sagrado acontece na medida em
que o homem projetado para fora da realidade opaca. Eliade
dene o sagrado como aquilo que no terrestre nem opaco,
que no pertence ao nosso mundo, mas que se manifesta atravs
das coisas do nosso mundo. O termo hierofania traduz precisa-
mente a maneira como o sagrado se manifesta atravs de um ob-
jeto profano: sempre o mesmo ato misterioso: a manifestao
de alguma coisa outra, uma realidade que no pertence a nos-
so mundo, atravs de objetos que so parte integrante de nosso
mundo natural e profano
82
. Uma coisa dita sagrada quando
um imaginrio fantstico foi nela investido. So precisamente as
hierofanias, ou seja, as manifestaes do sagrado, que permitem
arrebatar a percepo ontolgica do homem. Um outro mundo
possvel, eis o que caracteriza o sagrado. nesse sentido que todo
mito sagrado j que se situa na apreenso de um outro mun-
do, de uma existncia sobrenatural fundada em coisas naturais, e
sobretudo de uma vontade de se desvincular da realidade opaca
desprovida de sentido. Uma coisa, um rito ou um mito se de-
nem enquanto hierofanias quando o homem faz surgir o sagrado
(o imaginrio fantstico) possvel neles. preciso agora aceitar
que o sagrado possa se manifestar atravs de realidades virtuais, j
que pode se expressar potencialmente atravs de qualquer objeto.
A realidade virtual enquanto hierofania produz uma distn-
cia com a realidade opaca, no a suplanta, mas se lhe sobrepe.
Alm disso, o jogador, para acessar a essa outra existncia, deve
aceitar uma certa quantidade de provas iniciticas. Uma realidade
82 Mircea Eliade, Le Sacr et le Profane, Paris, Gallimard, coll. folio essais,
1991:15.
171
virtual como World of Warcraft cria primeiro um vazio entre o eu
e o mundo profano (desprovido de imaginrio), o que pode levar
o jogador a sentir angstia, vertigem, perda de si. O fenmeno de
imerso revela ao jogador a possibilidade de sua impossibilidade.
Em World of Warcraft, o jogador se encontra como uma senti-
nela do nada, j que est a cada segundo, confrontado com a
morte potencial de seu avatar. O objetivo do jogo online World
of Warcraft consiste em percorrer um universo, conquistar buscas
e combater inimigos que lhe lembram constantemente a nitu-
de que est em voc. o famoso game over que traduz o m
de um tempo. Isso lembra tambm a prova da morte inicitica
que o momento chave de qualquer iniciao. Somente a con-
frontao com o impossvel pode transformar ontologicamente o
regime existencial de um homem. Para esta prova, o sujeito pro-
fano sai de si e encarna esse outro, esse avatar. O sujeito profano
tornou-se outro: o que foi no mais. As provas iniciticas con-
sistem geralmente em fazer morrer simbolicamente, e portanto
virtualmente, o neto a m de faz-lo renascer para uma nova
existncia. A morte inicitica dene a ideia de ir alm da reali-
dade opaca, do sentimento trgico da existncia humana. Em
World of Warcraft, trata-se de aceitar a minha prpria morte para
acessar a um outro tipo de existncia. No simplesmente uma
encarnao virtual que se desloca diante de mim na tela, e sim
eu que me desloco na imagem. O jogador online deve aprender
a morrer para acessar aos nveis superiores do jogo. Morro para
renascer melhor, progredir melhor. Perco-me para acessar a um
Si-mesmo mais vasto.
Os jogos online oferecem, portanto, novas possibilidades,
principalmente as que combinam o gameplay tradicional e a so-
cialidade virtual. preciso abandonar a ideia do jogador solitrio
que se exclui deliberadamente dos outros. De fato, com a revolu-
o da Net, um jogador se abre necessariamente a comunidades
virtuais que so grupos sociais constituidos, pela simples razo de
que um jogador no poderia progredir no jogo sem a ajuda de al-
gum. World of Warcraft que o recorde mundial da histria dos
172
videogames (contavam-se mais de 10 milhes de jogadores em
2008), funda-se nessa ideia. O jogador tece amizades a partir de
atos virtuais que consistem, em sua maior parte, em alcanar uma
misso, combater um demnio ou salvar um aldeo em perigo.
O objetivo de World of Warcraft de favorecer o trabalho em
equipe. Trata-se, entre outras coisas, de formar cls com outros
jogadores para progredir nas misses.
Todo um imaginrio inicitico alimenta o mundo de World
of Warcraft e d aos jogadores a possibilidade de transcender seu
cotidiano. O imaginrio inicitico vai tornar-se sua fonte perene
de relianas mltiplas. A aventura inicitica online se vive entre
vrios jogadores. Notar tambm que, diferente dos videogames
tradicionais que incluem um m, World of Warcraft no possui
um nal. O jogo nunca para, sem m at que o jogador decida
que seja diferente. Embora o jogo seja fundado na progresso
individual do jogador medida pelo nvel de experincia de seu
avatar, mais de 30 % dos jogadores atingiram o ltimo nvel e,
no entanto, continuam jogando.
83
O jogador se imerge sozinho
em um universo virtual, no entanto, com o outro que ele com-
bate os demnios e conquista suas buscas. Quem nunca sonhou
em partilhar um universo inicitico com companheiros? Quem
nunca sonhou em encarnar Frodon, o portador do anel, e vibrar
em comum em torno de uma aventura extraordinria? World of
Warcraft prope ao jogador encontrar os outros atravs de uma
busca inicitica. A relao com o outro no se constri mais em
funo de um contrato social, e sim atravs das mltiplas buscas
iniciticas propostas pelos jogos online. A est a cibersocialida-
de. Os jogadores organizam encontros pontuais diretamente nos
mundos virtuais. As misses a cumprir, muitas vezes difceis de-
mais, incitam os jogadores a se unir a companheiros de estrada.
Desta forma, o xito em uma misso depende da maneira como
os jogadores conseguem cooperar juntos. Intil dizer que esses
83 Maxime Coulombe, Le monde sans n des jeux vido, Paris, PUF, 2010: 22.
173
encontros pontuais planejados pelos jogadores so fundamentais
progresso do jogo. Essa sociabilidade vem questionar o funda-
mento mesmo da socialidade tradicional a mesma que mantm
a famlia. O jogo online exige um investimento considervel de
tempo. As misses podem ser longas e difceis, o que implica uma
certa habilidade tcnica obtida somente aps um longo tempo de
experincia e prtica.
A identicao com o avatar permite idealizar o Eu em
perspectivas que nem sempre so encontradas na vida social. No
s o indivduo annimo pode tornar-se o heri que ele nunca
ser na escola ou na vida social, mas pode tambm s-lo aos olhos
dos amigos online. De fato, o jogo online abre a possibilidade ao
jogador de se beneciar com o reconhecimento de outros joga-
dores quando, por exemplo, ajuda o cl a alcanar uma misso.
O avatar pode evoluir, sofrer provaes que o transformam sica
e espiritualmente. Com experincia, o avatar pode adquirir uma
fora mgica cada vez mais consequente. No entanto, tambm
o Eu que atravs do avatar sofre as transformaes eventuais.
O imaginrio inicitico, atravs das realidades virtuais con-
duz os indivduos para um verdadeiro lugar de reconhecimento
tornado inacessvel no dia a dia. As instituies no permitem
mais to facilmente o reconhecimento de que todos precisam. A
prtica videoldica favorece a progresso e a vitria do jogador,
pelo simples fato de que o computador tornou-se esse adversrio
ideal, sabendo retirar-se para valorizar o jogador. Alm disso, o
computador nunca mau perdedor. Aceita de bom grado o uso
de astcias, cdigos, solues e outros meios de modicar a di-
culdade do jogo. Vitria e reconhecimento esto ao alcance de
todos. A cibersocialidade vem modicar um pouco as sociabili-
dades tradicionais. Quanto mais o jogador investe seu tempo em
jogos online, mais o tempo de socializao dedicado famlia se
apaga. Percebe-se bem que a ideia que um jogador possa querer
passar mais tempo com atores virtuais do que com membros de
sua famlia uma ideia que incomoda. No convm aqui ex-
por nenhum julgamento moral sobre essas novas socializaes.
174
O papel do socilogo se limita a desenhar os contornos de um
fenmeno social, a compreender seu mecanismo, sua lgica, a
identicar a maneira como se articulam as relaes sociais.
Lembremos que o jogo online oferece a indivduos ao mes-
mo tempo afastados geogrca e culturalmente a possibilidade
de religar-se, de encontrar-se. No entanto, cabe a ns nos inter-
rogarmos sobre o que torna possvel tal reliana social. Em World
of Warcraft precisamente a busca inicitica que o objeto em
torno do qual os jogadores se encontram. Cls se constituem aqui
e ali, cujo objetivo principal reside na progresso da aventura.
Observa-se tambm a criao dos guildes (tipo de comunidade
na comunidade), agrupamento de jogadores de acordo com o n-
vel de experincia. As Guildes so confrarias que renem joga-
dores experimentados e permitem aos iniciantes beneciarem de
sua ajuda. Um tal grupo social implica em todo um conjunto de
cdigos e de deveres que nenhum membro deve transgredir sob
pena de excluso. A assiduidade parte integrante dos deveres
subentendidos na participao em uma guilde. Da o conito
que nasce entre a vida familiar e a vida online. A sabedoria popu-
lar evoca desta forma a ausncia de vida nesse tipo de socializao
online: No life!. O jogo online refora, consolida as relaes
sociais j existentes na vida cotidiana. a oportunidade de parti-
cipar de uma aventura comum, cheia de magia e de provas. Tudo
o que compreende essa aventura, as diculdades enfrentadas, os
atos heroicos, as vitrias e derrotas so depois compartilhadas em
discusses acaloradas, que vm reencantar a vida social.
Somos levados a constatar que o imaginrio inicitico incita
menos a sonhar sua vida do que a viver seus sonhos. Sobre a cr-
tica losca ao imaginrio, sempre se tratou de mostrar como
esse ltimo desconecta o indivduo do real. Trata-se, de acordo
com nossa posio, de ultrapassar essa crtica e de demonstrar ao
contrrio as numerosas interaes entre imaginrio e real. Desde
Plato, a tradio losca no cessou de atacar o imaginrio.
Sempre insistiu nessa estigmatizao voluntria da imaginao e
a dene como a louca da casa que mergulha indubitavelmente
175
os homens na mentira e no erro. Michel Maffesoli, na esteira de
Gilbert Durand, tenta demonstrar o contrrio, ou seja, a fora vi-
tal do imaginrio: Imaginrio e real, em sua mtua fecundao e
em sua instabilidade permanente so as condies de possibilida-
de do que est convencionado chamar de existncia
84
.
Queiramos ou no, o imaginrio inicitico um dos meios
ecazes de combater o niilismo errante de nossas sociedades con-
temporneas. a possibilidade mais ntima de reencantamento
do mundo. Poetizar o mundo, constru-lo e habit-lo inscrever
indenegavelmente um imaginrio que compe e d sentido ao
prprio corpo.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Maxime Coulombe, Le monde sans n des jeux vido, Paris, PUF, 2010.
Gilbert Durand, (1964), Limagination symbolique, Paris, PUF, 1998.
Gilbert Durand, (1960), Les structures anthropologiques de limaginaire,
Paris, Dunod, 1992.
Emile Durkheim, (1912), Les formes lmentaires de la vie religieuse,
Paris, PUF, 2005.
Mircea Eliade, La Nostalgie des Origines, Paris, Gallimard, 1971.
Mircea Eliade, (1965), Le Sacr et le Profane, Paris, Gallimard, coll.
folio essais, 1991.
Michel Maffesoli, (1993), La contemplation du monde, Paris, Le livre
de poche, 1996.
Michel Maffesoli, (1982), Lombre de Dionysos, Paris, Le livre de poche,
1991.
84 Michel Maffesoli, La logique de la domination in Aprs la modernit,
Paris, CNRS ditions, 2008: 90.
176
Michel Maffesoli, (1988), Le temps des tribus, Paris, La table ronde,
2000.
Michel Maffesoli, Aprs la modernit, Paris, CNRS ditions, 2008.
11. Mito e imaginrio na telenovela
Plbio Desidrio
85
A humanidade construiu mitos e explicaes mgicas acerca
dos mistrios da natureza e do prprio homem. Ao longo dos
sculos, com o aparecimento de outras formas de conhecimento
como a losoa e, posteriormente a cincia, muitas dessas expli-
caes mitolgicas passaram a ser relegadas a segundo plano. Po-
rm, os mitos no foram esquecidos, ao contrrio, continuaram
presentes, mesmo nas sociedades modernas, que acreditam na
capacidade tcnica/racional de explicar e transformar toda a rea-
lidade. Os mitos, os imaginrios continuam presentes em nossa
sociedade governada pela tecnocincia. Para Morin, as sociedades
so constitudas por duas formas de conhecimento e ao o
pensamento simblico/mitolgico/mgico e o emprico/tcnico/
racional. Nas sociedades atuais, h uma tentativa de hierarquizar
esses conhecimentos, colocando o pensamento cientco e racio-
nal como legtimo e verdadeiro, portanto superior ao mitolgico
e simblico.
85 Professor da Universidade Federal de Tocantins.
178
Uma das formas de perceber a presena constante dos mitos e
do imaginrio uma das principais elaboraes da sociedade mo-
derna, a mdia. A mdia possui um grande espao na sociedade,
pois um instrumento poderoso de comunicao. A mdia, alm
de possuir a dimenso tcnica, que importante para sua legiti-
midade em nossa sociedade moderna, tambm possui a dimen-
so econmica, para manuteno de suas estruturas e relaes de
poder. Para Morin (2005), a partir de uma razo aberta pode-se
compreender a importncia das duas formas de produo de co-
nhecimento, que so a cientco/racional e a simblico/mitolgi-
co bem como suas carncia e excessos. Estar voltada para o aberto
seria equivalente a dizer que ela pode ser percebida como lugar de
construo e resignicao de mitos, como espao de imaginrios
e como momentos em que a poesia pode ser presenticada. A
mdia pode tambm realizar interseces com a arte e, por isso,
a subjetividade do homem torna-se constantemente explorada.
Estamos entendendo como mdia os diversos tipos de produ-
es veiculados por suportes, principalmente pela televiso, o jor-
nal, o rdio e o computador. A telenovela ressignica mitos e tam-
bm, os constri, possui, por isso, representaes dos imaginrios
sociais e os ajuda a se manterem como elementos de ordenamento
simblico. relevante que esta percepo seja compreendida, prin-
cipalmente para esse gnero, pois o mesmo, produzido de forma
serializada e sob o ritmo da indstria cultural, possui tambm espa-
o para uma anlise verticalizada e no somente horizontal.
A anlise horizontal da tcnica, da economia poltica das re-
laes institucionais, no a nica explicao legitimadora da
telenovela. Compreender verticalmente compreender como os
mitos e as representaes do imaginrio esto presentes na teleno-
vela como elementos constitutivos da mesma e como ela , tam-
bm, inuenciadora da sociedade. um processo de mo-dupla,
cujos mitos e imaginrios so oriundos da prpria cultura e que a
telenovela contribui para reelabor-la.
Quais sos os principais mitos e imaginrios presentes na te-
lenovela brasileira e o que podemos compreender deles? Come-
179
cemos por um mito, o do amor, que perpassou toda a histria
humana e se fez presente em todas as culturas. Amar e ser amado,
o amor no correspondido, o amor eterno, o amor destrutivo,
quase todos os tipos de amores j foram explorados pela poesia,
pintura, religio e cinema. Do amor que vive da falta e do ex-
cesso, como do mito grego, que nasce do deus Poros (astcia) e
da deusa Penria (pobreza). Ou da prpria Grcia, outra expli-
cao, Eros, lho de Afrodite (deusa da beleza) e de Ares (deus
da guerra).
MITO, IMAGINRIO E AMOR
Bataille (1998) ressalta que o homem tem uma preocupao
em exercer seu erotismo, buscar contatos, aproximaes, seja atra-
vs dos corpos, dos coraes e at mesmo do sagrado. O ertico
est presente na histria humana e inclusive uma das coisas que
diferencia o homem dos animais e que provoca as mais variadas
experincias. O ertico sempre foi cercado por muitos elementos
descontnuos e manteve relaes com a religio, a morte e os mi-
tos. O ertico poder ser compreendido como uma expresso do
amor entre indivduos, ou mesmo entre grupos, dependendo das
experincias do coletivo e dessas relaes estabelecidas.
Aunque sea claramente distinta de ella, la experiencia mistica se da,
me parece, a partir de la experiencia universal que constituye el sacri-
cio religioso. Introduce, en el mundo dominado por un pensamiento
que se atiene a la experiencia de los objetos (y al conocimiento de lo
que la experiencia de los objetos desarrolla en nosotros), un elemento
que, en las construcciones de esse pensamiento intelectual, no tiene
ningun lugar, como no sea negativamente, em tanto que determina-
cion de sus limites. En efecto, lo que la experiencia mstica revela es
una ausencia de objeto. El objeto se identica con la discontinuidad;
por su parte, la experiencia mistica, en la medida en que disponemos
de fuerzas para operar una ruptura de nuestra discontinuidad, intro-
duce en nosotros el sentimiento de continuidad. Lo introduce por
180
unos medios distintos del erotismo de los cuerpos o del erotismo de
los corazones. Mas exactamente, la experiencia mstica prescinde de
los medios que no dependen de la voluntad. La experiencia erotica,
vinculada con lo real, es una espera de lo aleatorio: es la espera de un
ser dado y de unas circunstancias favorables. El erotismo sagrado, tal
como se da en la experiencia mistica, solo requiere que nada desplace
al sujeto. (Bataille, 1998: 17).
Um elemento importante que Bataille analisa que a experi-
ncia mstica do ertico e o erotismo no se encerra apenas numa
questo corporal, material e remete, portanto, para um desconhe-
cido. Ele pode ser compreendido e tambm ser percebido como
os imaginrios sobre o amor, as paixes e no se resumem apenas
na troca de amantes, mas se alargam para processos que envolvem
experincias msticas, mgicas e fantasiosas e que nem sempre a
cincia consegue perceber. O ertico, portanto, est relacionado
com o amor e, nas sociedades modernas, essa relao em vrios
momentos est mais entrelaada, o que, talvez possamos perceber
na prpria mdia, inclusive na telenovela.
Morin (1998) considera que o amor est intimamente ligado
s dimenses do humano, desde os elementos sexuais at o mito-
lgico e o imaginrio. O amor envolve a loucura e a sabedo-
ria, e que os mitos so de extrema importncia para compreen-
der a complexidade do amor. O amor consegue extrapolar uma
questo meramente emprica e elevar-se ao sagrado pelos seus
elementos pouco compreensveis por uma razo tecno-cientca.
O amor est numa dimenso que escapa apenas a compreenso
racional e remete para o aberto do imaginrio e inclusive do mi-
tolgico. Quantos mitos sobre o amor nas mais diversas culturas
foram elaborados, expressando um imaginrio coletivo que ativa-
va vrios smbolos?
Os mitos so sistemas de conhecimento que o homem utiliza
para se relacionar e vivenciar suas experincias coletivas. Os mitos
procuram compreender no somente as origens das coisas e acon-
tecimentos, mas produzir rituais para reunir todo um conjunto
181
de ordenamento de smbolos e arqutipos. As sociedades arcaicas
ou primitivas conseguiam harmonizar os mitos com sua vivncia
cotidiana nas sociedades modernas mesmo com a presena dos
mitos, existe, por exemplo, entre o meio acadmico uma tentati-
va de consider-los como um conhecimento somente fantasioso.
Segundo Pitta (2005), o mito um sistema dinmico que
rene smbolos, arqutipos e schmes. Entendendo por schmes
como gestos que so anteriores s imagens e arqutipos como
representao dos schmes, presente numa ideia, unindo o ima-
ginrio e os processos racionais. Os smbolos so os signos con-
cretos presentes nas produes artsticas, nos ritos, nos mitos.
Pode-se perceber a relao entre esses elementos e imaginrio a
partir das consideraes da autora:
O schme , pois, a dimenso mais abstrata, correspondendo ao
verbo, ao bsica: dividir, unir, confundir. O arqutipo, dan-
do forma a esta inteno fundamental, j vai ser imagem, heri,
me, ou tempo cclico, mas universal. Por seu turno, o smbolo vai
ser a traduo desse arqutipo dentro de um contexto especco.
Exemplo: schme: unir, proteger; arqutipo: a me; smbolo para a
cultura crist: a Virgem Maria (Pitta, 2005: 20).
O imaginrio constitudo por um processo relacional de
schmes, arqutipos e smbolos, o que ir contribuir para a cons-
truo de relaes culturais de uma determinada sociedade. Os
smbolos podem ser percebidos em diversas categorias atravs
de muitas imagens que so construdas e agrupadas. Para Pitta
(2005) utilizando a perspectiva aberta por Gilbert Durand, as
principais imagens simblicas so agrupadas em regime diurno
e noturno. Esses smbolos representam prticas, gestos, elemen-
tos da natureza e povoam nosso imaginrio e contribuem para
dinamizar os mitos e reatualiz-los nas diferentes experincias
coletivas.
E a televiso como suporte tcnico consegue estabelecer uma
relao com o imaginrio e contribuir para a produo ou mesmo
182
a reativao das imagens simblicas presentes nos mitos? A televi-
so um espao em que a imagem possui uma fora importante
e tambm presena na intimidade das pessoas, produzindo uma
familiaridade domstica. A televiso possibilita que vrias ima-
gens possam uir da sua caixa, recuperando vrios smbolos
arcaicos e construindo outros. Ela pode se vincular ao imagin-
rio do sagrado e passa a ser utilizada como uma espcie de altar
moderno (ou ps-moderno?), operando uma relao imaginria
e mediadora dos vrios imaginrios coletivos. A televiso conse-
gue realizar a dupla ligao com um transcendente e tambm
entre os homens, tornando-se um importante canal ou rio do
imaginrio coletivo.
Esse imaginrio coletivo possui uma fora ativa que regula
comportamentos, valores e potencializa outros, j que o imagi-
nrio uma construo social realizada a partir de experincias
coletivas e individuais. O imaginrio suscita esperanas, produz
imagens acerca de uma realidade e cria um determinado plano e
tempo simblico. Para Baczko (1998), o imaginrio projeta an-
gstias, esperanas e sonhos coletivos:
Graas sua estrutura complexa e, em especial, graas ao seu tecido
simblico, o imaginrio social intervm a diversos nveis da vida co-
lectiva, realizando simultaneamente vrias funes em relao aos
agentes sociais. O seu trabalho opera atravs de srie de oposies
que estruturam as foras afectivas que agem sobre a vida colectiva,
unindo-as, por meio de uma rede de signicaes, s dimenses
intelectuais dessa vida colectiva: legitimar/invalidar; justicar/acu-
sar; tranquilizar/perturbar; mobilizar/desencorajar; incluir/excluir.
(Baczko, 1998: 312).
Para Baczko, os imaginrios sociais e os smbolos esto pre-
sentes nos sistemas complexos como os mitos, as ideologias e
utopias e, tambm esto a todo momento se relacionando com
outros tipos de imaginrios, funcionando como uma rede intri-
cada de imaginrios sociais. Eles operam uma inuncia sobre
183
as pessoas, dependendo da difuso dos mesmos, pois os imagi-
nrios sociais, como qualquer fora de dominao, possuem um
poder de inculcao, de presso, de valores e crenas (Baczko:
1998: 313). Para o pensador, a mdia consegue ampliar a difuso
dos imaginrios sociais, no s alargando o discurso dos mesmos,
mas os moldando. Isso pode acarretar algumas questes, como a
manipulao por parte de instituies como o Estado, que procu-
ra controlar o mass media e, portanto, a produo de imaginrios.
Essa preocupao se deve ao fato de que a mdia uma produtora
de imaginrios sociais, possuindo representaes sociais, das ex-
perincias coletivas e das vrias dimenses e instncias de poder.
O imaginrio social, como ressalta Baczko (1998), est pre-
sente nos mitos e esse uma construo social por meio do
qual, desde as sociedades arcaicas, se procura explicar as origens
dos fenmenos naturais e humanos, e dar sentido ao ordena-
mento cosmognico. Durante vrios sculos, no Ocidente, pro-
curaram coloc-lo como apenas explicaes mgicas, fantasiosas
da realidade e, por isso, passou a ser considerado pelo menos
para alguns discursos conservadores da cincia, como instncia
menos legtima. Porm, em vrios momentos, a nossa sociedade
moderna recupera o imaginrio, o reatualiza e o reelabora para,
por meio deles, dar sentido a vida, mas continuar a organizar
o tempo e o espao simblicos. Como Campbell (1991) obser-
va, os mitos so elaborados para contribuir para as experincias
humanas e porque eles, atravs dos smbolos, esto sempre
transmitindo mensagens. Isso muito semelhante armao
de Eliade, de que as imagens, os smbolos e os mitos no so
criaes irresponsveis da mente, mas respondem a uma neces-
sidade do ser humano e procuram preencher funes, colocan-
do a nu as mais secretas modalidades do ser (Eliade, 1979: 13).
Campbell ressalta que os mitos evocam arqutipos e relacio-
nam-se com smbolos que so comuns a vrias culturas da hist-
ria humana. Os mitos continuam presentes nas experincias co-
letivas por que as pessoas precisam de respostas s questes de sua
existncia, como aconteciam nas sociedades primitivas. Os tem-
184
pos modernos recriam guras mticas, mas produzem tambm
seus prprios dolos dos atores de cinema ao Estado, passando
pelos meios de comunicao de massa. H uma constante reela-
borao e produo de mitos. Os mitos nos meios de comunica-
o conseguem, por exemplo, recuperar arqutipos como a gura
do heri e re-elabor-la e, tambm, reativar experincias huma-
nas como a do amor. A presena do mito na telenovela pode ser
identicada nas prprias estruturas narrativas do gnero .
A TELENOVELA E O AMOR
As representaes sobre o amor na telenovela possuem uma
importncia considervel, principalmente pela presena dos g-
neros que contriburam para sua constituio: o romance e o me-
lodrama. O romance um gnero literrio que surgiu por volta
do sc. XVIII na Europa, mais especicamente na Inglaterra, e
que se dirigia principalmente ao pblico denominado de classe
mdia. O estilo literrio incorporava realismo formal e o ape-
go s experincias cotidianas. A relao com o amor, portanto,
tem como uma das grandes expressividades a literatura, j que o
romance ir contribuir para sedimentar outros desdobramentos,
inclusive na constituio do prprio melodrama.
Uma das grandes contribuies do romance para o melodra-
ma e, portanto, para a telenovela, a popularizao das narrativas
sobre o amor romntico que j desde o sculo XVIII comeava
a operar. O pblico aproximou-se desse gnero literrio de for-
ma muito rpida, j que a narrativa do gnero preocupava-se em
descrever a realidade vivida por esse prprio pblico, incluindo
temticas como o amor, por exemplo, e a questo da posio da
mulher na emergente sociedade burguesa. Watt (2007) considera
que o romance provocou um despertar do romantismo entre os
casais, principalmente por parte das mulheres e isso contribuiu
para produzir vrias narrativas sobre o amor e depois o romance
desdobrou-se em outros gneros literrios e teatrais. Porm, a in-
uncia do melodrama sobre a telenovela foi bem maior, como
185
tambm o do folhetim. O melodrama um gnero teatral que
possui uma esttica diferente da tragdia e que surgiu no sculo
XIX em plena revoluo industrial, na consolidao da sociedade
burguesa. A preocupao do melodrama produzir um realismo
na cena que agrade o pblico, sem problematizaes acerca de
identidades. O melodrama, assim evita ambiguidades e sutilezas
na sua linguagem, procurando agradar constantemente o pbli-
co. A estrutura do melodrama caracterizada de forma a opor va-
lores como vcio e virtude e a sua dinamicidade maior no polo
negativo porm, no nal da narrativa, a virtude restabelecida.
As caractersticas principais presentes na linguagem melo-
dramtica o apelo s emoes com o m de cativar o pbli-
co, reforando sempre a temtica sentimental. Essa temtica
identicada em duas matrizes principais: a reparao da justia
e a realizao amorosa. No melodrama, as pessoas sempre esto
envoltas com questes oriundas do amor, como, por exemplo, a
diculdade de viv-lo intensamente, de conseguir que duas pes-
soas enamoradas consigam car juntas, tendo um nal feliz. O
pblico est sempre atento ao desenrolar desses acontecimentos
e a emoo do mesmo varia de acordo com os acontecimentos
da narrativa. Segundo Huppes (2000), o melodrama consegue
cativar o pblico, como nos enredos amorosos, pois ativam a me-
mria das pessoas, produzindo uma rememorizao constante da
co apresentada na narrativa melodramtica antes vista.
O melodrama, com suas estruturas maniquestas e posies
bem denidas, os bons e maus e, especialmente o heri e o vi-
lo, est relacionado com as paixes. A passionalidade algo que
pode causar problemas, pois o vilo sempre est sujeito ela e o
heri procurando control-la, mas tambm, motivado a senti-la e
viv-la para ter um nal feliz. Esses elementos do melodrama e sua
permanncia na telenovela nos fazem perceber como o imaginrio
sobre o amor, mesmo presente em todas as sociedades, em todas
as produes artsticas, e agora, no mundo moderno, encontra um
lugar para ser representado e imaginado coletivamente. A teleno-
vela tornou-se e continua sendo um gnero que incorpora esses
186
elementos, principalmente por que o melodrama est presente nas
vrias produes dramatrgicas.
A presena do melodrama na dramaturgia brasileira e tam-
bm latino-americana importante para a compreenso de como
esse gnero atrai as multides e de como estimulou a expanso da
radionovela e, inclusive, da telenovela. Essa atrao do pblico j
estava presente no folhetim
86
. Oroz (1999) ressalta que o melo-
drama constitui-se numa tragdia popularizada e possui vrias
caractersticas.
Os ncleos de conito da tragdia, como paixo/dever; bem/mal;
amor/poder, etc., passam para o melodrama num esquema binrio
e apresentam-se, como no drama clssico, em histrias ricas em
phatos, que induzem a sentimetos de piedade ou tristeza. atravs
destes sentimentos que Aristteles prope a catarse, chave que abre
caminho para a projeo e identicao. (Oroz, 1999: 38-39).
As pessoas se identicam com as vrias aes e personagens
que a narrativa melodramtica oferece, bem como as projees
que as pessoas realizam de suas emoes, experincias de vida, so-
nhos e imaginaes, como observa Morin. A narrativa melodra-
mtica incorpora esteretipos, smbolos e arqutipos de experi-
ncias coletivas de uma determinada sociedade. Para Oroz, como
todos os arqutipos e smbolos remetem a valores socialmente
aceitos, a narrativa melodramtica tem uma vinculao com os
valores da sociedade judaico-crist e patriarcal. O melodrama re-
atualiza vrios mitos dessa sociedade, produzindo uma interao
com os indivduos dessa mesma sociedade.
86 O folhetim um gnero literrio que surgiu na Frana no sculo XIX e que
se apropriou de outros gneros como o romance, a prosa. Eram publicados
em jornais de grande circulao e de forma diria. As narrativas do folhe-
tim se aproximam do melodrama pelo contedo emotivo e moral e teve
grande inuncia para a consolidao da radionovela e, posteriormente da
telenovela.
187
O amor e o ertico so elementos presentes no mito judaico-
cristo, que perpassa os elementos arquetpicos e simblico do
mito. A dualidade bem e mal representada no paraso do den, a
relao ertica do sagrado com os homens e depois entre a pr-
pria humanidade so exemplos da presena constante do erti-
co no mito. Como o amor algo que est sempre associado ao
erotismo, o mito judaico-cristo procura em vrios momentos
dissociar o amor humano e o amor divino. O amor que une a
divindade presente no catolicismo, por exemplo, que acredita na
Trindade (Deus Uno e Trino) so diferentes do amor que une os
homens, pois o amor divino eterno e no corrompvel. Deus
vencer a morte na ressurreio um exemplo de como existe a
dualidade bem e mal e de como o ltimo sempre perecer diante
da vitria do bem. Outro elemento importante e presente no
imaginrio cristo o perdo, e com isso a reconciliao. Talvez
como uma das nicas religies, nesse caso a crist, que exaltam o
perdo esse elemento possui uma fora considervel no imagin-
rio cristo e que de muitas formas absorvido por vrios tipos de
narrativas, inclusive o melodrama.
A telenovela incorpora os elementos do mito judaico-cristo
e patriarcal, como observa Oroz E, tambm, reforando as carac-
tersticas do melodrama, mantm a sua permanncia operando
a relao identicao e projeo com o pblico para acentu-
ar as representaes sobre os amores construdos a partir de um
imaginrio social. Nas vrias narrativas ccionais j produzidas
sobre o amor e o ertico seja na telenovela ou em outros gneros
dramatrgicos, estes procuram recuperar arqutipos e smbolos
do prprio imaginrio. Para compreender como esses elementos
esto presentes importante recorrer s prprias narrativas ccio-
nais do gnero para identic-los e analis-los.
As telenovelas no Brasil, nas ltimas dcadas, adquiriram
uma esttica do realismo, afastando-se dos dramalhes, que seria
o excesso do melodrama. Porm, as telenovelas continuam com
forte contedo melodramtico e, no apenas por isso, parece-nos
claro, elas reatulizam os vrios mitos sobre o amor e o erotismo.
188
Mesmo procurando adaptar-se s questes da realidade nacio-
nal, a telenovela brasileira mantm elementos da estrutura melo-
dramtica e um gnero importante, como vimos, para acessar
alguns imaginrios presentes em nossa sociedade. Para perceber
como os vrios mitos sobre os muitos tipos de amores e tambm
as experincias sobre o erotismo, recorreremos compreenso de
algumas novelas, que podem ser identicadas e percebidas como
um espao simblico e representativo desses mitos e imaginrios.
Uma novela que mobilizou multides e que exemplica a
linguagem melodramtica foi Direito de Nascer (Derecho de Nas-
cer), de Felix Caignet, veiculada pela TV Tupi em 1964, e possui
representaes de vrios tipos de amor, quer seja do amor proibi-
do, assim caracterizado devido situaes de classe e, at mesmo,
o amor materno. Este amor surge de uma relao no reconheci-
da pela famlia em que a me rejeitada resolve criar o lho e, por
isso, reconhecida como me solteira. Mas com receio de que
o av paterno possa prejudic-lo, a servial resolve fugir com o
menino e cri-lo.
Quando o menino torna-se adulto e est formado em me-
dicina, ocorre uma situao inusitada: seu av, que no passado
nutria um dio para com o neto, salvo pelo mesmo. Vrios
elementos podem ser observados, como o amor proibido recha-
ado por questes de classe, o amor materno, que no consegue
enfrentar os preconceitos da poca e obriga a prpria me ir
para um convento. E, no nal, a redeno entre o av e o neto:
o perdo e a reconciliao retomam os elementos presentes do
imaginrio cristo. O amor familiar mais forte para superar to-
das as formas de infortnios, mas a redeno, no nal, expressa o
imaginrio cristo-judaico.
Mas o mito do amor nas novelas extrapola as relaes fami-
liares e alcana, principalmente, os enamorados. praticamente
unnime nas narrativas ccionais da televiso e, em particular, da
telenovela, algo que est a todo o momento sendo reatualizado
com as caractersticas da sociedade moderna. O amor perpassa as
novelas evocando os smbolos, rituais e elementos mgicos para
189
que os enamorados possam, mesmo sofrendo, viver um amor que
procura se eternizar se no corporalmente, ao menos na memria
das outras pessoas. O amor, portanto, se torna uma dimenso
que se abre para vrios outros elementos, que so incorporados
na narrativa ccional. Elementos como os smbolos so impor-
tantes para compreender como a telenovela est relacionada com
o pblico e mantendo e renovando o imaginrio sobre o amor.
A novela O Clone, veiculada entre Outubro de 2001 e Junho
de 2002, explorou vrias temticas como a religio muulmana, a
clonagem humana e, tambm, um amor proibido entre duas pes-
soas de culturas diferentes. Esse amor envolveu dois personagens
principais: Jade (Giovana Antonelli) e Lucas (Murilo Bencio)
que tiveram vrios intempries para conseguir viver sua histria.
Uma das grandes questes postas pela narrativa foi a dife-
rena cultural, j que a personagem feminina, a Jade, pertencia
cultura muulmana e, por isso, deveria seguir todos os padres
de comportamento, inclusive casar com algum da sua prpria
cultura. Esses amantes, mesmo casando com outros parceiros,
no esquecem da paixo que viveram no passado e procuram, de
acordo com suas variaes individuais, conservar o amor. Depois
de vrias temticas se entrecruzando e muitos problemas, o casal
consegue, nalmente, viver seu amor renegado durante anos. a
relao, talvez, com outro mito presente em nosso imaginrio, o
do nal feliz das histrias, encerrando a trama na telenovela com
uma relao feliz.
A novela O Clone utiliza-se dos vrios elementos do gnero
melodramtico procurando ressaltar aes e personagens dentro
de vrias temticas, mas uma praticamente a central: o envolvi-
mento amoroso entre os personagens Jade e Lucas. A novela con-
seguiu altos ndices de audincia para um gnero, que para mui-
tos, j estava se desgastando ao longo de dcadas de permanncia
na televiso brasileira. A audincia de O Clone foi considerada
uma das maiores registradas na ltima dcada, chegando a uma
mdia de 45 e 62 pontos. Os motivos foram, principalmente, a
discusso sobre dependncia qumica que a autora, Glria Perez
190
se props a realizar na trama e, tambm a prpria relao amoro-
sa entre Jade e Lucas, que contribuiu para aumentar a audincia.
A prxima novela a ser veiculada depois de O Clone de-
monstra a forte presena do envolvimento amoroso. A novela de
Benedito Ruy Barbosa, Esperana, produzida tambm pela Rede
Globo, em 2002/2003, desenvolveu uma temtica que envolveu
dois enamorados, Tony (Reynado Gianecchini) e Maria (Priscila
Fantin), sob a histria da imigrao italiana para o Brasil. Os
amores dos dois sofreram tambm vrios infortnios, mas no
nal, conseguiram obter o grande nal feliz. A novela Espe-
rana retoma, como temtica romntica, a mesma estrutura de
Terra Nostra escrita pelo mesmo autor, que tinha como prin-
cipais pares romnticos Ana Paula Arsio (Giulliana) e Thiago
Lacerda (Matteo).
Alguns autores, como Glria Perez foram questionados sobre
a presena do melodrama e do romantismo exacerbado em suas
telenovelas. Glria Perez rearma que insere sempre esse ele-
mento na narrativa, pois o considera como um dos centrais da
experincia humana armando, assim que essa frmula no se
esgota e que a todo o momento est se reinventando.
O imaginrio social que alimenta o mito do amor que pro-
cura se eternizar continua forte, seja o imaginrio judaico-cristo,
sejam de outros imaginrios, todos eles expem muitos smbolos
e arqutipos nas imagens televisivas para que as pessoas experi-
mentem e vivam essas imagens. Importante destacar como nas
sociedades modernas a exacerbao do individualismo, as con-
sequncias da revoluo sexual, cujo papel do homem foi ques-
tionado e o da mulher foi reorientado para maior emancipao,
o mito do amor continuou presente no cinema e na televiso,
procurando unir homens e mulheres s paixes efusivas.
As telenovelas que, em vrios momentos, so explicadas pelo
excesso de clichs, possuem possivelmente nas suas narrativas
muito das experincias coletivas que Campbell (1991) observa
e podem ser compreendidas, tambm, como os mitos sendo re-
elaborados na atualidade. Os mitos modernos construdos pela
191
mdia so um exemplo de como a fora do imaginrio social se
mantm presente reelaborando mitos e arqutipos antigos e pro-
duzindo novos. A telenovela possui uma proximidade com as ex-
perincias cotidianas dos indivduos da Amrica Latina e, nesse
caso, do Brasil. Torna-se, como ressalta Martin Barbero (2008),
um gnero que incorpora um reconhecimento por parte do p-
blico e que familiariza as relaes entre a lgica de produo do
gnero e a recepo do mesmo. Essa familiaridade estimula um
processo de alimentao do prprio imaginrio sobre o amor,
pois os indivduos que se apropriam das histrias da telenovela
contribuem para sua permanncia.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BATAILLE, Georges. El erotismo. Editions Gallimard, 1998.
BACZKO, Bronislaw. Imaginao social. In Enciclopdia Einaud.
Lisboa: Imprensa, Nacional/Casa da Moeda: Editora Portuguesa, 1985.
CAMPBELL, Joseph. O poder do mito. So Paulo: Palas Athenas,
1991.
DURAND, Gilberd. O imaginrio: ensaio acerca das cincias e da lo-
soa da imagem. Rio de Janeiro: DIFEL, 1998.
ELIADE, Mircea. Imagens e smbolos. Lisboa: Editora Arcdia, 1979.
HUPPES, Ivete. O melodrama: o gnero e sua permanncia. So Paulo:
Ateli Editorial, 2000.
MARTIN-BARBERO, Jess. Dos meios s mediaes: comunicao,
cultura e hegemonia. 5 ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2008.
MORIN, Edgar. O pensamento duplo. In O Mtodo 3: o conhecimen-
to do conhecimento. Porto Alegre: Sulina, 2005.
MORIN, Edgar. Complejo de amor. Fuente: Gazeta de Antropologia.
N. 14, 1998. Texto 14-01. Diponvel em: http://www.ugr.es/~pwlac/
G14_01Edgar_Morin.html. Acessado em 05/02/2010.
192
OROZ, Silvia. Melodrama. O cinema de lgrimas da Amrica Latina.
2 ed. Rio de Janeiro: Funarte, 1999.
PITTA, Danielle Perin Rocha. Iniciao teoria do imaginrio de Gil-
bert Durand. Rio de Janeiro: Atlntica Editora, 2005.
WATT, Ian. A ascenso do romance: estudos sobre Defoe, Ricardson e
Fielding. So Paulo: Companhia das Letras, 2007.
www.memoriaglobo.globo.com. Acessado em 25 de Novembro de 2009.
www.teledramaturgia.com.br Acessado em 20 de Novembro de 2009.
193
12. Imagens e imaginrios de Braslia
Tnia Montoro
87
Braslia mais nova
Do que o rock and roll !!!
(Mascavo Roots)
ITINERRIOS DO CINEMA NACIONAL
Escrevo este texto mergulhada na quadragsima terceira
edio do Festival de Cinema Brasileiro de Braslia. Patrimnio
imaterial do Distrito Federal, orgulho e resistncia do cinema
nacional, este evento edica o pilar da cultura cinematogrca
da capital nacional tanto por sua tradio (sempre com lmes
inditos) como por abrigar veteranos diretores e novos talentos
funcionando ao longo de governos e desgovernos como o par-
lamento do cinema brasileiro ou ainda, como querem alguns, a
vitrine do cinema nacional.
A UNESCO dene como patrimnio imaterial as prticas,
representaes, expresses, conhecimentos e tcnicas junto
87 Tnia Montoro doutora em Comunicao Audiovisual pela Universida-
de Autnoma de Barcelona com ps doutoramento em cinema pela Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro. Professora e Pesquisadora da Faculda-
de de Comunicao da Universidade de Braslia.
com instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes
so associados e que as comunidades, os grupos e, em alguns ca-
sos, os indivduos reconhecem como parte integrante de seu pa-
trimnio. (Conveno UNESCO, 2003).
O patrimnio imaterial transmitido de gerao em gera-
o e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em
funo de seu ambiente, de sua interao com a natureza e a
histria; gerando um sentimento de identidade e continuidade,
contribuindo para promover o respeito diversidade cultural e
criatividade humana.
Acompanho este festival h muitas dcadas, desde menina
criada na 107 sul, ao lado do lendrio Cine Braslia sempre estive
no ms de novembro (agora em setembro) assistindo e discutin-
do os lmes brasileiros da safra, o prprio festival e nas ltimas
dcadas o abandono dos espaos arquitetnicos da cidade con-
gurado no descaso com o prprio cinema cine Braslia, que por
mais de quatro dcadas abriga o festival.
Poucas cidades tm interao to fecunda com o cinema bra-
sileiro como Braslia, construda e fundada como capital do pas
em paralelo com a exploso do movimento do Cinema Novo que
invadiu nossas salas e recongurou a imagem dos brasileiros e da
paisagem nacional.
O cinema chegou a Braslia junto com os candangos, o con-
creto, as mquinas, os ferros e equipamentos. Desde a primei-
ra visita de Juscelino Kubitschek ao Planalto Central, o cinema
se fez presente. Braslia foi lmada, acompanhada, vista..., pela
lente de cinegrastas, fotgrafos e reprteres. Em 1956 a funda-
o da cidade foi registrada pelas cmeras de Jean Mazon, Carlos
Niemayer, Isac Rosemberg e muitos cinegrastas e annimos que
lmaram a cidade sendo erguida no Planalto Central.
Em seus primeiros anos, a cidade conquistou denitivamente
sua identidade com o cinema: primeiro, com a implantao de
um curso de cinema, tambm indito no pas, com entusiasmo
de professores e cineastas que habitam a memria histrica do
cinema como Paulo Emilio de Salles Gomes, Nelson Pereira dos
Santos, Eugene Feldman, Jean Claude Bernadet e, depois, com
a realizao anual do Festival de Cinema Brasileiro de Braslia.
Naqueles idos, ainda analgico, o festival era o nico lugar que
podamos contemplar retratos do Brasil sempre ocultado pela
histria ocial e cinzenta que aprendamos nos livros da esco-
la. Esperava-se o festival para assistir, s vezes sem entender, as
polemicas travadas, as moes contra os censores, os lmes de
protestos e a cidade como espao sntese das relaes assimtricas
que matizam o jogo de poder que envolve a realidade, constri
ces e consagra cruzamentos entre memria e prospeco; tra-
dio e inovao.
Pela insistncia em querer colocar Braslia dentro de um ta-
buleiro dicotmico e impreciso que no d conta de seu futuris-
mo: ou se conta a historia ocial dos governantes pioneiros ou
dos trabalhadores, candangos e migrantes que vieram construir
esta cidade monumento. Reclama-se neste texto, a histria nova
feita pelos atores protagonistas de um novo tempo, que no
cabe nos cnones binrios em que se olvidam as singularidades
das narrativas que formam vrias camadas de sentidos e que ao
admitirem vrias leituras, vo contribuindo para tornar mais
denso o campo de estudos sobre a construo de identidades
e as formas de alteridade vivenciadas e imaginadas no imagin-
rio dos brasileiros, dos anos 60, que fundaram Braslia cidade
IMAGINADA.
Para reetir sobre imagens e imaginrios de Braslia dialo-
go com Georg Simmel (1979; 2010) que orientou suas reexes
para o estudo do cotidiano para ampliar o conceito de imagin-
rio. Arma o terico que os estudos do imaginrio devem ser an-
corados em um pensamento complexo, exvel e pluralista, que
incorpora a contradio e ambivalncia. Este campo de estudos
sobre imagens ordenam os modos de representao que consti-
tuem a relao simblica do homem com o mundo.
O autor assinala que toda relao entre os homens faz nascer
em um a imagem do outro. Esta experincia constitui a base de
um conhecimento recproco situado em um dos pontos em que
196
o ser e a representao tornam-se empiricamente sensvel em uma
misteriosa unidade.
Simmel sublinha que a forma mais pura de coeso sociol-
gica de um grupo se enraza em uma espcie de focus imagin-
rio.Desta forma o imaginrio se constri na mediao entre a
realidade psquica com sua rplica ideal. Isto demonstra que a
representao e seu objeto se cruzam em uma mtua interpreta-
o simbolizante.
Os signicados de Braslia das mil imagens cotidianas que a
desnudam e a convocam ancoram-se em um processo paradoxal e
ambguo que se desenrola entre o mesmo e o outro. Pensar Bras-
lia como um projeto fundante do Estado e da Nao brasileira re-
mete a labirintos de conuncias e reciprocidades que, ao tempo
que promove uma suspenso e um deslocamento do olhar, revela
percursos que evidenciam questes candentes que ultrapassam
impasses e pontuam alternativas capazes de fazer mediao entre
as pontas que separam os abismos entre as classes sociais e que
abre espao para entrever o trnsito entre o passado e o futuro,
entre paradoxos, injustias e ambiguidades.
No poema Segredos de Papel (1978) Maria Coeli revela os
segredos imaginrios da cidade.
Em Braslia as pessoas guardam segredos
Guardamos segredo
Sabemos de tudo em primeira mo
Teia de arame cruzado
Hermetismo governamental
As pessoas fogem uma das outras
Escondem uma das outras segredos bestas,
Temos medo, entre ns nada entrelaado
Em Braslia tudo papel
O papel dos palcios
Passo a noite e vejo palcios iluminados
Cheios de papel
Vou a um galpo de madeira.
197
Ver um lme 16 mm
Uns dois, um dois,
Uns dois, um dois...
So muitas as surpresas que a cidade revela se o olho no for
cmplice e aliado do muito que cada oculta surpresa, encerra.
Se o olho resistir a essa mania imprpria de ver sob as lentes
aquilo que voc esperava ver, ver que Braslia a semente de
um desejo que o pas fosse outro e a nao redimida estivesse
resgatada.
Com um olhar mais intimista da cidade vemos imagens de
muita dor e a agonia da fria dos enjeitados. E da me prostituta
que se degrada para alimentar o lho assassino ou a redentora
dos lhos absolvidos na legio dos poetas e os transformadores de
coisas os cineastas, os fotgrafos, os cinegrastas, os msicos, os
montadores, os professores e os escritores. Como assinala Dobal:
Em Braslia h sempre uma sensao de que a vida esta ocorren-
do em algum outro lugar. Talvez por isso, aqui estamos perto do
que parece distante. Este territrio isento de tradio e sem sada
para o mar, tem duas faces, cada qual enigmtica a seu modo
(2003:139).
H muito que os segredos de Braslia tm sido desvendados.
Voc se move e no sai do lugar. Atravessa quadras com a cme-
ra e est no mesmo horizonte. O sol atravessa sua pele. Dando
aulas de cinema atravessam-se geraes, que submersas em con-
tradies realizam outras experincias e olhares sobre a cidade.
Em um balano dos cinquenta anos de cinematograa
candanga marca e logomarca de meio sculo de inveno
da cidade pelo sonho de homens e mulheres, vislumbra-se a
possibilidade criativa de observar o entroncamento de zonas de
fronteiras que se assenta na relao do cinema com a cidade e
da arquitetura com o espao flmico. Captando e vasculhando
o imaginrio de Braslia pela lente dos lmes dos cineastas can-
198
dangos de diversas geraes e tribos, cidados brasilienses, -
lhos dos candangos que nasceram lmando e assistindo lmes na
cidade, encontra-se um conjunto de fragmentos audiovisuais que
conformam sentidos de pertencimento dos habitantes destas sa-
vanas cerratenses do Brasil Central. Conforme postula Prysthon:
A construo imaginria da cidade vem dentro de um grande ce-
nrio de imagens e de linguagens, uma esfera intercambiante de
fronteiras de sentidos. A cidade um sistema de interao comu-
nicativa entre os atores sociais, os responsveis pela produo de
uma cultura de simbologias urbanas. Estud-la sob o ponto de vis-
tas comunicativo descrever e interpretar a historia e os cenrios
urbanos e perifricos, pensar o papel da cidade atravs da leitura
do espao e suas conexes miditicas como parte integrante do
sistema comunicacional. (2006:264)
H mais de uma dcada o cinema de Braslia tem encontro
marcado no teatro nacional e no cine Braslia com a Mostra Bra-
slia, evento integrante da programao do Festival de Cinema
Brasileiro de Braslia, que exibe para uma plateia candanga e re-
gional a produo audiovisual da cidade contando com prmios
da Cmera Legislativa do Distrito Federal, do jornal, da ABCV /
DF, do Cine memria capitaneado pelo professor/ cineasta Wla-
dimir Carvalho que o grande mestre e patrono de uma gerao
que sempre lutou pelo cinema brasiliense.
Sem espao nobre na grande mdia a Mostra Braslia se
institui como um lcus de pertencimento e envolvimento de
novos e experientes realizadores consagrando-se como espao de
interao simblica e dilogos transversais que revelam imagens
e imaginrios de Braslia nas obras audiovisuais de document-
rios e ces.
Como o quarto maior polo de produo e consumo de ci-
nema no pas, Braslia abriga em seu itinerrio cultural seu ro-
teiro cultural nas ltimas dcadas, uma profuso de Festivais e
Mostras de Cinema. Para alm do Festival de Cinema Brasileiro
199
acolhe a Mostra de Cinema e Direitos Humanos da America
Latina; Mostra de cinema de Veneza, Mostras de cinema de cura-
dorias realizadas pelo dinmico CCBB e que, at dois anos atrs,
abrigou o Festival Internacional de Cinema FIC, que sempre
trouxe o mais contemporneo da cinematograa mundial para os
generosos espaos das salas de cinema da ex-Academia de Tnis
de Braslia.
A identidade cinematogrca da capital brasileira se constri,
portanto, sob a gide do nacional e internacional do regional
e do local. Em Braslia esta multiplicidade de diversidades que
provoca singularidades e complementaridades para a agrupao
de pertencimentos. Ao optarmos por trabalhar com os conceitos
de identidade e representao na anlise do imaginrio cultural,
estamos examinando a relao entre cultura e signicados produ-
zidos por sujeitos que demarcam lugares discursivos e imagticos,
que se deslocam dos sistemas de representao para as identida-
des produzidas por processos imaginrios.
Para Zunzunegui (1999:45) a imagem um composto de
comunicao visual, no qual se materializa um fragmento do uni-
verso perceptivo e que apresenta a caracterstica de prolongar a
sua existncia ao longo do tempo. Para o autor, a imagem fruto
da imaginao. Ela se vale dos imaginrios existentes sobre deter-
minado tema para ser construda e recongurada.
Imagens e imaginrios no so estticos, imutveis e univer-
sais. Pelo contrrio, so social e temporariamente especicados e
constantemente expostos a variaes entre grupos e atravs dos
tempos, assim como ocorre com a cultura, estando em constante
transformao.
A imagem criada como parte do ato de pensar , por outro
lado, balizada nas informaes obtidas pelas experincias ante-
riores dos indivduos. Ela contm signicados que so universais,
pertencentes a um inconsciente coletivo baseado em arqutipos.
Neste processo de signicaes as imagens criadas se remetem a
estruturas do inconsciente, do imaginrio do individuo. Assim, a
imagem, ao mesmo tempo, produto e produtora do imaginrio,
200
pois ao mesmo tempo em que se vale dos elementos que povoam
o inconsciente para ser criada, ela se alimenta do imaginrio com
novas experincias, correlaes e repertrios discursivos.
IMAGENS E IMAGINRIOS NA TELA DO CINEMA
Filmada por Joaquim Pedro de Andrade em 1967- um dos
maiores expoentes do cinema novo o lme Braslia Contra-
dies de uma cidade nova reveste-se de imaginrio fundante
da nova capital dos brasileiros que se alimenta das contradies
do prprio pas. Braslia a cidade monumento; o feminino de
Brasil congrega as contradies econmicas, sociais, polticas, re-
ligiosas, culturais, de arquitetura e de paisagismo da nao bra-
sileira. E no poderia ser diferente. Para Junqueira (2006:148)
As cidades so palco desses processos que se desenrolam nos espa-
os pblicos e privados. As metrpoles so o ncleo centralizador e
difusor de mudanas culturais como a desterritorializao e exibi-
lizao de identidades culturais, a interao entre tradio e moder-
nidade, a pluralidade de prticas e tticas culturais de negociao
entre classes dentro da cultura nacional, e entre o que nacional e
o que estrangeiro no mbito da cultura global.
Sistematizando os constructos que so categorias analti-
cas hipotticas que possuem valor heurstico ou interpretativo,
mesmo que no pretendam descrever com exatido qualquer re-
alidade observvel e que podem ser : a) modelos de comporta-
mento baseados em normas e princpios explcitos; b) entidades
hipotticas ou processos cuja existncia s pode ser deduzida de
suas causas, consequncias ou manifestaes; e c) tipos ideais ou
construdos que combinam variveis selecionadas para dirigir a
ateno para elementos comuns em situaes concreta diversas
ou fornecer um padro heurstico para examinar as relaes entre
as variveis selecionadas.
201
Valho-me para esta anlise das estruturas recorrentes para as-
sinalar itinerrios que congregam imaginrios da cidade elegen-
do uma srie de lmes sobre a Braslia produzidos entre 1989 e
1993, perodo de tombamento da cidade como Patrimnio da
Humanidade, ttulo conferido pela UNESCO, ao conjunto ar-
quitetnico da capital.
Estes lmes reunidos no projeto Braslia: A ltima utopia
compem seis episdios (6 lmes) sobre a cidade e seis diferentes
declaraes de amor a Braslia. Os cineastas da capital utpica
Wladimir Carvalho, Geraldo Moraes, Pedro Ansio, Pedro Jorge,
Moacir Oliveira e Roberto Pires mergulham no imaginrio da
cidade para desvelar a sua paisagem natural; os seus mitos; a sua
mestiagem ; os seus gritos e agruras; os seus monumentos e es-
pecialmente o seu povo.
No lme dirigido pelo do cineasta e professor Geraldo Mo-
raes intitulado A Capital dos Brasis, as contradies e diversida-
des da capital so reveladas a partir dos contraditrios pontos de
encontros da cidade como bares, cinemas, comrcios, rodoviria,
reas de lazer e especialmente (uxos comunicativos) pela pro-
fuso de sotaques que produzem uma sinfonia de falares que
constri-se e ressignica este entroncamento lingustico entre o
nativo e o imigrante europeu; entre o urbano e o rural e entre
o moderno e o arcaico. E isso gerou um modo de falar prprio
congregando a coexistncia de mltiplas linguagens - um modo
de comunicar assentado na relao dos habitantes em suas expe-
rincias reais e cotidianas e com a construo imaginaria de Bra-
slia produzida tambm pelas pantalhas da televiso e de outras
mdias eletrnicas audiovisuais.
Em Paisagem Natural, o documentarista Wladimir Carvalho
elege as singularidades do cerrado onde se localiza a seca capital
no serto do planalto central, para realizar um contraponto e um
mergulho nas guas das trs bacias hidrogrcas que circundam
a arquitetura em concreto, dando um sopro de verde e anil na
paisagem amarelada e exuberante que hospeda a cidade e colore o
202
cerrado com instantes de poesia visual, que risca o cu de Braslia
imortalizada em prosa e verso.
Moacir de Oliveira em Sute Braslia realiza um passeio pela
arquitetura de capital ao som de sute Braslia do compositor Re-
nato Vasconcelos que se tornou uma espcie de sinfonia da cidade.
O cineasta Pedro Ansio recorre ao personagem Will Eisner,
para sair dos quadrinhos e lmar o misticismo da capital rodeada
por seitas, rituais, crenas e todo tipo de xamanismo. Os cineas-
tas recorrem ao imaginrio da cidade para recontar de forma ale-
grica a histria do Brasil da colonizao construo da cidade
(Pedro Jorge) da trajetria do trabalhador da construo civil ao
retornar a cidade (Roberto Pires).
Ao eleger a contradio como elemento dinmico e fundador
do imaginrio de Braslia tanto dos lmes dos tempos da sua fun-
dao como nos contemporneos da nova safra, realizados nas l-
timas dcadas cineastas da gerao Braslia; observa-se, nos ttu-
los que do identidade as obras audiovisuais, a conjuno de vastos
territrios extremamente desiguais e assimtricos emoldurados
por polifonias de rostos, raas, estilos arquitetnicos,ambientes
e paisagens por vezes surpreendentes. Ressalta-se que a cidade
compe o imaginrio das narrativas audiovisuais agrantemente
nos nomes das obras: A inveno de Braslia de Renato Barbie-
ri; Brasiconscopio de Mauro Giuntini; Brasili Ap de R.C.
Ballerini; Brasilirios de Srgio Bazi e Zuleika Porto; W3 Sul
de Marcelo Emmanuel e Eliomar Arajo; Braslia uma Sinfonia
Regina Rocha, Braxilia de Danyella Proena e tantos outras.
Para Morin o cinema a composio do mundo imaginrio,
lugar por excelncia de manifestao dos desejos, sonhos e mitos
do homem graas convergncia entre as caractersticas da ima-
gem cinematogrca e determinadas estruturas mentais de base.
Com toda a proximidade que o cinema tem com a realidade, a
tendncia do espectador no poderia ser outra, seno identicar
se. Assim, o cinema se faz discurso e congura vises de mundo
e valores de classes sociais, de grupos, de pocas e de geraes.
(1983:36)
203
O signicado do nome Braslia depende do olhar e do sen-
timento de pertencimento que cada um tem com a cidade. O
reconhecimento do valor patrimonial fundamentado no plano
urbanstico de Lucio Costa concebido em quatro escalas estrutu-
rais: A monumental representada pelos longos eixos que cortam
a cidade; a gregria representada por todos os setores de con-
vergncia da populao (igrejas, escolas, farmcias, comrcios);
a residencial representada pelas superquadras sul e norte e a
buclica que permeia as outras trs representadas por extensos
gramados, reas de lazer, parques e toda a orla do lago Parano.
neste cruzamento de cenrios que o plano piloto ofere-
ce ao olhar e a lente dos realizadores a imagem da cidade que
continua a ser lmada nos pilotis dos blocos, na vastido dos
gramados, no entremeados dos eixos e tesourinhas que a cortam
e recortam.
Num esforo de fugir de imagens clichs que povoam o
imaginrio urbano, assim como ir alm das metforas fceis
que se encontram esvaziadas de sentido, observa-se que a com-
posio das variadas narrativas cinematogrcas sobre a cidade
nos lmes de realizadores candangos encontram-se quatro eixos
de convergncias temticas: a) questo da violncia urbana na
cidade (faroeste caboclo/ batizado por Renato Russo que imor-
talizou a cidade nos seus versos e olhares; b) As diferenas e
desigualdades sociais, culturais, econmicas e de gnero;c) Sin-
gularidades da arquitetura, paisagem e urbanismo; d) Poltica,
formas de corrupo e abuso de autoridade; multiculturalismo e
diversidade cultural e sexual. Nas narrativas ccionais as formas
de seduo, sexo e traio conguram-se com recorrncia nos
lmes de curta metragem produzidos pelos cineastas da capital.
No domnio dos lmes os quatro eixos convergem para
uma cidade monumento que convive com toda sorte de violn-
cia urbana como assaltos, sequestros; homicdios, explorao
sexual, formas de delinquncias e ao policial que dinamizam
os cenrios que protagonizam a relao dos habitantes com a
204
experincia de viver nesta urbe que mobiliza situaes sensrio
motoras; ticas e sonoras.
Braslia, longe da sua amplido, solido e espaos generosos
, de alguma forma, humanizada nos lmes da gerao Braslia
ao ser emoldurada por paisagens humanas que entrecruzam
territrios fsicos e simblicos, eixos e paralelas que connam,
segregam e separam. Notabiliza-se a profuso de tipos que convi-
vem na zona central da cidade no cruzamento da rodoviria com
o plano piloto e as demais cidades satlites.
A congurao imagtica de Braslia, consagra a virtude de
cidade monumento. Nos lmes A era JK de Francisco Cesar
Filho de 1993 ou em O jardineiro do tempo de Mauro Giuntini e
ainda em Tep (1999) de Jos Eduardo Belmonte, o monumento-
cidade apresentada em branco e preto em dias de sol e noites
chuvosas que acolhem dilogos permanentes de ateus e divinda-
des, que perambulam pelo imaginrio da capital.
Personagens emprestam Braslia elementos que con-
feitam as identidades culturais, seja no lme, Athos de Sergio
Moriconi, em 1998, em que assistimos uma profuso artstica
impar da arte moderna ou em Viva Cassiano, de 2004, em que
encontramos o poeta que crava seus versos nos pontos de ni-
bus da cidade e ainda, em Ocina Perdiz de Marcelo Diaz, de
2006, que garante um olhar revelador da cena teatral da capital,
no improviso militante da ocina mecnica e teatro Perdiz,
reduto da arte de encenao e de revelao de atores da cida-
de. Em Teodoro Freire O guardio do rito de Noga Ribeiro
e Willian Alves, a tradio recontada do folclore da capital
revivida e reeencenada concretizando o encontro entre tradio
e memria oral e visual.
Ainda, nos lmes o Rap o canto da Ceilndia de Ardiley
Queiroz, de 2005, e em Lo 1313 e Feliz aniversrio Urbana, da
cineasta Betyse de Paula, o melhor da alma imaginria da capital
se corporica esplendorosamente em personagens funcionrio
pblico, do congresso nacional, como tambm na tenaz Urbana,
que protagoniza a intimidade de viver na super capital do Brasil
205
e com ela compartilhar o poder; os eixos da cidade que tecem e
entrecortam planos e miradas.
Os lmes abordam elementos relacionados ao imaginrio
coletivo da formao urbana e da constituio da sociedade bra-
siliense. As produes sobre Braslia apresentam narrativas que
mesclam os imaginrios criados e construdos ao longo da his-
toria cultural da capital e que foram se consolidando auxiliados
por esteretipos confrontados por imagens realistas do contexto
atual compreendendo a dinmica singular da cidade capital.
Aspectos que a tornam nica e singular so pincelados nos lmes
por meio da recorrncia em registrar a diversidade tnica e cultu-
ral dos seus habitantes, da sua arquitetura, paisagismo e desenho
urbano. Mas est na relao afetiva o que se estabelece entre os
lugares e seus moradores, transeuntes, personalidades e persona-
gens, a construo do imaginrio identitrio da cidade.
RECONFIGURAR A MEMRIA NA PRESENA DO CINEMA
Reviver a memria audiovisual da cidade como corpo e di-
menso totalizante do discurso, adentra no local para reetir o
global e sublinha o uxo do tempo de forma pontual para atuali-
zar o passado no presente, de maneira que se torna indiscernvel
uma distino entre ambos. A partir da leitura da verticalizao
do espao urbano na construo da narrativa cinematogrca,
aproxima-se a percepo do tempo em sua forma mais sensorial:
a memria, comumente colocada em contraposio ao contem-
porneo.
Passado e presente unidos ao real e ao imaginrio, siginica,
para Deleuze (2007) a prpria imagem-tempo pois provoca um
circuito na qual a imagem atualiza a precedente e se atualizada
na seguinte.
Nestas dobras de tempo atravessadas pelas pontas do presen-
te, a imagem tempo aciona a nossa memria das grandes cida-
des no cinema como constituinte de um imaginrio de presenti-
cao dessa memria mundo que atravessamos.
206
O cinema brasiliense reconstri os prdios e recortes arqui-
tetnicos, refaz percursos entre eixos e avenidas, recria interio-
res e exteriores oferecendo novos sentidos aos espaos da capital.
No cinema, a arquitetura se decompe e recompe o mundo de
outra mirada. Com arquitetura cinematogrca a linguagem do
cinema faz o elo da ps-modernidade de Braslia ao destilar e
destinar caractersticas afetivas a espaos fronteirios e com trn-
sito contnuo de sujeitos. Pontos de interseco entre passagens
e convivncias, formas de sociabilidades e de convvios direcio-
nando a movimentao dos habitantes, favorecendo mltiplas
relaes que o espectador percorre no espao flmico.
a experincia comum, na qualidade de elemento fundador,
que constitui o imaginrio e o verdadeiro motor das historias
humanas dos lmes candangos. Para compreender a ordenao
desses espaos preciso entender o posicionamento dos persona-
gens nas narrativas flmicas. Perceber que os inmeros elemen-
tos constitutivos dos espaos de um lme apresenta-se como um
produtivo indicador de anlise da relao imaginria da cidade
com o cinema.
So nestes agenciamentos espaciais da cidade no cinema que
se edica a relao dos sujeitos com a cidade e do pblico com
o lme. Assegura a cada lme, diferentes ngulos e perspectivas
trabalhados em profundidade de campo, emendados na conti-
nuidade de planos combinados na ordem das sequncias. Sujeitos
e personagens se fundem a novos e velhos lugares que, moder-
nizados pelas novas tecnologias audiovisuais, demarcam novas
territorialidades incorporando o domstico no espao pblico,
convertendo espaos coletivos em espaos privados.
O imaginrio de Braslia na cinematograa contempornea
potencializa sensaes articuladas na pluralidade de dimenses
espaciais e, na multiplicidade de sujeitos que desvelam por meio
das lentes do cinema, os modos de conviver e interagir dos can-
dangos, com os generosos espaos desta cidade monumento
Braslia ressignicada visualmente como cidade paisagem.
207
As Braslias visveis do cinema brasileiro funcionam como
um recurso de memria e da paradoxal relao entre o real e o
mito. Ora, prevalece uma relao de proximidade absoluta com
o real, na qual assistimos a experincia sobreposta pela mediao
do que est sendo representado, ora a cidade apresenta-se como
mero artifcio de aproximao do real, indcio de um referente
nem sempre existente.
Pensar a imagem e o imaginrio das cidades na cultura con-
tempornea envolve necessariamente a leitura das representaes
urbanas cinematogrcas como partes fundamentais de um sis-
tema comunicacional. Nosso intento foi contribuir neste debate
destacando a multiplicidade de formas de representar Braslia en-
tre o real e o virtual.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALBERNAZ, Patrcia da Cunha. Curta Braslia: A imagem da cidade no
olhar do cinema e sua relao com o turismo. Dissertao de mestrado do
Centro de Excelncia de Turismo da UnB, orientao Tnia Montoro
2009.
CARVALHO, Wladimir. Cinema Candango. Fundao Cinememria.
Braslia, 2002.
CASTRO, G. Poemas Vis. Braslia; Ed. Casa das Musas, 2010.
COELI, Maria. Segredos de Papel. In: Wagner Hermuche (org.) Abs-
trata Braslia- Concreta. Publicao do Centro Cultural Banco do
Brasil, Braslia, 2003.
DOBAL, Susana. Fotograas - mundo. In: Wagner Hermuche (org.)
Abstrata Braslia Concreta. Publicao do Centro Cultural Banco do
Brasil, Braslia, 2003.
GASTAL, Susana. Turismo, Imagens e Imaginrios. So Paulo: Ed. Ale-
ph , 2005.
208
JUNQUEIRA, Lilia. Manguebit e Gentrication: Relaes entre cul-
tura e espao urbano em Recife. In: ngela Prysthon (org.) Imagens da
Cidade: Espaos Urbanos na Comunicao e Cultura Contempornea. Ed.
Sulina, Porto Alegre , 2006 .
DELEUZE, Gilles. A imagem- tempo: cinema 2. So Paulo: Editora
Brasiliense, 2007.
LEGROS, Patrick et al. Sociologia do Imaginrio. Porto Alegre: Editora
Sulina, 2007.
MAFFESOLI, Michel. Notas sobre a ps modernidade. O lugar faz o
elo. Rio de Janeiro: Atlntica Editora, 2004.
___________. O imaginrio uma realidade. Revista Famecos: Mdia,
cultura e tecnologia. Volume 2, numero 15, disponvel em: http:/re-
vcom2.porcom. intercom.org. br/ ndex. Php/famecos/article. Acesso
08/09/2010.
PRYSTON, ngela (org.) Imagens da Cidade: Espaos Urbanos na Co-
municao e Cultura Contemporneas. Porto Alegre: Editora Sulina,
2006.
PRYSTON, ngela e CUNHA, Paulo. Ecos Urbanos; A cidade e suas
articulaes miditicas. Porto Alegre: Editora Sulina, 2008.
SABIDO RAMOS, Olga (coord.) Georg Simmel, una revisin contem-
pornea. Editorial del hombre- Anthropos:Barcelona, 2007.
SILVA, Alexandre Rocha e ROSSINI, Miriam de Souza (orgs.) Do au-
diovisual s audiovisualidades: Converso e Disperso nas mdias. Porto
Alegre: Editora Asterico, 2009.
SIMMEL, Georg. El Conicto: Sociologia del Antagonismo. Madrid; Se-
quitur, 2010.
STAM, Robert. A literatura atravs do Cinema. Realismo, magia e arte
da adaptao. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2008.
LIMA, Rogrio e FERNANDES, Ronaldo Costa (org.). O imaginrio
da cidade. Braslia: Editora da UnB, 2000.
209
MANGEL, Arberto (org.) Lendo Imagens : Uma historia de amor e dio.
So Paulo: Companhia das Letras, 2001.
MONTORO, Tnia e CALDAS, Ricardo (orgs). Imagem em Revista.
Braslia: Ed. Abar/ Fundao Astrojildo Pereira, 2007.
MONTORO, Tnia. A construo do imaginrio feminino no cine-
ma espanhol contemporneo. In: Tnia Montoro e Ricardo Caldas
(orgs.) De olho na imagem: Braslia: Ed. Abar/ Fundao Astrojildo
Pereira, 2006.
MORIN, Edgar . O cinema ou o homem imaginrio. Lisboa: Relgio
dgua, 1983.
ZUNZUNEGUI, Santos. Pensar la Imagen. Ctedra UNESCO/ Uni-
versidade del Pais Vasco, San Sebstian, 1999.
210
211
Caro Leitor,
Agradecemos pela aquisio desta publicao da Annablume
Editora.
Desde 1993, a Annablume edita ensaios acadmicos sobre os
mais diversos temas ligados s Humanidades.
Gostaramos de mant-lo atualizado sobre nossos lanamen-
tos, eventos, reedies e promoes nas reas de seu interesse.
Basta acessar o nosso site (www.annablume.com.br), infor-
mar seus dados na seo Cadastre-se e selecionar os assuntos sobre
os quais voc deseja receber informaes.
Obrigado e at breve!
Jos Roberto Barreto Lins
Editor
www.annablume.com.br
You might also like
- A Vida de Uma Princesa Árabe Revela a Opressão das MulheresDocument144 pagesA Vida de Uma Princesa Árabe Revela a Opressão das MulheresMarcos Bezerra da CostaNo ratings yet
- Janara Sousa - As Sete Teses Equivocadas Sobre Conhecimento CientíficoDocument10 pagesJanara Sousa - As Sete Teses Equivocadas Sobre Conhecimento CientíficoRaquel HolandaNo ratings yet
- Janara Sousa - As Sete Teses Equivocadas Sobre Conhecimento CientíficoDocument10 pagesJanara Sousa - As Sete Teses Equivocadas Sobre Conhecimento CientíficoRaquel HolandaNo ratings yet
- Janara Sousa - As Sete Teses Equivocadas Sobre Conhecimento CientíficoDocument10 pagesJanara Sousa - As Sete Teses Equivocadas Sobre Conhecimento CientíficoRaquel HolandaNo ratings yet
- Brasil em Tempo de Cinema - Jean-Claude BernardetDocument116 pagesBrasil em Tempo de Cinema - Jean-Claude BernardetBê PiresNo ratings yet
- Micro ME850Document55 pagesMicro ME850api-3765629100% (1)
- Gustavo CASTRO e Florence DRAVET - Pensamento Comunicacional e PoéticoDocument13 pagesGustavo CASTRO e Florence DRAVET - Pensamento Comunicacional e PoéticoRaquel HolandaNo ratings yet
- Hipias MaiorDocument20 pagesHipias MaiorAirton FélixNo ratings yet
- A ruptura entre duas eras do cinema segundo DeleuzeDocument25 pagesA ruptura entre duas eras do cinema segundo DeleuzemauriliolimajuniorNo ratings yet
- Sobre Freitag. A Teoria Crítica - Ontem e HojeDocument6 pagesSobre Freitag. A Teoria Crítica - Ontem e HojeRaquel HolandaNo ratings yet
- Para Começar Um Projeto de PesquisaDocument9 pagesPara Começar Um Projeto de PesquisaJoão Vieira NetoNo ratings yet
- Haberle, Peter - Hermeneutica ConstitucionalDocument27 pagesHaberle, Peter - Hermeneutica ConstitucionalAdenilton Ferreira100% (4)
- Braga para Começar Um Projeto de PesquisaDocument9 pagesBraga para Começar Um Projeto de PesquisaRaquel Holanda100% (1)
- Marc Ferro - O Conhecimento Histórico, Os Filmes, As MidiasDocument9 pagesMarc Ferro - O Conhecimento Histórico, Os Filmes, As MidiasRaquel HolandaNo ratings yet
- Latour Como Terminar Uma TeseDocument14 pagesLatour Como Terminar Uma TeseRaquel HolandaNo ratings yet
- Do Corpo Ao Corpo Ausente A Redistribuição Das FronteirasDocument10 pagesDo Corpo Ao Corpo Ausente A Redistribuição Das FronteirasRaquel HolandaNo ratings yet
- Cinema Como Fonte HistóricaDocument7 pagesCinema Como Fonte HistóricaalcantarauftNo ratings yet
- Imagens Da Cultura, Cultura Das Imagens - Volume1Document526 pagesImagens Da Cultura, Cultura Das Imagens - Volume1Raquel HolandaNo ratings yet
- EoradioDocument647 pagesEoradioMarcos Paulo FurlanNo ratings yet
- Nietzsche - A Origem Da TragédiaDocument227 pagesNietzsche - A Origem Da TragédiacleoteteuNo ratings yet
- Itens HAMP Exportado 22-01-2019 10-46-53 872Document5 pagesItens HAMP Exportado 22-01-2019 10-46-53 872Senhor FanáticoNo ratings yet
- Livro Natureza RenascimentoDocument2 pagesLivro Natureza RenascimentoCarolina SenraNo ratings yet
- Mapa - Far - Farmacologia Aplicada - 52-2023Document2 pagesMapa - Far - Farmacologia Aplicada - 52-2023Cavalini Assessoria AcadêmicaNo ratings yet
- Aquisições emergenciais para enfrentar coronavírusDocument13 pagesAquisições emergenciais para enfrentar coronavírusSebastião JuniorNo ratings yet
- CatalogoDocument72 pagesCatalogoQue torcida é essa.No ratings yet
- Análise de Risco para Supressão VegetalDocument12 pagesAnálise de Risco para Supressão VegetalAdilson Sousa LimaNo ratings yet
- CO MUELLER - Bomba KSB 050-032-250 - Folha de DadosDocument6 pagesCO MUELLER - Bomba KSB 050-032-250 - Folha de DadosmarceloNo ratings yet
- 878250-1 Lista de ExerciciosDocument2 pages878250-1 Lista de ExerciciosURANIONo ratings yet
- 2815-lms FileDocument5 pages2815-lms FileShayrula AliceNo ratings yet
- Tabela de AlcalinidadeDocument1 pageTabela de AlcalinidadeedsonNo ratings yet
- Aposto e VocativoDocument3 pagesAposto e VocativoJessica VasconcelosNo ratings yet
- Lista Magias D&D 5E MAGODocument33 pagesLista Magias D&D 5E MAGOPedro Faria XavierNo ratings yet
- Orgânica3 Hidrocarbonetos (Parte1)Document21 pagesOrgânica3 Hidrocarbonetos (Parte1)Lorenzo RamosNo ratings yet
- Modulo 2 FTFDocument16 pagesModulo 2 FTFAmanda SáNo ratings yet
- Diagnóstico dos 5 Ps da estratégia em empresa de usinagemDocument3 pagesDiagnóstico dos 5 Ps da estratégia em empresa de usinagemJoão Paulo G. SilveiraNo ratings yet
- Triângulos - ClassificaçãoDocument21 pagesTriângulos - ClassificaçãoDanNo ratings yet
- Growth suplementos pagamentoDocument1 pageGrowth suplementos pagamentoEu sou o pai do YOUTUBENo ratings yet
- A concepção durkheimiana da regulação moral da economiaDocument20 pagesA concepção durkheimiana da regulação moral da economiaMatheus CostaNo ratings yet
- l086dz FullDocument3 pagesl086dz FullluiztigrefreitasNo ratings yet
- Engenharia e inovação: compartilhando experiênciasDocument40 pagesEngenharia e inovação: compartilhando experiênciasFabiano AlvesNo ratings yet
- Morte e Vida Severina de João CabralDocument28 pagesMorte e Vida Severina de João CabralAndré MoreiraNo ratings yet
- Virtual Wi Fi Router Download BaixakiDocument8 pagesVirtual Wi Fi Router Download BaixakiPauloNo ratings yet
- Automatização residencial: projeto de instalação elétricaDocument14 pagesAutomatização residencial: projeto de instalação elétricaLucas MatosNo ratings yet
- A AMIZADE É MAGICA MODULO OP VFINAL - Por Onze#6904Document27 pagesA AMIZADE É MAGICA MODULO OP VFINAL - Por Onze#6904Thecla CoronataNo ratings yet
- Estatuto do servidor DiademaDocument46 pagesEstatuto do servidor Diademajmaj jmajNo ratings yet
- Manual do Aluno Village Park DogDocument4 pagesManual do Aluno Village Park DogSadm SorocabaNo ratings yet
- Procedimentos para ensaio de viga de concreto protendidaDocument66 pagesProcedimentos para ensaio de viga de concreto protendidaLucasNo ratings yet