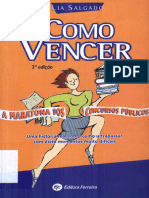Professional Documents
Culture Documents
Complexo de Principezinho
Uploaded by
DENISE DEVILLERCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Complexo de Principezinho
Uploaded by
DENISE DEVILLERCopyright:
Available Formats
O Complexo do Principezinho – A negação da morte
Acima de tudo, Jovem!
Jacques-Antoine Malarewicz
Como qualquer outra, a nossa sociedade constrói-se a cada momento a partir, e à
volta, de certos valores, que têm um carácter de evidência tal que não parecem poder,
nem mesmo dever, ser postos em causa. Insensivelmente, e no espaço de uma
geração, da década de 1970 aos nossos dias, a juventude transformou-se no valor
central à volta do qual a nossa sociedade de consumo se constrói e desenvolve.
Esta necessidade de promover a juventude manifesta-se não apenas no discurso
político mas também na vontade de satisfazer novas expectativas. A esperança de vida
não cessa de aumentar nos países mais ricos, a necessidade de filiação faz com que a
procriação seja cada vez mais artificial e a morte tende a desaparecer da nossa
paisagem mental. De curativa, a medicina acabou por se transformar em preventiva,
adaptou-se a todas estas novas solicitações.
E, sobretudo, mudou profundamente a nossa relação com o tempo e com a sua
duração. Temos, agora, tendência a fundirmo-nos intimamente ao instante, ao
presente imediato. Isso permite libertarmo-nos dos danos da idade. Reencontramos,
frequentemente, esta cultura do imediatismo nos períodos de guerra onde a incerteza
do amanhã dá um novo sabor ao quotidiano. É, aliás, possível que estejamos em
guerra contra os nossos medos.
A negação da morte
A glorificação da juventude faz-se «naturalmente» na negação e ignorância do
envelhecimento e da morte. Vivemos assim numa sociedade que tem cada vez mais
tendência a negar a morte e a apagar as suas manifestações mais aparentes. Morrer
transformou-se em objecto de escândalo. Os rituais que acompanham o
desaparecimento de uma pessoa têm tendência a apagar-se ou, pelo menos, a perder
o essencial do valor simbólico e emocional que antes tinham. Estes rituais têm
tendência a tornarem-se cada vez mais breves e confidenciais. Já não há furgões
mortuários nas ruas, os cortejos funerários desfilam geralmente ao ritmo da circulação
rodoviária afogados no anonimato das auto-estradas e dos grandes eixos.
As crianças são elas próprias protegidas da realidade da morte e só a percebem
através de uma experiência essencialmente virtual. A nossa existência, essencialmente
urbana, já não as põe em contacto com o sofrimento e o desaparecimento de animais,
como podia ser o caso num mundo rural. A morte de um cão ou de um gato, a ida para
o matadouro de uma vaca ou de um cavalo assumiam, noutros tempos, um sentido
imediato, eram acontecimentos que continham, manifestamente, um valor de
aprendizagem.
Actualmente, as crianças recebem imagens de cadáveres via televisão ou cinema, mas
esses mortos são constantemente banalizados, «virtualizados» e, sobretudo, são
cadáveres que vêm de longe[1]. Na maioria das situações, é a violência que prevalece.
Isso faz com que a criança sinta dificuldade em imaginar outras circunstâncias que
provoquem a morte. Ela só pode ser o resultado de uma acção brutal, num contexto
de lutas, de guerras ou de terrorismo. Os cadáveres de que as crianças se podem
aperceber através dos media não lhes são explicados já que os próprios adultos
acabam por ignorar essas imagens, ou por má consciência ou por ser mais cómodo.
Os jogos de vídeo banalizam e desdramatizam a morte. Cada personagem dispõe
geralmente de várias «vidas», o que exclui qualquer fim fatal e definitivo. O inexorável
não existe – seria muito difícil de aceitar – mas a sua ausência não permite a
aprendizagem de um limite que não pode ser ignorado.
Mais uma vez, os adultos transmitem às crianças a sua própria apreensão da morte.
Por exemplo, quando ouço pessoas que estão a viver um luto, espanto-me com o
vocabulário por elas utilizado. Raramente falam de «morte», mas sim de
desaparecimento ou perca. A palavra «morte» nunca é pronunciada ou então
raramente. Diz-se que esta ou aquela pessoa «nos abandonou», ou ainda que se
«retirou», que «partiu».
Na mesma ordem de ideias, vejo cada vez mais pais que pedem uma consulta para o
filho – cuja idade varia geralmente entre cinco e dez anos –, o qual, segundo eles, fala
frequentemente de morte. No espírito de determinados adultos passou a ser
insuportável que as crianças possam utilizar um termo que eles já abandonaram. Vêem
aí, rápida e facilmente, uma manifestação patológica e, consequentemente, um
comportamento inquietante que justifica, aos seus olhos, uma ida ao psiquiatra.
De facto, quando uma criança sente que pronunciar a palavra «morte» é mal aceite
pelos pais, até quase se transformar em provocação, ela tenderá a servir-se da palavra
como arma de manipulação. Esta criança não está doentiamente obcecada pela morte,
apenas utiliza um poder que lhe é dado pelos pais no medo que têm em afrontar, eles
próprios, a existência da morte.
A criança tem necessidade de «conhecer» a morte, tal como lhe é necessário descobrir
todas as declinações da vida; isso significa que tem necessidade de se confrontar com
a realidade total. Geralmente, esta aprendizagem faz-se por volta dos seis, sete anos,
ao mesmo tempo que conhece o tempo e, consequentemente, a duração. O finito e o
infinito assumem então um sentido para a criança, ela integra a existência de um limite
que deveria transformar-se no próprio exemplo de qualquer limite.
You might also like
- As Crianças TiranasDocument3 pagesAs Crianças TiranasDENISE DEVILLERNo ratings yet
- As Crianças TiranasDocument3 pagesAs Crianças TiranasDENISE DEVILLERNo ratings yet
- Que Se Dane A Oinião AlheiaDocument3 pagesQue Se Dane A Oinião AlheiaDENISE DEVILLERNo ratings yet
- Milene 1 AnoDocument6 pagesMilene 1 AnoDENISE DEVILLERNo ratings yet
- FilhosDocument2 pagesFilhosDENISE DEVILLERNo ratings yet
- RecadoDocument1 pageRecadoDENISE DEVILLERNo ratings yet
- RecadoDocument1 pageRecadoDENISE DEVILLERNo ratings yet
- Tratado de VersalhesDocument5 pagesTratado de VersalhesDENISE DEVILLERNo ratings yet
- FilhosDocument2 pagesFilhosDENISE DEVILLERNo ratings yet
- O segredo para ganhar na LotomaniaDocument35 pagesO segredo para ganhar na LotomaniaDENISE DEVILLER100% (2)
- FarrapoDocument3 pagesFarrapoDENISE DEVILLER100% (1)
- Pe de Moleque 303Document1 pagePe de Moleque 303DENISE DEVILLERNo ratings yet
- SàngoDocument8 pagesSàngoDENISE DEVILLERNo ratings yet
- O Jogo de 4 BúziosDocument2 pagesO Jogo de 4 BúziosDENISE DEVILLER100% (3)
- Receita de Comida para OxumarêDocument5 pagesReceita de Comida para OxumarêDENISE DEVILLERNo ratings yet
- Prática DiscursivaDocument18 pagesPrática DiscursivaWillian de Sousa CostaNo ratings yet
- Evoiucao Dos Sistemas Agrarios No Infulene - MaputoDocument23 pagesEvoiucao Dos Sistemas Agrarios No Infulene - Maputoniquisse100% (1)
- Dias Gloriosos - Divaldo Pereira FrancoDocument179 pagesDias Gloriosos - Divaldo Pereira FrancoNishely0% (1)
- Implementação modifica políticas públicasDocument12 pagesImplementação modifica políticas públicasRuy de Deus100% (1)
- "Tabacaria": AnáliseDocument72 pages"Tabacaria": AnáliseFlavio FariaNo ratings yet
- Vivências no Assentamento Conquista no LitoralDocument16 pagesVivências no Assentamento Conquista no LitoralEloize YoshikoNo ratings yet
- As Concepções Da Verdade - RESUMODocument3 pagesAs Concepções Da Verdade - RESUMOMoriat AndradeNo ratings yet
- O terceiro continente: a emergência de um novo gênero literário entre realidade, pesquisa e ficçãoDocument9 pagesO terceiro continente: a emergência de um novo gênero literário entre realidade, pesquisa e ficçãoCarolina MannNo ratings yet
- Módulo II - Legislação EducacionalDocument57 pagesMódulo II - Legislação EducacionalValdileia Ferreira Vilhena DantasNo ratings yet
- A origem dos cinco cavaleiros elementaisDocument17 pagesA origem dos cinco cavaleiros elementaisWillian SantosNo ratings yet
- Perspectivas sobre o ensino e aprendizagem das ciênciasDocument23 pagesPerspectivas sobre o ensino e aprendizagem das ciênciasThiago SabeNo ratings yet
- A importância da Sociologia Jurídica no ensino do DireitoDocument11 pagesA importância da Sociologia Jurídica no ensino do DireitoMRCALNo ratings yet
- MORAES, KASTRUP Exercicios de Ver e Nao Ver (2010)Document180 pagesMORAES, KASTRUP Exercicios de Ver e Nao Ver (2010)Marci ZambilloNo ratings yet
- Como Vencer A Maratona Dos Concursos Públicos (Lia Salgado)Document110 pagesComo Vencer A Maratona Dos Concursos Públicos (Lia Salgado)Elisângela PerezNo ratings yet
- J. L. Borges, Filosofia Da Ciência e Crítica Ontológica: Verdade e EmancipaçãoDocument16 pagesJ. L. Borges, Filosofia Da Ciência e Crítica Ontológica: Verdade e EmancipaçãoLeandro Velasques LimaNo ratings yet
- Influenciar Outros com Psico-ComandoDocument29 pagesInfluenciar Outros com Psico-Comandojkenny2780% (5)
- Os mal-entendidos do trauma: uma análise psicanalíticaDocument18 pagesOs mal-entendidos do trauma: uma análise psicanalíticaFernando Figueiredo dos Santos ReisNo ratings yet
- Mecanismos de Abuso NarcisistaDocument34 pagesMecanismos de Abuso NarcisistaLeonardo Belizario100% (2)
- Metodologia Do Ensino Do Futebol 2022Document103 pagesMetodologia Do Ensino Do Futebol 2022Artur Veras100% (1)
- SORIANO - DISSERTAÇÃO - 1o CAPITULO (ABRIL 2019)Document51 pagesSORIANO - DISSERTAÇÃO - 1o CAPITULO (ABRIL 2019)Fábio SorianoNo ratings yet
- A evolução do fantástico feminino em Júlia Lopes de Almeida e Augusta FaroDocument22 pagesA evolução do fantástico feminino em Júlia Lopes de Almeida e Augusta FaroAlana BrezolinNo ratings yet
- BEATRIZ Alguns Apontamentos Psicoterapias Fenomenológico-Existenciais B.FDocument11 pagesBEATRIZ Alguns Apontamentos Psicoterapias Fenomenológico-Existenciais B.Frobinhupsi009100% (1)
- Ideias para VencerDocument17 pagesIdeias para VencerMatemáticaFísicaExcelNo ratings yet
- Andrea França - Foucault e o Cinema ContemporâneoDocument10 pagesAndrea França - Foucault e o Cinema ContemporâneoZayra CostaNo ratings yet
- ZIZEK, Slavoj. Arriscar o Impossível Conversas Com Zizek, 2006.Document4 pagesZIZEK, Slavoj. Arriscar o Impossível Conversas Com Zizek, 2006.Marcello BecreiNo ratings yet
- Afterschooling: educando os filhos além da escola de forma otimizadaDocument40 pagesAfterschooling: educando os filhos além da escola de forma otimizadaHannah Nunes100% (9)
- Artigo - A Formulação Do Problema de PesquisaDocument12 pagesArtigo - A Formulação Do Problema de PesquisaLeo B.LemosNo ratings yet
- CartografiaTematica 1 PDFDocument38 pagesCartografiaTematica 1 PDFWellington Nunes de OliveiraNo ratings yet
- A prática clínica na Psicologia Histórico-CulturalDocument14 pagesA prática clínica na Psicologia Histórico-CulturalBruna TerraNo ratings yet
- O Nascimento Do Sujeito - DunkerDocument6 pagesO Nascimento Do Sujeito - DunkerLuis CarlosNo ratings yet