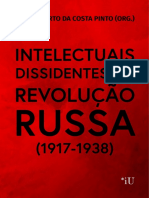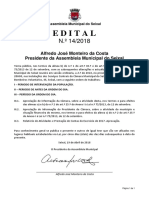Professional Documents
Culture Documents
A História Do Jazz Que Eu Conheço Joaquim Morgado
Uploaded by
Joaquim Morgado0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views5 pageshistória do jazz no Algarve
Original Title
a história do jazz que eu conheço joaquim morgado
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documenthistória do jazz no Algarve
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views5 pagesA História Do Jazz Que Eu Conheço Joaquim Morgado
Uploaded by
Joaquim Morgadohistória do jazz no Algarve
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 5
A HISTÓRIA DO JAZZ QUE EU CONHEÇO (artigo publicado na revista «Em Cena»
sobre a história do jazz no Algarve)
No dobrar da primeira metade do século XX para a segunda, a atmosfera que se vivia no
espaço cultural português era de tal maneira obscura que, no que à música diz respeito,
mais sugeria um quase silêncio bucólico, pantanoso e gorgolejante de putrefacção, aqui e
ali interrompido por uns ruídos inóspitos provenientes da actividade mundana de uma
burguesia pouco desenvolvida como classe, culturalmente pobre e internacionalmente
isolada. Habituada ainda a uma francofonodependência e manietada por uma ruralidade
feudal, a sociedade portuguesa só em raros cadilhos, que sequer franjas, tinha reagido à
americanização subsequente ao final da segunda grande guerra mundial. Mesmo a
pequena reacção verificada, foi-o num grau mais diminuto – assaz mais diminuto – do
que a que se tinha registado em relação às movimentações culturais da chamda Belle
Epoque, as quais terão marcado a chegada dos primeiros ecos dos clarins de New Orleans
aos soalos chiques da velha e atávica Europa, na sequência do final da primeira das
grandes guerras.
Até nas suas camadas mais sensíveis, como a juventude e os intelectuais, a sociedade
existente nessas épocas obscuras era essencialmente marcada pela fobia do novo e por
um auto-ostracismo inflicto, que se tornou o útero de alguns traços divergentes em relação
aos autoritarismos alemão e italiano e, através da união estratégica entre a classe
dominante e a igreja católica, condição da sua perenidade. Associada a esta fobia do novo,
não deixaria de estar, com certeza, ligada uma fobia do negro, já que Portugal resvalava
a grande velocidade para um drama colonial de natureza insolúvel, que viria a remeter a
oligarquia então dominante para o caixote do lixo da história e esse Portugal dominado
para um atraso endémico de carácter político, económico, social e cultural que, à data do
25 de Abril de 1974 se cifraria em mais de trinta anos. Em todo o caso, àqueles sectores
sensíveis sempre era mais fácil interessarem-se pela produção musical do negro
americano do que questionar as próprias origens e os seus laços com o preto da Guiné, de
Angola ou de Moçambique (haveria talvez uma hipócrita quanto cruel condescendência
com o negro cabo-verdiano e as suas músicas, por este ser considerado não
completamente negro, mas originário de um interessante e sensível processo de
criolização – na herança genética como na língua e na música). Assim e num rpimeiro
arrebique de resistência ao maneirismo reinante, de minuete palaciaciano quando não de
crispação hipnótica, que ainda marcava a atitude corporal dos portugueses, os mais jovens
começaram a fazer circular uma produção musical em que o jazz, por se tratar de uma
música sobretudo instrumental, representava a essência mais intelectualizada, mas que
vinha de um grande campo que incluía os blues, o rock ‘n roll e o ressurgimento ainda
incipiente de algumas expressões étnicas mais longínquas, isto à mistura, é claro, com as
tradições populares europeias até aí remetidas à clausura exclusiva do folclore.
Por aqui, entretando, o fenómeno resumia-se a uns rapazes que passavam férias no
Montenegro, os pouquíssimos disk-jockeys das raras discoteques que apareceram por
imperativo turístico e alguns intelectuais de esquerda. Essa rede de apreciadores de jazz
numa cidade de Faro que teria por essa época pouco mais ou pouco menos de quarenta
mil habitantes, resumir-se-ia então a uma escassa meia dúzia de pessoas. Eram no entanto,
felizmente, pessoas amantes da polémica e da sabatinagem das ideias, o que estimulou a
expansão e a divulgação viva daquela forma peculiar de gosto musical que, por via da
apreciação das virtudes improvisatórias emanentes ao jazz, desenvolve, naqueles que
consomem essa arte, uma atitude criativa.
Na passagem da década de sessenta para a de setenta, apareceu em Faro, numa rua até
pouco habitualmente votada a grandes actividades comerciais, uma pequena casa de
discos que, quer pelos preços económicos que praticava, quer pelo facto de oferecer
discos provenientes de uma única etiqueta – a Savoy/Musidisque – parecia ter sido
destinada a alguma forma de liquidação de um património, tanto mais que a própria
etiqueta já teria por essa altura cessado a sua actividade comerrcial. Ora, a
Savoy/Musidisque havia sido responsável, através da sua actividade editorial, pela
considerável expansão do jazz em França e nos mercados europeus adjacentes ao espaço
cultural francês e oferecia um catálogo espectacular que abrangia todo o período de
desenvolvimento do jazz desde o Dixieland até ao Bebop e algumas das continuidades
que se consubstanciariam mais tarde no que viria a dar o Free Jazz. Isto para além de um
considerável acervo de música clássica europeia.
Para além do autor destas linhas, na magra medida da sua capacidade de investimento, e
de mais um ou outro curioso, tornaram-se utentes proverbiais da pequena loja, dois dos
mais frenéticos apreciadores de jaz que me vem à memória ter conhecido. Falo do Arqº
Eduardo Coutinho, que pela época fazia brilhar a sua loquacidade nas tertúlias intelectuais
da pastelaria mundana da cidade e que mais tarde haveria de influenciar o ambiente
cinéfilo através da sua participação numa equipa directiva particularmente influente na
longa vida do Cine-Clube de Faro e do inesquecível e saudoso Rui Cuinha – «a
Pombinha» - que, como disk-jockey, primeiro, e depois como bon vivant e empresário,
foi paulatinamente influenciando o campo do entretenimento que é a alma mater do jazz
e o o que torna uma coisa viva e criadora (ainda que hoje adoptado pela universidade, a
sua verdadeira mãe biológica são os speak easy,os lunpanares, os cabarés e outros
«lugares de perdição«). Organizou concertos com grupos portugueses de jazz, calcorreou
as casas dos amigos com os «disquinhos» debaixo do braço, onde chegava anunciando a
mais recente e difícil aquisição que podia ir de uma raridade do Earl Hines a uma diatribe
do Archi Shep – o «amigue Cunha» era um indefectível, tanto do Leonel Hampton quanto
do Yussef Latef. Na sua «play list» apareciam clássicos como Louis Armstrong Hot Five
engastados no meio da vertigem do Funky já tendendo alegremente para Disco Sound.
Pouco a pouco foi fermentando o que, um tempo antes, seria para muitos impensável –
uma oferta criativa original e local. Foi a confluência de movimentos diversos e de diversa
ordem que tornou possível esta transformação. Nos tempos primitivos em que Eps e LPs,
pequenas e grandes redondelas de vinil preto, circulavam nos pratos das vitrolas quase
como o «Avante» circulava nos saguões das casas clandestinas dos comunistas, como se
apreciá-los fosse um perigoso vício diletante, baseado em conspícuas sensibilidades,
quase sempre associadas a devaneios de legalidade duvidosa para fazer tocar uma banda
de jazz ao vivo nas ribanceiras descendentes do Caldeirão, era preciso recorrer à
importação de uma oferta extremamente exígua do que se conseguia ir fazendo em Lisboa
ou, ainda mais residualmente, no Porto. Mesmo assim foi possível ouvir em primeira mão
a segunda formação dos Plexus – grupo que procurava reagir a um certo elitismo
anquilosado que pontificava no HCP.
Agora porém os tempos eram outros e as pessoas tinham outra mobilidade. Em Lisboa
tinha já eclodido a Banda Girassol – a primeira Big Band genuína e inteiramente formada
por músicos portugueses numa operação «home made» montada por Zé Eduardo (a
primeira, não considerando alguns episódios pré-históricos levados a cabo pela iniciativa
e paixão do maestro Tavares Belo – um entre tantos outros farenses que tiveram que fazer
carreira em Lisboa); o HCP fervilhava de ideias e de gente que queria marmelada a sério:
agora aqueles moços, que iam e vinham entre Lisboa e o Algarve, tinham-se tornado uns
contrabaixistas, outros saxofonistas, outros que aueriam tocar saxofone, uns que outros
tocavam instrumentos mas em tempo de free jazz, jazz off, off limit, cabia tudo e mais
alguma coisa e uma que outra coisa de alguma coisa... era boa. Era tempo de nôa nôa e
de tupapau...
Talvez por causa de as latitudes serem mais frias por lá, enquanto uns se desdobravam
em actividades organizativas, educacionais ou criativas para expandir o ambiente do jazz,
outros esforçavam-se por mantê-lo espartilhado no circulozinho apipocado de uma elite
deslumbrada mas em caso algum deslumbrante. De tal forma que, dos músicos algarvios
que se aproximaram do ambiente jazzístico lisboeta por essa época, de barlavento a
sotavento, todos voltavam desiludidos, que não desalentados, com um meio que tinha
mais de medíocre mundaneidade que de genuína criatividade e que aspergia e catalizava
os seus melhores filhos para longe e para nunca mais voltar. Talvez a excepção que
confirma a regra seja o guitarrista de Tavira Telmo Palma – o «Marroquino» (cognome
que lhe provinha do facto de ser filho de emigrantes em Marrocos de onde regressou ainda
com um acentuado sotaque afrancesado e a tradição da guitarra manouche incorporada
nos dedos – mas esse sim, graças a uma índole singularmente humilde e a uma proverbial
paciência se manteve até ao fim da sua vida sob o pesado jugo da emigração interna. De
um modo geral todos os outros acabavam por concluir que, mal por mal, mais valia
respirar no Algarve do que asfixiar em Lisboa. Foi neste contexto que regressou às origens
um saxofonista que era nessa altura conhecido como Moço Severino, não sem antes ter
aproveitado o arejamento da primeira escola de jazz do Hot e todas aquelaspossibilidades
de aprendisagem que dificilmente oderiam ser encontradas aqui. No seu regresso viria,
como saxofonista, pianista e criativo, a ter também alguma influência, principalmente ao
nível do estabelecimento de pontes entre músicos de diferentes filiações e linguagens e
na propaganda de uma atitude estética mais séria, mais moderna, tecnicamente mais
apoiada e mais comprometida com a música. Outro tanto já havia feito ou viria a fazer
pouco depois a título definitivo outro saxofonista (esse de Ferragudo aldeia piscatória
situada em frente a Portimão) Manuel Guerreiro e esse com grande influência no que foi
a extraordinária evolução desta linguagem criativa no barlavento algarvio.
Ao mesmo tempo, no qudro da grande movimentação de pessoas que ocorreu na
sequência do fim das guerras coloniais e consequente independência das antigas colónias,
estabeleceram-se no Algarve um conjunto de músicos, ou bem que africanos, ou bem que
fortemente influenciados pela vivência africana, que transportaram para a sua actividade
musical aqui os resultados dessa vivência, o que se tornou de inestimável valor para uma
transformação criativa que arrastou uma belo número de músicos algarvios, de residência
ou de nascimento. Notoriamente, um grupo de músicos angolanos que se instalaram na
praia do Carvoeiro, que evoluia entre um afro-rock (tipo Osibissa) e uma sedução ao Free
que eles chamavam de Jazz Off. A designação era interessante, a música, é claro, tinha
momentos, mas a inspiração é que era de altíssima qualidade. Quer pela atitude libertária
com relação à música quer pelo modo de vida que praticavam, a sua aldeia (instalada num
estaleiro de obras de uma das muitas construções que pararam com o 25 de Abril) tornou-
se escala obrigatória da música e dos músicos que naquela época procuravam soluções
que levassem o processo criativo para «fora» das barreiras convencionais.
A conjugação deste tipo de acontecimentos com o amadurecimento cultural do próprio
meio, remanescente à democratização do país, iria inevitavelmente conduzir ao apelo
criativo que semeava nuns a convicção de que era possível promover uma atitude estética
independente e noutros o apelo insaciável de se tornarem músicos. Elementos oriundos
dos mais diversos registos da expressão musical, manifestavam então um interesse novo
e todo especial pela linguagem universalista e aberta do jazz e novos conceitos
penetravam o léxico e o domínio cognitivo da ciência musical. O próprio jazz se abria e
se transformava ao mesmo tempo, de fenómeno artístico exclusivamente americano e
estreitamente ligado às ideossincrasias peculiares à realidade socio-cultural americana e
ao seu contexto afrodescendente, num outro fenómeno muito mais global, que Charlie
Haden defini eufemisticamente como «essa música criativa a que chamamos jazz» e que
ficaria particularmente ligada à actividade do produtor alemão Manfred Eicher e ao
catálogo da sua editora de discos – a ECM. Era uma nova atitude, mais definitivamente
universal, que integrava as aproximações de Coltrane e de outros post-bop a culturas
musicais originárias das vastas regiões e áreas civilizacionais cujas nações vinham, a
partir da segunda metade do século XX, acedendo à independência política e cujas
culturas ganhavam em visibilidade e afirmação e cada vez mais beneficiavam do interesse
e da curiosidade da parte da velha Europa – quer da Europa europeia, quer da Europa
emigrada nas américas.
Localmente, o próprio desenvolvimento do modo de vida superveniente à
implantação da democracia, não só tornou o Algarve como destino turístico, como
incrementou bastante a mobilidade dos portugueses, tornando viável e comum a opção de
vir viver e morar no Algarve. Eram tempos de prenhe entusiasmo em torno das coisas
menos óbvias. Músicos de diferentes áreas de gosto e formação aproximavam-se dessa
expressão cuja arte reverbera seriadade e voo, liberdade e commitment. O meio estava a
ficar maduro e José «Boots» Eduardo (antonomásia usada por Zé Eduardo nos primeiros
discos de jazz tocado por portugueses) resolve, após a aventura catalã que o havia
colocado definitivamente no catálogo do jazz europeu, fixar-se em Faro e continuar aqui
o seu trabalho recorrente de ensinar jazz, construir orquestras e organizar festivais.
Com o desenvolvimento do ambiente jazzístico local, notava-se nos músicos o
apelo à necessidade de uma maior proficiência técnica e uma maior abertura a horizontes
estilísticos antes considerados pura especulação ou pretenciosismo. A nova situação
exigia condições quer para o desenvolvimento do estudo, quer para o aparecimento de
espaços em que a confrontação das sensibilidades pudesse manifestar-se na sua
diversidade. Já se tinha notícia do aparecimento de uma excelente escola de jazz no Porto,
com excelente reputação e sentia-se que a oferta formativa era cada vez mais necessária
para que um novo passo no sentido do desenvolvimento da p´ratica jazzística pudesse ser
dado. Foi, de um certo ponto de vista, como se o problema tivesse atraído a solução.
Realmente ter o Zé >Eduardo «à porta de casa» a fazer workshops, a criar orquestras,
mesmo tão simplesmente a dar concertos ou aulas particulares era definitivamente um
sinal de que algo tinha mudado e era para melhor.
Tudo começou com um concerto dado no Teatro Lethes pela «Companhia da
Música Imaginária – um projecto que Zé Eduardo montara com 13 músicos de 5
nacionalidades e cujo formato configurava já o conjunto de características estéticas e
conceptuais da fusão absoluta e total. Na verdade, a expansão do fenómeno jazzístico à
escala planetária transformou o jazz, tanto do ponto de vista dos que o consomem como
do dos que o produzem, na primeira forma de arte verdadeiramente universal. Mais uma
vez e desta feita relativamente à globalização dos sistemas, a arte revelou ser a vanguarda
da consciência.
Num primeiro momento com a colaboração de Luís Monteiro (um baterista que
aparecera uns anos anos no Algarve do pós-25 de Abril, que como tantos outros
regressava de um exílio forçado, mas nem por isso menos dourado em termos de
oportunidades musicais, em Paris e que transportava também uma experiência africana
que havia vivido intensamente no início dos anos 70) conseguiu estabelecer-se um
contacto entre Zé Eduardo e a estrutura directiva da Filarmónica de Faro, que levou à
realização de um primeiro workshop a partir do qual se puderam convocar músico
algarvios de barlavento a sotavento, numa interacção entre as filarmónicas e os nichos de
interesse jazzístico dispersos pelo Algarve ou até músicos exilados e entretanto entregues
a actividades outras, num anel deveras extraordinário. Extraordinário pela rara
possibilidade de encontro entre o ambiente das filarmónicas, o dos músicos que
trabalhavam na esfera do entretenimento associado ao turismo e até dos simples
estudantes que se encontravam também entre a população heterogénea que tinha acedido
a esse workshop. Um anel que incluia músicos profissionais, músicos amadores, músicos
mais velhos, músicos mais novos, músicos locais, músicos estrangeiros residentes no
Algarve, unidos numa pirueta que só o apreço pelo jazz permitia configurar.
Antes mesmo que o workshop tivesse terminado, já era dado como certo que se
seguiria a formação de uma «Big Band» a que se chamou, num primeiro momento,
«Estaleiro da Música» (acredito que numa tradução assaz literal do que tinha sido a casa
do Zé Eduardo em Barcelona – o «Taller de Musics») e num outro momento, depois de
passados os primeiros «enjoos da viagem», definitivamente «Jazz na Filarmónica» (o que
não deixava de ser ao mesmo tempo uma homenagem a uma marca marcante na história
do jazz americano e uma homenagem à própria Filarmónica de Faro que albergava a Big
Band e à ideia filarmónica em geral, uma vez que a própria Big Band ficou a dever a sua
estrutura básica à generosa participação de um bom lote de músicos que pertenciam à
Filarmónica de Lagos e se deslocavam expressamente para cada ensaio em Faro, para que
a banda pudesse funcionar. Na verdade a banda incluia músicos de Faro, de Lagos
evidentemente, mas também de Tavira, de Portimão, de Silves, de Montegordo, de
Boliqueime, do Livramento, do Barão de São João, e por aí vai descrevendo um mapa
que ficará certamente ainda incompleto. Havia um trombonista – Helder Ferreira – que já
havia feito parte da Orquestra Girassol, quase trinta anos antes, como que a escrever esse
traço de união entre um momento iniciador do jazz português e um outro momento
iniciador, este do jazz algarvio, ambos ligados ao labor, à criatividade e à competência do
mesmo músico – o Zé Eduardo. Lá acorreram elementos das mais diversas e inesperadas
proveniências, desde o outro Helder, o Vicente, que vinha da banda da P.S.P. até aoo
Edward, filho de emigrantes portugueses no Canadá que tentava com a família a sua sorte
na terra de origem dos pais – isto para falar apenas dos trombones.
Daí em diante tudo seria diferente. Existiria a partir um campo generativo auto-
alimentado e em permanente crescimento, ao qual, inclusivamente, outros géneros
musicais vão recrutar executantes que se perfilam pela sua competência e disponibilidade
para a expressão de qualquer sentimento musical, qualquer que seja a linguagem em que
se expresse.
Post Scriptum:
Seria não só inexacto como injusto, deixar de nomear dois músicos que, pela sua
acção, haveriam de ter, directa ou indirectamente, influência notável, não só na forma
como o jazz foi ressentido no espaço cultural da cidade de Faro,como pela afirmação do
impacto nacional da sua acção – Manuel Guerreiro e Diamantino Pereir (o Tino),
curiosamente os dois saxofonistas e pertencentes à mesma geração. Do primeiro
começaram a chegar, a partir de meados dos anos 70, os ecos das jam sessions que ele
promovia no seu restaurante em Ferragudo e, um momento depois, a repercussão das suas
apresentações em Lisboa e da sua parceria com Rão Kiao; ao segundo, regressado da
África do Sul (onde havia prosseguido uma carreira de músico profissional como
acordeonista primeiro e saxofonista depois) a partir da fase final da década de 70, ficou a
dever-se, para além de uma certa democratização dos instrumentos de música (nessa
época sijeitos a uma absurda taxação como artigos de luxo), designadamente saxofones,
muito particularmente a disponibilização aos estudiosos do jazz, de literatura didáctica
originária do Berkeley Institute of Music em edições quase enciclopédicas que fizeram
da sua casa um lugar de peregrinação para a maior parte dos músicos de jazz da península
ibérica..
You might also like
- Eu Acredito Que Sempre É Possível Nos Tornarmos MelhoresDocument1 pageEu Acredito Que Sempre É Possível Nos Tornarmos MelhoresJoaquim MorgadoNo ratings yet
- Ideologia e Estrategia Anarquismo Movime PDFDocument240 pagesIdeologia e Estrategia Anarquismo Movime PDFVinicius GallierNo ratings yet
- 1 - Claro Horizonte Além - 76Document2 pages1 - Claro Horizonte Além - 76Joaquim MorgadoNo ratings yet
- Italianos Antifascismo e Perseguicao PolDocument19 pagesItalianos Antifascismo e Perseguicao PolJoaquim MorgadoNo ratings yet
- Contra Leviata Contra A HistoriaDocument201 pagesContra Leviata Contra A HistoriaJoaquim MorgadoNo ratings yet
- Strikes and Social Conflicts 2nd Edition-5 PDFDocument837 pagesStrikes and Social Conflicts 2nd Edition-5 PDFalejo30y6No ratings yet
- A revolução espanhola 80 anosDocument128 pagesA revolução espanhola 80 anosDe la RosaNo ratings yet
- Construção - de Memórias e Escrita Da História Como Militância Política - Edgar Rodrigues e o AnarquismoDocument29 pagesConstrução - de Memórias e Escrita Da História Como Militância Política - Edgar Rodrigues e o AnarquismoMoacyr MJrNo ratings yet
- Sindicalismo revolucionario y lucha armadaDocument173 pagesSindicalismo revolucionario y lucha armadaEmersonNo ratings yet
- Lutas Sociais em Sorocaba - 2018 PDFDocument473 pagesLutas Sociais em Sorocaba - 2018 PDFBreno AugustoNo ratings yet
- Neno Vasco Por Neno Vasco A Escrita CronDocument39 pagesNeno Vasco Por Neno Vasco A Escrita CronJoaquim MorgadoNo ratings yet
- Dissertação FinalDocument138 pagesDissertação FinalThiago LemosNo ratings yet
- O jornal anarquista A Plebe e as estratégias de propaganda no movimento operário paulista (1917-1920Document76 pagesO jornal anarquista A Plebe e as estratégias de propaganda no movimento operário paulista (1917-1920Joaquim MorgadoNo ratings yet
- Pela Reforma Contra A Revolucao Notas SDocument34 pagesPela Reforma Contra A Revolucao Notas SJoaquim MorgadoNo ratings yet
- Intelectuais Dissidentes Da Revolução Russa - Ebook IntelectuaisDocument336 pagesIntelectuais Dissidentes Da Revolução Russa - Ebook IntelectuaisAndressa Fabrina Klauck100% (2)
- A Terra Livre: jornal anarquista e sua rede social (1905-1910Document155 pagesA Terra Livre: jornal anarquista e sua rede social (1905-1910Joaquim MorgadoNo ratings yet
- Dissertacao 2018 Brunobenevides Versaofinal PDFDocument191 pagesDissertacao 2018 Brunobenevides Versaofinal PDFveganismoNo ratings yet
- Entre A Foice e o Compasso - Tese PDFDocument211 pagesEntre A Foice e o Compasso - Tese PDFJoaquim NetoNo ratings yet
- AA - VV. Praticas Insurgentes Contemporaneas PDFDocument389 pagesAA - VV. Praticas Insurgentes Contemporaneas PDFElenoireshNo ratings yet
- Ideologia e Estrategia Anarquismo Movime PDFDocument240 pagesIdeologia e Estrategia Anarquismo Movime PDFVinicius GallierNo ratings yet
- Discurso Revolucionario Na Greve Geral DDocument176 pagesDiscurso Revolucionario Na Greve Geral DJoaquim MorgadoNo ratings yet
- O Sindicalismo Revolucionario e Suas RepDocument79 pagesO Sindicalismo Revolucionario e Suas RepJoaquim MorgadoNo ratings yet
- As Origens Do Movimento Operario e SociaDocument36 pagesAs Origens Do Movimento Operario e SociaJoaquim MorgadoNo ratings yet
- Strikes and Social Conflicts 2nd Edition-5 PDFDocument837 pagesStrikes and Social Conflicts 2nd Edition-5 PDFalejo30y6No ratings yet
- Paz Entre Nos Guerra Aos Senhores o IntDocument178 pagesPaz Entre Nos Guerra Aos Senhores o IntJoaquim MorgadoNo ratings yet
- Intelectuais Dissidentes Da Revolução Russa - Ebook IntelectuaisDocument336 pagesIntelectuais Dissidentes Da Revolução Russa - Ebook IntelectuaisAndressa Fabrina Klauck100% (2)
- Levi Por Uma Educacao Musical LibertariaDocument63 pagesLevi Por Uma Educacao Musical LibertariaJoaquim MorgadoNo ratings yet
- O Anarquismo de Buenaventura Durruti 191Document87 pagesO Anarquismo de Buenaventura Durruti 191Joaquim MorgadoNo ratings yet
- Rodrigo Rosa Da Silva - Imprimindo A Resistência - A Imprensa Anarquista e A Repressão Política em São Paulo (1930 - 1945)Document193 pagesRodrigo Rosa Da Silva - Imprimindo A Resistência - A Imprensa Anarquista e A Repressão Política em São Paulo (1930 - 1945)Elbrujo TavaresNo ratings yet
- A frustração do sonho bolivariano de unidade na América LatinaDocument617 pagesA frustração do sonho bolivariano de unidade na América LatinaFabrício Fonseca100% (1)
- Monge de CisterDocument396 pagesMonge de CisterLetícia Vano0% (1)
- Biodiversidade 2020Document224 pagesBiodiversidade 2020António LucianoNo ratings yet
- Lista Fernando PessoaDocument38 pagesLista Fernando PessoacmarinamatinsNo ratings yet
- A obra de Gama Barros e a historiografia portuguesa do século XIXDocument14 pagesA obra de Gama Barros e a historiografia portuguesa do século XIXVanda RodriguesNo ratings yet
- Roteiro de PessoaDocument2 pagesRoteiro de PessoaferreiraarqfernandoNo ratings yet
- Cidades Ideais e Elogio de Cidades No Renascimento e em Damiao de GoisDocument30 pagesCidades Ideais e Elogio de Cidades No Renascimento e em Damiao de GoisMariana FalqueiroNo ratings yet
- TRANSPORTe MARíTIMO MercadoriasDocument45 pagesTRANSPORTe MARíTIMO Mercadoriaspaula71No ratings yet
- Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro n.9, 2015Document456 pagesRevista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro n.9, 2015Mario CarvalhoNo ratings yet
- Ordem de Trabalhos e Documentação - 2 Sessão Ordinária 2018 Da Assembleia Municipal Do SeixalDocument1,130 pagesOrdem de Trabalhos e Documentação - 2 Sessão Ordinária 2018 Da Assembleia Municipal Do Seixaldocumentos_seixal100% (1)
- Módulo B5.1Document25 pagesMódulo B5.1Carla100% (1)
- ACT29 Literaturas e CulturasDocument299 pagesACT29 Literaturas e CulturasocelotepecariNo ratings yet
- ANDEBOL Apontamentos de Apoio TeoricoDocument46 pagesANDEBOL Apontamentos de Apoio TeoricoFreixo Espada CintaNo ratings yet
- A Importância de Monte Real No 25 de NovembroDocument12 pagesA Importância de Monte Real No 25 de NovembroTiago GilNo ratings yet
- A Companhia Geral do Grão-Pará e MaranhãoDocument364 pagesA Companhia Geral do Grão-Pará e MaranhãosouzaNo ratings yet
- 2012 09 PDFDocument57 pages2012 09 PDFRuben RamalhoNo ratings yet
- Minha Mãe Amassa o Pão... : Carlos GodinhoDocument2 pagesMinha Mãe Amassa o Pão... : Carlos Godinhoapi-526982683No ratings yet
- 5682-Texto Do Artigo-18419-1-10-20160930 PDFDocument22 pages5682-Texto Do Artigo-18419-1-10-20160930 PDFElias Theodoro MateusNo ratings yet
- Os PedrosoDocument39 pagesOs PedrosoDiana MedeirosNo ratings yet
- SOPRO Tiago Rodrigues Ipsilon-20171027Document32 pagesSOPRO Tiago Rodrigues Ipsilon-20171027Basili Piatáki100% (2)
- Resumo Geografia Módulo IVDocument9 pagesResumo Geografia Módulo IVRita SantosNo ratings yet
- A Monarquia Católica e A América Portuguesa No Século XVIIDocument17 pagesA Monarquia Católica e A América Portuguesa No Século XVIIDalgomir FragosoNo ratings yet
- Resumo - Crónica de D João Capitulo 11 - 10º AnoDocument11 pagesResumo - Crónica de D João Capitulo 11 - 10º Anorosamanuelafernandesleite1234No ratings yet
- Guia de Vigilância da Saúde de Trabalhadores Exp. a Agentes Químicos CMRDocument121 pagesGuia de Vigilância da Saúde de Trabalhadores Exp. a Agentes Químicos CMRsofia NunesNo ratings yet
- BM 686 ReginaDocument47 pagesBM 686 ReginaCaga TacusNo ratings yet
- Plano Diretor Municipal: Títulos e artigos sobre uso do solo e proteção ambientalDocument340 pagesPlano Diretor Municipal: Títulos e artigos sobre uso do solo e proteção ambientalMónica PortelaNo ratings yet
- Texto Luis Fernandes Revista Etnografica Trabalhos de Margem No Centro Da Urbe o Arrumador de Automoveis PDFDocument27 pagesTexto Luis Fernandes Revista Etnografica Trabalhos de Margem No Centro Da Urbe o Arrumador de Automoveis PDFSofiaCostaNo ratings yet
- Guia Das 25 Arvores de LisboaDocument34 pagesGuia Das 25 Arvores de LisboasbrancosterNo ratings yet
- A Associação Comercial Do Porto PDFDocument37 pagesA Associação Comercial Do Porto PDFCarlos MarquesNo ratings yet
- Categorias Do Texto Dramático - FichaDocument2 pagesCategorias Do Texto Dramático - Fichaisabel_boiaNo ratings yet
- FreiLuisSousa 2Document25 pagesFreiLuisSousa 2Kiki VitalNo ratings yet