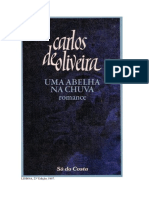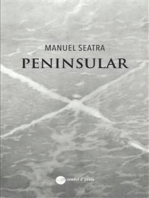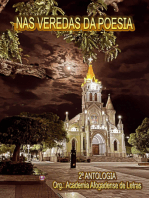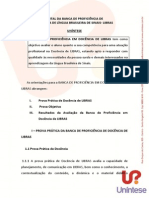Professional Documents
Culture Documents
Mia Couto - Contos Do Nascer Da Terra 3 Rev
Uploaded by
Natalino OliveiraOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Mia Couto - Contos Do Nascer Da Terra 3 Rev
Uploaded by
Natalino OliveiraCopyright:
Available Formats
Mia Couto Contos do nascer da Terra
1998 terceiro volume
http://groups.google.com/group/digitalsource mia couto contos do nascer da terra caminho uma terra sem amos Autor: Mia Couto Design grfico: Jos Serro Ilustrao da capa: Ivone Ralha Reviso: Seco de Reviso da Editorial Caminho Editorial Caminho, c SA, Lisboa - 1997 Tiragem: 10.000 exemplares Composio: Seco de Composio da Editorial Caminho Impresso e acabamento: Tipografia Lousanense, L.da Data de impresso: Maio de 1997 Depsito legal n.o 110.854/97 ISBN 972-21-1129-9
Os negros olhos de Vivalma H mulheres que procuram um homem que lhes abra o mundo. Outras buscam um qu e as tire do mundo. A maior parte, porm, acaba se unindo a algum que lhes tira o m undo. Este foi o destino de Vivalma, mulher entre as mulheres, cheia de desgraa, nem o Senhor punha orao nela. Mulher gorda, exibia os seios em cacho, carnes de mu ito volume e herana. Tanta redondeza, alis, suprimia a curva. Viva] na era esposa do latoeiro Xidakwa, homem zangadio e com nervo florindo na pele. A volumosa senhora saa de manh para o servio de sentar no bazar, em banca ren te ao cho. Eram to poucas e abreviadas as coisas que vendia que ela nunca fazia as contas. A vida um por enquanto no que h-de vir. Vivalma se deixava no assento, m ais vagarosa que orvalho. At a mo dela poupava esforos, num mesmo gesto de ida e vo lta: para l, enxotava mosca; para c, chamava cliente. Seus braos eram to curtos que
nem era capaz de arregaar as mangas. Pois Vivalma se dava a conhecer pelo modo como zarolhava, olho deitado aba ixo. Razo de que o marido lhe batia, por ddiva daquela palha. Nem carecia de motiv o: o murro era a lngua dele, vingana de lhe fugirem desejos de sua vista. Todos se admiravam: Xidakwa at que parecia tranquilinho, sonholento, incapaz de violncia. Mas os hematombos no rosto da mulher, o sangue pisado lhe enchendo a quotidiana plpebra dela, eram provas indesmentveis. Todos punham a devida pena na vendecora. To batidinha, coitada. E ainda por cima, sempre no mesmo olho. As colegas lhe sug eriam: - Voc podia pedir a ele para variar-se: cada vez num lado, cada vez no outro . Ela sorria, parecia isenta de pensamento. A gordura era sua nica resposta. Ela sabia: mais se engorda, menos se sofre. Com o volume a dor vai ficando mais e mais distante, perdida l nas curvas das entranhas. As vendedeiras lhe puxavam o brio: - Mas voc Vivalma, nem viva nem alma? Quem fala consente? E a mulher gorda suspirava: - Deus me reze, minhas amigas . Ela que sabia. Xidakwa, seu marido, enganava era nas aparncias. Ele era um mosca-viva, esgazelado, tratando-lhe a berro e fogo. Outros j lhe tinham chamado as atenes. Mas o latoeiro varria os reparos, explicando: - A vida dura de mais para aceitar carcia: cabedal se cose com dedal . As colegas do bazar insistiam: - Ora, Vivalminha, lhe deixe de vez, esse homem no vale uma vida. Voc como o nariz: toda a vida no meio, sem nunca fazer escolha . Em silncio, Vivalma amealhava suas razes. No que houvesse segredo: para ela, aquela era a ordem do mundo, estavam-se cumprindo destinos. Nem ela nem ele teri am tempo para uma outra ocasio. O mundo dele era de outra razo, um confim. Ele lhe queria razo de pontaps? Que fosse. Ela no tinha querer nem ser. E quem no tem vonta de, no tem lamento. E era sem lamento que ela regressava a casa, tardes a fio, sempre ltima das vendedoras. Demorava os vinte e quatro ponteiros no caminho. Perto de casa colh ia uma flor mas, ao entrar no porto, a deitava no cho. No ptio se acumulavam ptalas brancas, secreto e perfumado lenol da noiva que nunca houve. At que, um dia, o olho negro de Vivalma se apresentou piorado, em feio e am pliado derrame. As vendeiras transbordaram-se. No, aquilo era de mais! E se conlu iaram para desafiar o marido violento. Sem que Vivalma suspeitasse, umas delas l foram a casa de Xidakwa. Enquanto pisavam aquele mar de flores desfeitas soubera m o espantvel: que o dito marido, Xidakwa, h tempo que se fora, amanteado com outr a. As vizinhas diziam e comprovavam. Os tais derrames que Vivalma exibia no rost o eram por ela mesma fabricados, sem infligncia de mais ningum. As vendedores regressaram ao bazar, caladas, sob uma bategazinha de Vero. A chuva caa tristonha como um luto, cada gota uma mulher em Outono, chuviuvinha. I ngrata a morte que no agradece a ningum. Vivalma teatrava, para que ningum suspeita sse de seu abandono? Pois as amigas se compustararam em igual disfarce. Na Natur eza ningum se perde, tudo inventa outra forma. Sucedeu, por astcia do acaso, o seguinte percalo: a nova mulher de Xidakwa o uviu dizer que Vivalma continuava a revalidar suas equimoas, olho da cor do cho. S e assim era, quem mais poderia ser o batedor seno o dito latoeiro? E a moa, mais n ascida que a gorda vendedeira, contraverteu caminho e foi agasalhar outra felici dade. O homem, desconcertado, voltou a casa para afinar contas com Vivalma. Se a dmirou de ver o ptio varrido, limpo das habituais florinhas. Os vizinhos se surpr eenderam, depois, a ouvir os gritos dele, batendo em sua original esposa. Manhzinha seguinte, viram Vivalma sair de casa, canteirando pelo jardim, a encher as mos de petalazitas brancas. Haveria qu nessas flores: alegria de quem se ilude vencer? Ou eram pequenitas raivas, desapercebidas como lgrimas em seu rost o molhado? S ela, a matinal vendedeira, sabe do valor dessas minusculinhas nature zas em seus dedos decepadas. Dizem, finalmente, que sob o vu de seus enegrecidos olhos havia, nessa manh, uns fiapos de satisfeio. Poder ela, alguma vez, ser sabida? Se, como diz nenhuma cano, a gua corre com saudade do que nunca teve: o total, ime
nso mar.
Gaiola de moscas Zuz Bisgate. Logo na entrada do mercado, bem por baixo da grande pahama se erguia sua banca. Quando a manh j estava em cima, Zuz Bisgate assentava os negcios. O que ele fazia? Alugava bisga, vendia o cuspo dele. A saliva de Zuz tinha propri edades de lustrar sapatos. - melhor que graxa, enquanto graxa nem h . Alm disso, o preo dele era mais favorvel. Cada cuspidela saa a trezentos, incl uindo o lustro. Maneira como ele procedia era seguinte: o cliente tirava o sapat o e colocava o p empeugado do cliente sobre uma fogueirita. O p ficava ali apanhan do uns fumos para purificar dos insectos infecciosos. Zuz Bisgate pegava no sapat o e cuspia umas tantas vezes sobre ele. Cada cuspidela contava na conta. Passava o lustro com um pano amarrado no prprio cotovelo. Razo do pano, motivo de esfrega r com o cotovelo: - Dessa maneira a minha saliva me volta no corpo. que este no um cuspe qualq uer, um produto industrioso desses. No, isto uma saliva bastantssima especial, foi -me emprestada por Deus, digamos foi um pequeno projecto de apoio ao sector info rmal. que Deus conhece-me bem, p. Eu sou um gajo com bons contactos l em cima . Os clientes no se faziam enrugados. s vezes at abichavam frente banca dele. F osse da saliva, fosse da conversa que ele lustrava. Verdade era que o negcio de Z uz corria em bom caudal. Quem no se dava bem com os cuspes era sua mulher Armantinha. No se pode beija r aquela boca engraxadora dele , se lamentava. Prefiro beijar uma bota velha , conclua . Ou lamber uma caixa de graxa . Armantinha sonhava para saltar frustrao. Um dia, qualquer dia, haveria de be ijar e ser beijada. Sonhava e resonhava. Lhe apetecia um beijo, gua fazendo cresc er outra gua na boca. Lhe apetecia como um cacto sonha a nuvem. Como a ostra ela morria em segredo, como a prola seu sonho se fabricava nos recnditos. Avisaram o marido. Armantinha estava sonhando longe de mais. O homem respo ndeu em variaes. Beijo coisa de branco, quem se importa. E depois, minha boca cheir a a coisa falecida. Quem se aflije com matria morta? S os da cidade. Ns, daqui, sab emos bem: do podre que a terra se alimenta . Acontece que Zuz Bisgate se foi metendo nos copos, garrafas, garrafes. Tudo servia de lquido, Zuz destilava at pedra. De toda a substncia se pode espremer um al coolzinho, dizia. Mais e mais ele desleixava a caixa de cuspos e lustros. At que os clientes reclamaram: a saliva de Zuz est ganhando cidos, aquilo bom para de entu pir as pias. E temendo pelos sapatos os demais se evitavam de frequentar a tenda banhada pela grande pahama. At Chico Mdio, homem sempre calado, reclamou que a saliva dele lhe fez murch ar os atacadores, pareciam agora cobras sem esqueleto vertebral. Pouco a pouco Z uz perdeu toda a clientela e o negcio das salivas fechou. Se decidiu ento a mudar de ramo. Recordou, de seu pai, a mxima: a alma o seg redo de um negcio. Alma, era isso que se necessitava. E assim ele imaginou um out ro negcio. E agora quem o v, nos actuais dias, constata a banca com sua nova aparnc ia. E Zuz mais seu novo posto. Seu labor um quase nada, coisa para ingls no ver. Ali, na fachada, arregaa as calas, com cuidado para no as desvincar. Sempre c om desvelo de burocrata, desembrulha um volume retirado das entranhas de sua ban ca: uma gaiola forrada a rede fina. Dentro voam moscas. Pois o que ele vende: mo scardos. Matria viva e mais que viva - vital para o mortal cidado. Pois, diz o Bis gate, cada um deve tratar as moscas que, depois de mortos, nos visitaro o tmulo. - So os nossos ltimos acompanhantes ... A pessoa passa por ali, se debrua sobre o vendedor e escolhem as voadoras b astas, as mais coloridas que engalanaro o funeral: - Esta h-de ficar mesmo bem na sua cerimnia .
Ele convida o hesitante cliente a ir banca ao lado, a banca da Dona Cantar inha. Para lavar as moscas, explica. - Lavar as moscas? - Sim, lavagem a seco . Armantinha cada vez mais se distancia daquela loucura. O marido se apronta para grandes descansaos. - Ai nosso Senhor Jesus Cristo! Voc, homem, voc vende alguma coisa? - Faa as contas, mulher. - Que contas? Que contas se pode fazer sem nmeros? - Ainda hoje vendi uma manada de moscas a esse tipo novo que chegou aldeia . - Qual que chegou? - Esse gajo que montou banca l nas traseiras do bazar. Uma banca que at mete as graas, chama-se Pinta-Boca . - O homem se chama Pinta-Boca? - Qual o homem! A banca se chama . Armantinha se inflama logo de sonho. J a boca dela se liquidesfaz. Sua boca pedia pintura como a cabea lhe requeria sonho. E, logo nessa manh, ela ronda a no va tenda, se apresenta ao novo vendedor. Ele se declina: - Sou Julbernardo, venho de l, da cidade . Banca Pinta-Boca. O nome faz jus. Na prateleira ele tem uma meia dzia de bto ns com outras tantas cores. As mulheres se chegam e estendem os lbios. Julbernard o pede que escolham a colorao. Moda as brancas, vermelhudas das beias. Uma pintadel a 250 meticais. Armantinha, j devidamente apresentada, ganha coragem e encomenda uma colora dela. - Aqui, se paga em adiantado . Ela retirou as notas encarquilhadas do soutien. Vasculhou as largas mamas procura dos papis. Tinha seios to grandes que nem conseguia cruzar os braos. - Est aqui seu dinheiro. - No chega nem basta. Essa tabuleta do preo era na semana passada. Agora 250 um lbio. - Um lbio? - Se for o de cima, o de baixo custa mais caro. Por causa que maior. - Estou fracassada com voc, Julbernardo. V, pinte o de cima, amanh venho pinta r o de baixo. - Est certo, eu vou pintar . Julbernardo pegou no bton com habilidade de artista. Aquilo era obra para s er vista. Metade do povoado vinha assistir s pinturas. A gente seguia caladinha, aquilo era cena prova de fala. Julbernardo metia um avental, ordenava cliente qu e sentasse no tronco cortado do canhoeiro. Armantinha obedecia ao ritual. Sentada, ergueu o rosto. Fechou os olhos, c ompenentrada em si. O pintador limpou as mos no avental. Se debruou sobre a tela v iva e fez rodar o bton no ar antes de riscar a carne da cliente. Sentada no impro visado banco Armantinha deu largas ao sonho. O bton acariciava o lbio e tornava se u corpo misteriosamente leve, como se naquele toque se anulasse todo o peso dela . Sonhava Armantinha e o sonho dela se apoderava. Nesse devaneio o bton se co nvertia em corpo e j Julbernardo se inclinava todo sobre ela e os lbios dele pousa vam sobre a boca dela, trocando hmidas ternuras. Mundo e sonho se misturavam, os gritos da multido ecoavam na gruta que era sua boca e, de repente, a voz raivosa de Zuz tambm lhe esvoaa na cabea. E eis que Armantinha abre os olhos e ali, bem sua frente, o seu marido se engalfinhava com Julbernardo. E murro e grito, com a gentalha rodopiando em volt a. De repente, j um deles se apresenta de desbotar vermelhos. Os dois se misturam e uma faca rebrilha na mo de Zuz. Depois, num saco, se separam os dois corpos. Esto ambos ensanguentados. Julbernardo com o avental ensopado de vermelho d dois pass os e cai redondo. Num instante, uma multido de moscas se avizinha. Zuz, vitorioso, aponta a mulher: - V? V as moscas que vendi a esse cabro?
Mas as moscas, em lugar de escolherem o tombado Julbernardo, circundam a c abea de Zuz. Alarmado, ele enxota-as. Em vo: j a moscardaria lhe pousa, vira e revir a. Ento, Zuz Bisgate desce dos seus prprios joelhos e se derrama em pleno cho. O san gue se v brotar de seu peito. Julbernardo desperta e se ergue, ante o espanto ger al. Com mo corrige a mancha vermelha com que o bton esmagado enchera o seu branco avental.
O homem da rua Ainda o dia andava procura do cu, vinha eu em vagaroso carro que mais a mim me conduzia. De repente, um homem atravessou a calada, desavultado vulto avulso. Uma garrafa o empunhava. E ele, todo sbito e poentio, se embateu frentalmente na viatura. Saltou pelos ares, se aplacando l mais adiante, onde se iniciava o pass eio. Sa do susto para inspeccionar sua sobrevivncia. Me debrucei sobre o restante dele, seu rolado enrodilhado. No havia sangue nem quebradura de osso. O maltrapalhado estava a salvo, salvo erro. Todavia, me meteu pena: suas vestes eram a sujidade. Havia quase nenhuma roupa em seu sarro. Mesmo o corpo era o que menos lhe pesava. Os olhos estavam parados, na grade do rosto. Me pareciam pedir, o qu nem sei. De inesperado, o vagabundo se ergueu e apressou umas passadas para encalar o longe. Se entrecruzou com sua sombra, assustado de haver escuro e luz. Em muit o zig e pouco zag ele acabou por se devolver ao cho. Voltei a acudir, cheio dessa culpa que no cabe na razo. Apanhei o vulto, desarranjado, sem estrutura. Pareceu tontolinho, sempre agarrado ao arregalado gargalo. Me deitou olhos muito espanta dos e pediu desculpa por incmodos. Apalpou o lugar onde se deitava, e disse: - Um de ns est morrendo . Entreolhei-me a mim e ao restante mundo. Ele se precisou: - Estou falando da terra, parece ela est moribundando . Lhe disse que o levaria dali para um stio que fosse dele. Ajudei-lhe a entr ar no meu carro. Ele recusou com terminncia: - No entro em coisa que serve para levar morto . Amparei o desandrajoso. Se sustentou em meu ombro e me foi levando pelo pa sseio sombrio, atravs dessa desvastido onde o negro escurece a preto. - Agora o senhor me entorne aqui... - Aqui? Esfregando-se no pescoo como se as mos fossem de outrem, acrescentou: - Aqui, sim. Quero acordar com dormncia de lua . Dali ele passou a esbanjar conversa. Quem sabe o homem desjejuava palavra? E dizia sem aparncia nenhuma: - Bem hajam as folhas, minha cama! E explicava-se enquanto alisava as folhagens mortas: quando se deitava lhe doa a curva da terra, a costela quebrada do prprio universo. Assim deitadinho, to do simetrado com o planeta, um subterrneo rio falava com suas veias. - At foi bom me aleijar um bocado. Ri-se? Nem sabe como bom haver um cho para a gente ter onde cair . E nos trocamos nessa conversa com vontade de ser corpo, encosto, adormecim ento. Ficmos a ver as luzinhas da cidade, l em baixo, a lembrar que o homem sofre de incurvel medo de ser noite. O pas daquele homem seria a noite. Meu territrio era o dia, com sua luminescincia tanta que serve mais para deixarmos de ver. E pensei: o primeiro alimento a luz. Nos invade logo quando nascemos. Depo is, a luminosidade, com suas infinitas cascatas, nos fica a engordar a alma. Em mim, pelo menos, a primeira saudade da luz. Direi, ento: me falta a minha luz nat al? Quem sabe a alma deste homem, sempre ninhado no escuro, emagrecera assim a o lhos no-vistos? O homem bicho diurno. O dia bicho humano? Me foi descendo, espesso, o sono. Avancei despedida no sem retirar do bolso algumas notas que estendi em direco ao desastrado:
- Deixo o senhor com algum dinheiro. Quem sabe lhe viro, mais tarde, as dore s do acidente? Para meu espanto ele recusou. Sem veemncia, sem nenhum nfase. Era recusa ver dadeira. - Posso pedir uma qualquer coisa? - Pea. - Me d um pouco mais da sua acompanhia. S isso: acompanhia . Ainda hesitei, inesperando aquele pedido. O homem nem me fitava, estivesse envergonhado. E assim, de cabea baixa, insistiu: - que, sabe, eu no tenho ningum. Antes ainda tinha quem me dispensasse migalh a de conversa. Mas, agora, j nem. E me d um medo de me sozinhar por esses as . Quase que falava para dentro, eu devia baixar orelha para o entender. Assi m, cabismudo, prosseguiu: - Sabe o que fao? Vou dizer... mas o senhor me prometa que no zanga... - Prometo. - O que eu fao, agora, me deixar atropelar. . Ser embatido num resvalo de qua se nada. Indemnizao que peo s esta: companhia de uma noite . Fiquei quieto sem me achar convenincia. Nem gesto nem palavra me defendiam. O atropelado centrou esforo em se erguer, mo sobre o joelho. J de p me segurou o co tovelo: - Pode ir, vontade. _nem imagina como senhor me faz bem, me bater e, depois , me falar. Agora j nem sinto dor nem dentro nem fora . Anda fiz meno de ficar, perdido entre garganta e corao. Mas o andrajoso levant ou o brao, em serena sentena: - V, meu amigo, v na sua vida . Regressei ao carro. Arranquei-me dali, devagar. Olhei no espelho para retr over o vagabundo. Me lembrei ento que nem o nome dele eu anotara. Lhe chamo agora : o homem da rua. Seu nome ficar assim, inominvel, simplesmente: homem da rua. Lem brando este tempo em que deixou de haver a rua do homem.
O general infanciado O General Orolando Resoluto era um homem conglido, capaz de frigorificar o mais pequeno sentimento. Desses que lambem a carta para colar o selo. Seu nico am or: a ptria. Sua exclusiva paixo: a guerra. A famlia ele a vivia com esprito de deve r, encargo biolgico, contrato social. Por obrigao lhe nasceu o filho, sua primeira e nica descendncia. O menino veio luz e o general Resoluto, impassvel, espreitou o bero, mais inspector que parente: - Hum! E mais nada, seno essa interjeio seca. Rectilneo, o general no despenteou nervo . A mulher Rosanita sorriu: estaria 0 marido apenas invisivelmente comovido? A e sposa havia sido formada em credo e cruz, um tero da vida no tero. Mal sada da cate quese ela catecasou-se. Rosanita sabia que os homens se comportam, neste mundo, como estrangeiros. A machice arrogncia dos que tm medo, mais excludos que emigrante s. S as mulheres so indgenas da vida. Paciente, a esposa ainda negociou com ele um riso: - Ento, senhor pai? Rosanita arredondava os cantos s palavras mas Orolando Resoluto no desenrije ceu. Simplesmente, ajeitou a colcha no bero como se corrigisse a linha de um dese nho. Nem um carinho, nem um despenhar de alma. Nada, s aquele glido olhar de quem passa revista s tropas. J em casa, ele recusou dar colo ao estreado filho. A farda era imaculvel, in odovel. Haja disciplinas. A mulher muito se sofria com aquele alheamento. O tempo ia tricotando semanas e o militaro continuava impvido, sem sequer se chegar ao menino. No dia do registo Rosanita imps obrigamentos de credo: - Quero que lhe ponha nome de santo .
Orolando protestou: havia mandos da tradio, regulamento de famlia. Depois, o que se impunha era nome guerreiro, no fosse a criana amolecer logo de apelido. E s entenciou hericas nomeaes: Gungunhana, Muzila, Sochangane. - Quero nome de santo. Me deixe carinhar esse menino, me favorea um nome de santo para lhe darmos garantias . Cristvo ficou. Notificado de ternura: Cristovinho. O menino cresceu e foi en chendo a casa de contentaes. O general se incomodava e urgia a mulher de pr cobro s excendentrias alegrias. Cristovinho em tudo inventava brinquedo. O pai se liberta va da farda e ele, instantneo, pegava as solenes medalhas e as pendurava em desre speitosos lugares. - Deixe, Orolando. Ele s est dar riso ao metal . Volta e no-volta, o menino laava os bracinhos no paterno pescoo. Nordicamente , o general rompia o abrao. Mas quanto mais afastava o filho mais ele se chegava. At que o mido cresceu a ponto de aniversrios. Comeava o servio da infncia, voz e ris solares. Aquela alegria no tinha companhia do pai. A me sempre rezando para que o marido se detivesse um simples instante de ternura. Ao menos o santificado nome do mido operasse em Orolando um desatendido milagre. Em vo. Certa tarde, o menino desapareceu. Perdido no jardinzal da frente, fugido da mo da tia. A me chamou o marido em aflio, avisando-o da tragdia. O general fez sub ir nos ombros as divisas. Resgatar o mido era misso de honra. Na falta de guerra h que inventar outros belicismos. E saiu, no encalo da procura. Depois de muito voltear, Orolando encontra o menino junto dos falecidos ba louos. Cristovinho persegue um balo vagabundo. O pai, vigoroso, intende encher o b alo de imediatos furos. Com raiva, o balo lhe escapa e sobe, matreiro. Rodopiou no ar, o militar salta, as medalhas se soltam e tombam com tilintes e requintes. O menino despercebe: acredita que o soturno pai, finalmente, se decidiu a brincad eiras. E junta-se aos saltos do pai, deflagrando risos. O general em fria d voz de comando ao balo. E quando j cr ter o brinquedo domado, misteriosa brisa o faz solt ar e ressubir em livres cambalhotaes. At que o general em fria saca da pistola e dis para. O primeiro tiro desconsegue. No segundo tiro, o balo subita-se, deflagrado. Com o susto, o menino cai e fere o rosto numa pedra. O sangue ingnuo e inocente enche os lenos do pai. O militar, num momento, se aflige e recolhe o menino nos b raos. Cristovinho se aconchega no colo dele e assim se deixa at chegar a casa, j ad ormecido. No porto, a me espera, atarantonta. O pai abre alas e conduz a criana, dormid a, ao leito. A me segue atrs, as mos se recolhendo uma na outra como pssaros cegos. V o general sentar no leito do menino e debruar cuidados, quase paternos. Rosanita sonha que esse momento a terna eternidade, fraco de paraso. E d graas aos cus pela so. Nessa noite, o general que levanta para espreitar o sossego do menino. Dia seguinte, ele chega mais cedo do servio e acorre ao quarto para olhar o filho. E assim toda a semana: Orolando Resoluto escapa do quartel e entra em casa, urgen te, sem cumprimentar esposa nem parar no televisor. Vem ver o filho, escutar sua s brincriaes. Fim da tarde, ele pega a mo do menino e vai passear com ele, compra-l he doces, mimos. A mulher contenta-se, crendo em milagre. Mesmo que Orolando, agora, apenas lhe preste desatenes. No s ela a alheada. O general vai amolecendo a ponto de esque cer as inviolveis obrigaes. A carreira de militar est agora descarreirando. Um dia, distrado, entrou no quartel ainda envergando a mscara com que brincava. As botas, outrora intocveis, agora so divertimento. As medalhas servem de im aginrios veculos, carregados de pedrinhas e poeiras. Certa manh, Resoluto estende u m bilhete mulher e lhe pede que faa entrega dessa mensagem no quartel. - Est escrito que eu no vou, estou doente. - Verdade, mando? - No. Eu quero s ficar com Cristovinho . Essa manh faltou ao servio. Outras manhs, idem. Ao pouco e pouco ele se insep arava do menino, se distanciando das militares obrigaes. At que, definitivamente, s e demitiu, prescindindo de carreira, acumuladas honras, engomadas memrias. Agora, Orolando Resoluto s fica em casa. Se transferiu de vez para o quarto do menino. Dormem juntos, pai e filho, abraados em bonecos. O ex-general adormec
e fetal, meninado. Tal pai, fatal filho. A mulher entra no quarto, noite alta, e aconchega o sono de seus dois meninos.
Rungo Alberto ao dispor da fantasia
Conto uma verdade de Rungo Alberto, meu completo amigo, perdido em escura noite na ilha da Inhaca. Ele nasceu junto do mar, em lugar onde terra e gua se fr onteiriam. Dizia: minha gua-natal . Rungo j no se abastecia de iluso: tudo areia se telo. O que ele queria era ver chegar a Paz. Nisso se duvidava. Afinal, a nica ma neira de a guerra terminar ela nunca ter comeado. L tinha suas razes. Porque ele er a um fugido da guerra. Magro: descurava um esterno muito externo. Cabelo branco mas por indevida idade. Me chamava assim: Mio Conto, Mira Cuito, Miraconcho. Me desapelidava? No, a quilo era simples inclinao do peito. Uma amizade funda lhe fazia inventar aqueles todos nomes. Um s no serviria. Eu ria: h tanto que precisava aquela falha de identi dade. H tanto eu carecia de certido de inabilitaes. Mas eu naquele amigo punha tambm as muitas vises. Rungos, tantos ele era. Qual deles o verdadeiro? Pois, meu supos to Rungo Alberto, uma certa manh anunciou: - Vou construir um barco! Duvidei. Rungo Alberto era uma pessoa muito instantnea mas aquele caroo me p arecia maior que a garganta. No sendo engenheiro marinho, nem tendo artes de carp intaria, onde iria ele buscar qualificao? Rungo virou costas entoando sua nica cano. Uma vez mais me inquiririu: - No conhece esta cano? um hino quase nacional . Na manh seguinte, o homem deitou mos manobra. Sua oficina foi instalada numa clareira da floresta, perto da Estao de Biologia. Para ali ele passou a se desloc ar muito diariamente, em competio com a madrugada. Se escutavam os martelos, fazen do calar a piadeira da passarada. Manh noite, Rungo Alberto instrumentava nos eno rmes troncos. Convertera-se em mercenrio marceneiro? Na oficina do improvisado co nstrutor de navios, se viam interminveis troncos transitando de madeira para tbua. Eu queria espreitar, ele recusava. A construo no podia ser olhvel. Assim se pr otegia de invejas e feitios. Ele engenhava o barco como o mar fabrica os corais, petrificando o rendilhado de suas espumas. Os ilhus passavam por ali, gozavam com a proclamao de Rungo. Podia um semi-urbano se aventurar a embarcadeiro? Uma madrugada, Rungo me alvoroou a janela. Corao aos tropeos, ele me conduziu pelos atalhos secretos que desaguavam em sua oficina: - Voc se arregale, mano . Apontava uma enorme embarcao. Me espantei. Aquilo era um barco, autntico, da proa r. Superava a dezena de metros, lindo de pintado: azul, branco, castanho. O mastro, vaidoso, ascendia a copa da floresta. Rungo Alberto, porventuroso e circ unsperto, me afrontava. No encolhi uma dvida: - Agora, caro Rungo, eu lhe pergunto: como vai levar o barco at ao mar? Tudo ele tinha antepensado. Os estudantes , me respondeu sorrindo. - Os estudantes? - Sim, os seus alunos podem tchovar o barco. Peo: fale com eles . No houve estudante que se furtasse. Todos juntaram braos e alegrias. Quatro horas depois o barco entrava nas ondas do ndico. Rungo abriu vinho portugus, despe jou as primeiras gotas sobre o barco, outras sobre o mar. S depois a garrafa circ ulou por todos. Abenoado, o barco parecia se afeioar melhor ao bate-onda. No bapti smo a criana que abenoa o mundo? Os estudantes voltaram s camaratas, algazarrentos. Na praia fiquei eu e ele contemplando o barco no embalo de seu destino. - E agora que vai fazer com ele? - Com o barco? No sabia, nem queria ideia. Fizera o barco, provara. A viagem era outro ass unto. Insonhvel. Minha viagem foi esta, eu termino aqui . Mas, ento qual o beneficio da obra?
- No no deserto que ganhamos miragem? Durante dias ele sentou na praia contemplando o barco. Parecia ancorado su a prpria vitria. Rungo perdera a noo, divaguava? A mulher zangava-se: em casa, Rungo no dava atendimento. E ela me pediu em choro: eu que acudisse rstia do senso dele ... - Eu, mulher, no tenho voto na madeira. Esse homem casburro . E ela se calou. Rungo era to bom que ningum aguentava ser inimigo dele. Aqui lo era maldio, servio encomendado dos alns. Ela sabia, ali se vivia muito oralmente. E, nessa tarde, ela foi ao feiticeiro. O depois no se esperou. Nessa mesma noite rebentou uma tempestade de escangalhar o oceano. O barqu inho se soltou do mundo, desnavegou pela escurido. Rungo, dizem, foi no encalo da sua criao. Dias depois, o pas via chegar a Paz. Ainda hoje, de regresso ilha, eu me se nto junto ao mar. Quem sabe da estria de Rungo, seu barco vogando na outra margem ? Com suas guas sempre moventes, o mar no nos deixa ver o tempo. Quem me encara, e spreitando o poente, acredita que eu me consagro a saudades. A tristeza uma jane la que se abre nas traseiras do mundo. Atravs dela eu vislumbro Rungo Alberto, me u velho amigo. Depois, um deserto me engole a alma. Estrangeiro o lugar onde no s e espera ningum.
O despertar de Jaimo
Ouviu a voz da mulher gotejando. Como se estivesse submerso num tanque de g ua e as palavras dela fossem caindo, lgrimas da lua. - Graas a Deus, voc acordou . Jaimo no percebeu o motivo da fala de Elvira. Olhou-se no corpo, horizontal. Os ps, de p, todos despidos. Se recordava, em cacos de memria. Deitou-se foi num d ia, longe. - No deitei calado, mulher? - Deitou, sim . Ento porqu a ausncia dos sapatos? Elvira explicou: tiraram enquanto ele dormi a. Foi ideia do vizinho Raimundo: ele sabia que os mortos falam com os dedos dos ps. Essa maneira de conversarem com os vivos. Sim, o vizinho disse assim, Jaimo. T irmos seus sapatos quando j pensvamos que no acordava mais. Voc, Jaimo, o pai mais o dos meus filhos, voc dormiu quinze dias, de fio em novelo. Juro, mando, quinze dias de tempo. At j pensvamos voc tinha chegado ao fim, parado de doena falecvel . - Qual dia hoje? - O dia no interessa , respondeu Elvira, o que importa que voc acordou . Jaimo rgueu no leito, sentou-se com custosos gemidos. Mineiro que fui, tantos anos, me habituei a descer l nas funduras, mais fundo que os subterrneos. Desta vez, Elvira , escavei-me fundo de mais. Demorei foi a chegar tona do mundo . - Deixa ver seus olhos, Elvira. que quase no lembro deles . Elvira se postou perante o recm-regressado. Jaimo passeou saudades pelo rost o da mulher. Mas logo ele pousou o olhar no cho. - Sonhei que voc tinha sado com outro. - Com outro? O despertado tossiu, saltaram-lhe sangues de dentro. Tentou esconder o ver melho nos lenis. Deixa que eu limpo , sossegou a mulher. Ele desviou-se da inteno dela Mas ela insistiu: - Homem no deve mexer em sangue. S a mulher. - E porqu? - Em vocs, homens, o sangue anda junto com a morte. - Voc fala coisa que nem sabe. - A mulher que pega no sangue e faz nascer uma outra vida. - Conversa redonda, Elvira. Mas me diga uma coisa, mulher: todo esse tempo voc no chamou ajuda de ningum?
- Ningum. - Mas ento o satanhoco do Raimundo no veio me ver, nesse meu estado? Sim, ela chamara Raimundo, o vizinho. Isto , no bem que chamara. Apenas most rou ponta de chamamento. Que eu, marido, no gosto de falar fora assuntos de dentro . No incio ele recusou vir. Raimundo at que falou, rindo, assim : - Doente? Isso manha dele. Eu desautentico esse seu marido, Dona Elvira. O gajo mestre da preguia, lhe conheo desde-desde. O sacana s est fingir do sono, mais nada. - O sacana? Raimundo me apelidou mesmo assim? Jaimo no cabia em si. Conta mais, mulher, quero saber bem desse Raimiudinho . - Mas, marido, nem imagina o seu amigo quem . No foi que ele me aproveitou? - Lhe aproveitou, como? - Sim, ele me fez adiantamentos. Que eu era bonita de mais valer, devia era aproveitar o seu adormecimento. - Ai, sim? Raimundo disse isso? Vai ver, traidor. Lhe despromovo, filho de uma quinhenta, lhe desconto no retroactivo. - Foi nesse momento que voc, marido, comeou a mexer os dedos dos ps. O Raimund o se debruou todo para assistir ao seu dedilhar. Voc movimentava e ele lia seus de dos. - No quero ouvir mais essa histria, mulher. Chama-me esse sacana. Agora mesmo . Elvira sai para ir chamar Raimundo. O vizinho no demora a chegar. Na soleir a da porta trocam palavras, ele e a dona da casa. Segredam-se: - Voc j lhe disse, Elvira? - Lhe disse o qu? - Que ele vai morrer. - Eu no sei como falar essas coisas ... Do seu leito, o despertado grita: que fazem vocs a, aos segredinhos? No me dig a voc est escadear na minha mulher? Elvira se chega ao leito do moribundo, festejalhe a fronte, deitando-lhe ternuras. O vizinho tambm se aproxima, mos cruzadas no ventre, sinal do respeito. O recm-dormido fala: - Ento Raimido, eu te mandei estudar, tu s quase da famlia. E agora me fazes as sim de mim, teu pai hierrquico? - Fiz o qu, vizinho? - Me redemoinhas na mulher. Diga, sinceramente, estamos de homem para homem . - Pensava que voc j no acordava mais. Mas foi por causa do que voc falou. - Falei o qu, seu aldrabo? - Disse para eu tomar conta das suas heranas... incluindo ela. - Mentira, satanhoco! - Falou, juro, falou com os dedos dos ps ... O grande Jaimo espumava as raivas. Trabalhei anos, deixei meus pulmes nas min as do John. Onde esto meus randes, onde mexeram minhas poupanas? Sbito, em sua mo se acendeu um brilho de faca. Respeito, Raimundo, ainda lhe vou naifar essas fuas tod as. No estudou o respeito, l na escola que lhe mandei? Mas com gente igual a voc, no se gasta palavra. Com voc a gente se explica com lamina. Da o motivo da bala, a r azo da catana . - Estou pedir grande desculpa, Jaimo. - Sabe qual o castigo? Sabe, no ? Enquanto perguntava ia raspando a barriga da faca na pedra do cho. O outro se placava de encontro parede, milimtrico. A vida, caro vizinho, a vida que muito mortfera . - No me mate, Jaimo! O outro prosseguia com esmero a afiao da lamina. Levantava o punhal, examina va-o contraluz. Vistoriava o instrumento da punio. Demorava-se s para aumentar o so frimento do outro? Ou, de contrria maneira: muito tacto, pouco acto? Raimundo, de joelhos, implorava. Mas Jaimo prosseguia ameaa: - Eu vou-lhe deseliminar. Ou voc pensa que sou um papagago? De repente, o vizinho atrevido se reatreveu e, aos gritos, desatou a argui r: - Voc, Jaimo, voc que vai morrer de castigo dos xicuembos.
- Eu? - Sim, morrer e de vez. Ento, no se lembra? Voc estava morto, falou-me, deu-me as devidas ordens. Agora queria que eu no cumprisse? Sim, no conhece a tradio? Pedi do de morto ordem. Jaimo ainda tentou um golpe. A faca lhe saltou da mo, subiu pelos ares mas no tombou. Estranhamente ficou volteando, em infindvel remoinho. De repente, o Jaimo sentiu um sono pesado, maior que morte. Escute, Raimundo , vou dormir, agora. Depois, acordo e lhe mato . E tombou, pesadelento. Que cho este , que poeira, que cheiro? Onde estou, afinal? Este escuro em que penetro no a min a, essa fundura onde me infernei tantos anos? Se estou nas galerias como que Elv ira est atravessando o quarto e se atira nos braos de Raimundo? Se me estou obscur ecendo por que motivo Raimundo me est cobrindo meus ps com essa capulana? E porqu e sse pano me aparece como se fosse terra, me pesando mais que o inteiro planeta?
Razes Uma vez um homem deitou-se, todo, em cima da terra. A areia lhe servia de almofada. Dormiu toda a manh e quando se tentou levantar no conseguiu. Queria mexe r a cabea: no foi capaz. Chamou pela mulher e pediu-lhe ajuda. - Veja o que me est a prender a cabea . A mulher espreitou por baixo da nuca do marido, puxou-lhe levemente pela t esta. Em vo. O homem no desgrudava do cho. - Ento, mulher? Estou amarrado? - No, mando, voc criou razes. - Razes? J se juntavam as vizinhanas. E cada um puxava sentena. O homem, aborrecido, o rdenou esposa: - Corta! - Corta, o qu? - Corta essa merda das razes ou l o que ... A esposa puxou da faca e lanou o primeiro golpe. Mas logo parou. - Di-lhe? - Quase nem. Porqu me pergunta? - porque est sair sangue . J ela, desistida, arrumara o faco. Ele, esgotado, pediu que algum o destronca sse dali. Me ajudem , suplicou. Juntaram uns tantos, gentes da terra. Aquilo era as sunto de campons. Comearam a escavar o cho, em volta. Mas as razes que saam da cabea esciam mais fundo que se podia imaginar. Covaram o tamanho de um homem e elas co ntinuavam para o fundo. Escavaram mais que as fundaes de uma montanha e no se vislu mbrava o fim das radiculaes. - Me tirem daqui , gemia o homem, j noite. Revesaram-se os homens, cada um com sua p mais uma enxada. Retiraram tonela das de cho, vazaram a fundura de um buraco que nunca ningum vira. E laborou-se sem anas e meses. Mas as razes no s no se extinguiam como se ramificavam em mais redes e novas radculas. At que j um algum, sabedor de planetas, disse: - As razes dessa cabea do a volta ao mundo . E desistiram. Um por um se retiraram. A mulher, dia seguinte, chamou os sbi os. Que iria ela fazer para desprender o homem da inteira terra? Pode-se tirar t oda a terra, sacudir as remanascentes areias, disse um. Mas um outro argumentou: assim teramos que transmudar o planeta todo inteiro, acumular um monte de terra do tamanho da terra. E o enraizado, o que que se faria dele e de todas suas razes ? At que falou o mais velho e disse: - A cabea dele tem que ser transferida . E para onde, santos deuses? Se entreolharam todos, aguardando pelo parecer do mais velho. - Vamos plantar a cabea dele l!
E apontou para cima, para as celestiais alturas. Os outros devolveram a es tranheza. Que queria o velho dizer? - L, na lua . E foi assim que, por estreia, um homem passou a andar com a cabea na lua. N esse dia nasceu o primeiro poeta.
O fintabolista ( Ningum pode imaginar a pequenez da minha cidadezinha. L, porm, h gente que me d os bons-dias- ) Sempre onde chego um lugar. Mas abrigo maior no encontrei seno nas paragens da memria. l que reside minha cidadezinha natal, que se acende devagarinhosa, como barco saindo de um lodoso escuro. Esse lugar se senta em minha meninice como se o nico territrio fosse o tempo . Esse outro tempo escorria em obedincia a secretos mandos de preguia. Os aconteci mentos do mundo ali aportavam sempre tarde, bem depois de atravessarem distancia s tais que se desbotava a realidade que lhes tinha ditado origem. As notcias da Europa nos chegavam como tbuas de navios naufragados para alm d e extensas neblinas. Essas novidades desembarcavam hmidas em nossas mos, moldveis n ossa ideia. O tamanho e gravidade das acontecncias ramos ns que ditvamos. Assim dest rocado, o mundo parecia um brinquedo. Engigantecidos ficmos foi quando o nosso patrcio Eusbio fintou o universo at p enetrar nos relvados no Campeonato Mundial. Wembley e Maracan passaram a estadioz itos no bairro da nossa infncia. O nosso p sonhava em chuteiras e cada chuto dispu tava cabealhos de jornais. De noite nos desenhvamos em figura dos livrinhos de cro mos. Nesse tempo, a mais mundial das guerras era a que opunha o meu bairro aos restantes bairros da Beira. No centro desse conflito estava o campeonato de fute bol em que assanhvamos soco e batota. Ali estava a nossa honra, partamos de casa c omo fazem os guerreiros ao despedirem-se das famlias. No que a futebolada fosse a nica disputa. Passmos por anterior batalha - o ba squetebol. Mas na bola ao cesto ns no estvamos to bem aquilatados. Aquilo era modali dade de gente rica. Tanto estvamos desfasados que, em meio de decisiva batalha, o nosso piv interrompeu a partida para perguntar ao rbitro se no podia encestar com a cabea. Faltavam-nos jogadores altos. O nosso mais alto era o Tony Candeeiro que e ra cardaco - tinha pouca vlvula para muito corao. A mais centimtrica corrida e j ele xibia um tom arroxeado semelhando a flor do nenfar. Pedamos uma pausa para o Tony reganhar a viso e ele, passados segundos, interrompia a ofegao para gemer um continu emos! . E l seguamos, perdendo sempre. A nica vez que ganhmos nem demos por isso. O es foro tinha sido tal que nem deitmos tento no resultado. Estavmos deitando fresco so bre o Tony quando os adversrios nos vieram congratular. Ns retorquimos, surpresos: Ganhmos?!! Desistidos da elitista modalidade, regressamos ao futebol, actividade mais a jeito da nossa condio. E foi ento que me vi convertido num glorioso avanado de ce ntro. Minha fama emergiu numa jogada confusa - todas as jogadas para mim eram co nfusas - quando um poderoso remate disparou a bola na minha direco. Minha nica reaco foi proteger os culos, fechando os olhos e desviando a cabea da trajectria. Por instantes, deixei de ver o estdio. Senti a bola raspar-me o penteado. S onhe depois que esse impensado reflexo tinha feito anichar caprichosamente o esfri co no fundo das redes adversrias . Com estas palavras o meu feito se maiusculizou n a histria do meu bairro. No final do jogo fui conduzido em ombros, me aplicaram a vitalcia braadeira de capito. Com duvidoso mrito, ganhara o estatuto de comandar a minha equipa e a honra do meu bairro.
Acontecia, no entanto, que a minha equipa sofria de carncia grave de remata dores. Passvamos o jogo fintando de um ao outro lado do campo sem nunca nos decid irmos a rematar. Ainda adoptmos a tctica de chutar alto para aproveitar a altura d o nosso Tony Candeeiro mas ele, com sua falta de vlvula, assim que saltava, perdi a a viso. Falta-nos a concretizao , dizia o Senhor Herberto, nosso ilustre treinador, um gos cinquento que suspeitvamos nunca ter sequer assistido a um partida de futebol. Queixava-se assim: vocs s fintam, no rematam . E suspirava: somos uma equipa de fintab listas . Entre esforados empates e involuntrias vitrias l conseguimos chegar finalssima do campeonato interbairros. O Senhor Herberto que estava sempre calado trouxe en to a soluo - que tinha ouvido falar que, na vila de Marromeu, havia um jovem dotado de poderosssimo remate. De tal modo, que era conhecido pelo Chimbo de Marromeu . Co m seu vertiginoso pontap o moo j tinha derrubado postes e rvores e s de mencionar o s eu nome os guarda-redes eram acometidos de terrores imobilizantes. A proposta era contratar o Chimbo. pagando-lhe para que ele actuasse como a vanado da nossa equipa. A ideia foi como pedra em charco. Enviou-se logo mensagem para o mercenrio rematador. A resposta veio clere: Chego no prprio dia da grande fi nal. Eis o meu preo - 150 escudos. Pagos, claro, antes do encontro. Exultmos. O dinheiro era uma fortuna, mas ns cobriramos a parada roubando afi ncandamente as carteiras dos nossos velhos. O optimismo era tal que deixmos de tr einar. O treinador disse que a imobilidade era boa conselheira e os treinos s ser viam para esfolar canela e gastar sapatilha. Na tarde da finalssima o estdio estava repleto. At as midas l estavam, com seus risos e segredinhos. J nos preparvamos para entrar em campo e nem sombra do famos o Chimbo . Marromeu era longe, teria ele desconseguido apanhar a carreira? Mas eis que, no derradeiro instante, surge garboso e portentoso o nosso av anado vindo directamente das savanas de Marromeu. V-lo entrar em campo foi como um blsamo para a nossa angstia. Ali estava ele, fardado diferente da nossa equipa, c amisete azul-clara com estrelas prateadas que faiscavam ao fulgor do sol. Pentea do at risca, o nosso precioso reforo entrou em campo com aqueles saltinhos que s os grandes profissionais usam para aquecer o prprio corpo e o animo da multido. O ma is espantoso eram as pernas, cilindrides, to grossas em baixo como em cima. O moo n em deu as confianas. Sem sequer nos olhar, continuando a saltitar, cochichou-nos: - O dinheiro, j tm? Herberto respondeu que j tinha colocado no lugar combinado. E a tctica? , pergu ntou o contratado, sempre aos pulinhos. A tctica herbertiana era a mais simples: p assar o esfrico imediatamente ao Chimbo de Marromou . E l comeou o jogo. Na primeira jogada, a bola vem a meus ps e eu, ofuscado pelo sol, levanto a perna ao acaso. A bola toca no meu joelho, ganha efeito, passa por cima de dois adversrios, e vai na direco de Tony. Este salta e, obviamente, sem viso, cabeceia o esfrico com a nuca. Atnitos com a arquitectura destas trocas estavam o adversrio, o pblico e, mais que todos, ns prprios. A bola volta a ficar comigo e a nossa claqu e urra, frentica: - Passa ao Chimbo, passa ao Chimbo! Eu fiz a bola rolar para os ps do nosso salvador. Ele no rematou logo. Deixo u a bola parar e, com estilo de exmio executante, deu uns passinhos para trs para ganhar balano. Um silncio se instalou em todo o campo como se o universo inteiro s e atentasse no virtuosismo do futebolista. O Chimbo, qual bfalo, deflagrou um tro pel em direco bola. O barulho dos seus passos e a poeira que se levantou sua passa gem foram tais que eu fechei os olhos. Esperava escutar o vigoroso bater da bola . Mas o tudo que ouvi foi um tmido trrrrr , igual a um rasgo de roupa, uma costura se desfazendo. Quando reabri os olhos ainda vi a perna gorda do Chimbo chutando o ar e uma suspeitosa mancha castanha lhe surgindo nos cales. O mercenrio rematara em falso, com impulso tal, que se borrara em vergonhoso descuido. O que se passou em seguida foi o maior embarao - o glorioso rematador saind o em soluos, rodeado por ns que parecamos nem dar pelos odores castanhos que lhe es corriam pelas pernas. Enquanto ele se retirava ainda um de ns balbuciou: - Eh p... e o nosso dinheiro? Contudo, j o mercenrio escapava pelos canios que rodeavam o estdio. Me recordo
ainda de ver rebrilhar, entre as densas folhagens, as estrelas prateadas do seu espantoso fardamento. Com o poente daquelas estrelas se extinguia a minha iluso de ser campeo mundial de futebol.
A viva nacional Ou foi Jesus que traiu Judas? Ningum pode saber. Se mesmo Deus passa o temp o a provar que no existe! Pensamentos que fartam a cabea de Azaria Azar, director do Cemitrio Central. Ideias que endemoniam o juzo do funcionrio, outrora zeloso, ag ora acabranhado. Verdade como ninho de cobra: se confirma apanhando no o ovo, mas a fatal picada. - Culpa minha, quem me mandou? - insiste em aceno de cabea. Afinal, quem quer fumo tem que juntar palha. Sentado na sombra de um cipre ste, olha a velha Donalena, onde tudo comeou. E vai desabrindo os recentes passad os. 1 - Ante e ontem Azaria Azar se resolveu nessa tarde. Iria interditar Helena Cemitela, a ve lha visitadora dos defuntos. No havia dia que a senhora no visitasse o cemitrio, um as muitas florinhas lhe avulsando no regao. Donalena, como era chamada, desomenag eava a morte. Como? Ela no sabia qual campa devia honrar. Cada vez se joelhava nu ma diferente. Dias havia em que at rezava em mais que dez lpides. E todas as campa s eram, para ela, as do falecido. At os coveiros j suspeitavam se alguma vez chegar a de haver algum respectivo dela. Donalena se perdoava: - que j esqueci bem-bem onde que . A gente nasce gro, morre terra. Donalena, pr-defunta, j cheira a tbua deitada. Criatura roda pelo tempo, to escaravelhota que s pode ter sada de tumba. A velha de safia o Outono: cai a rvore e fica a folha? Entre as campas, ela se descampa at o cu dessorar, maligno. S no poente Donalena abandona o cemitrio, fazendo chiar os pe sados portes. Nas trevas vai pisando trevos. Pois naquela tarde, o chefe Azaria chamou a velha e lhe deitou proibio: ela podia nunca mais ali voltar. - Mas eu, agora, j lembrei a campa. No viu eu rezar ali? Aquela mesmo a do me u falecido... - Acabou conversa. J dei ordem nos milcias . A velha ento desfiou um choro magrinho, soluo de gota caindo em poo seco. Nem Azaria notou, no comeo, que ela chorava. - Me deixe vir aqui. que eu no tenho morto para chorar. Todos tem seus morto s, s eu que no tenho. Me favorea, Doutor . 2 - Ontem, oficialmente
Ontem tarde, o Vice-Adjunto, Dr. Maurcio Salbuquerque, chegou ao cemitrio em sua solene viatura. Vinha na vspera de uma funo: homenagear Heri da Revoluo. Procura a candidato, at pagara. Mas no encontrara ningum, nem prprio nem parente. Nos tempos de hoje quem quer se apresentar com os louros vermelhos do leninismo? Com o director do cemitrio se acordou encontrar rpido um candidato a rfo, vivo, parente de heri. Azaria lembrou, ento, a deslembrada Donalena. Ela havia de servi r que nem pega. No fosse a incoincidncia: ainda ontem Azaria a expulsara. Contudo, o Vice-Adjunto insistiu: ele a fosse a procurar, quem sabe a velha desobedecera? - Desobedecer a mim, Excelncia? Com o devido respeito, eu s tenho recebido ob edincia das instncias inferiores . O Doutor teimou e Azaria l foi, rarefeito, procurar a improvvel doida. Quere
m saber? Donalena Cemitela l estava, soletrando lpides, sempre em busca. Azaria ch amou, ela mal-entendeu e desatou-se. Fugia a sete chos. Azaria Azar agarrou-lhe e a conduziu direco. O Doutor Maurcio olhou a mulher, antecipando triunfos. - Voc esposa do malogrado? - Esposa por casamento, sim senhor. - J lhe conheo de nome, isto , nomeadamente: Donalena. Ora, at est como convm: na rima com qu? Com leninismo! E o plano foi instaurado, instantneo como toda a mentira. Se encontrou uma campa devidamente incgnita. Se aldrabou lpide, s pressas. E se convenceu a velha Do nalena que seu marido morreu em plenos sacrifcios pela Revoluo. E que ele pacificav a ali, naquela precisa tumba. Donalena Cemitela estava sendo promovida a ltima da ma, viva nacional. Quando chegou a comitiva oficial, se apresentou Azaria, portes oleados, mur o pintado de palavras de ordem do proletariado mundial. Foi chamada a viva. Houve banda, discurso, tiros de plvora sonora. Donalena, com vestes de emprstimo, receb eu as pstumas medalhas. Ento, lhe pediram que ela encabeasse o desfile fnebre para a campa do falecido heri. A marcha se alongou pelos carreiros, respeitosa e lenta. Deu-se uma, duas, trs voltas ao cemitrio. Andava-se em vertigem, j alguns murmurav am. O Excelncia Mximo inquiriu solenemente a viva: - Afinal, onde est enterrado o seu falecido? A viva desenhou um gesto vago, circungirando o dedo por todo o cemitrio. Seu marido estava enterrado em todas campas e em cada uma tambm. Azaria e Salbuquerq ue perdiam as falas, afligidos. A Mxima Excelncia desentendeu mas depois abriu um sorriso. Pois, compreendo-lhe; uma metfora: o povo inteiro que heri. Mas agora, ca arada viuva, agora necessitamos de uma nica sepultura, apenas a verdadeiramente ni ca . - A verdadeira?! Estava ali, bem defronte. E apontou a verdadeira e autntica. A marcha se de teve, se depositaram as flores em coroas, se entoaram hinos e oraes. Os mximos pron tuaram discurso - que ali jazia, o prprio, o mencionado, o supracitado. Azaria e Salbuquerque suspiravam alvios. No final, j as oficiais tristezas se recolhiam de regresso, a viva puxou de volta a manga do dirigente mximo. Apontou uma outra camp a e disse: - Oh, me enganei. Afinal, era aquela! E depois outra, outra e outra. At ao grito final do Excelncia. At ordem de de spedimento de Azaria e companhia. 3 - Hoje, de novo Sentado na entrada do seu ex-domnio, Azaria Azar encara a viva Donalena desf iando entre as passadeiras. As medalhas lhe tilintam no vestido negro. Passa-lhe , por momento, a raiva de matar a causadora de sua desgraceira. Vai congeminando planos: desgargantear a velha? Suspendur-la em galho? quando v um corvo pousar no ombro de Donalena. Azaria Azar sorri, se levanta e se encaminha para a idosa mu lher. Cavalheiro, lhe oferece o brao e sussurra: - Eu lhe guio Donalena, eu lhe mostro a sua campa ...
ndice Os negros olhos de Vivalma Gaiola de moscas O homem da rua O general infanciado Rungo Alberto ao dispor da fantasia O despertar de Jaimo
Razes O fintabolista A viva nacional Nota: A maior parte dos contos deste livro foram publicados em jornais e r evistas desde incios do ano de 1996 e o corrente ano. Contudo, o autor alterou a quase totalidade desses textos. E acrescentou uma dezena de histrias inditas (assi naladas com asterisco), aliceradas no quotidiano desse pais que, para alm de uma ln gua comum, exibe uma identidade bem prpria no domnio da cultura e da criatividade literria.
Esta obra foi digitalizada e revisada pelo grupo Digital Source para proporciona r, de maneira totalmente gratuita, o benefcio de sua leitura queles que no podem co mpr-la ou queles que necessitam de meios eletrnicos para ler. Dessa forma, a venda deste e-book ou at mesmo a sua troca por qualquer contraprestao totalmente condenvel em qualquer circunstncia. A generosidade e a humildade a marca da distribuio, port anto distribua este livro livremente. Aps sua leitura considere seriamente a possibilidade de adquirir o original, pois assim voc estar incentivando o autor e a publicao de novas obras. Se quiser outros ttulos nos procure : http://groups.google.com/group/Viciados_em_Livros, ser um prazer receb-lo em nosso grupo.
http://groups.google.com/group/Viciados_em_Livros http://groups.google.com/group/digitalsource
You might also like
- Receitas e Sabores Dos Territorios RuraisDocument270 pagesReceitas e Sabores Dos Territorios RuraisJosivaldo andradeNo ratings yet
- Código de Ética e CondutaDocument18 pagesCódigo de Ética e CondutaJulia SchiewaldtNo ratings yet
- 8 O Delegado Tatuado - Dudaah FonsecaDocument706 pages8 O Delegado Tatuado - Dudaah FonsecaAnalu75% (4)
- Setembro Amarelo Suicidio Manual para A PrevençãoDocument18 pagesSetembro Amarelo Suicidio Manual para A PrevençãoCPSST100% (1)
- As mãos dos pretosDocument7 pagesAs mãos dos pretosAline Nascimento50% (2)
- Treinamento ARBURG - Basico PDFDocument45 pagesTreinamento ARBURG - Basico PDFrauldd100% (5)
- Carlos Drummond de Andrade - Alguns PoemasDocument38 pagesCarlos Drummond de Andrade - Alguns PoemasJondison RodriguesNo ratings yet
- A Filha Do Doutor NegroDocument259 pagesA Filha Do Doutor NegroMaria do Rosário MonteiroNo ratings yet
- Desejo Sitiado PDFDocument115 pagesDesejo Sitiado PDFLena OliverNo ratings yet
- Cuti - Contos - BonecaDocument8 pagesCuti - Contos - BonecaAna PaulaNo ratings yet
- Visão 2030 - Nivalde J. de Castro PDFDocument441 pagesVisão 2030 - Nivalde J. de Castro PDFVictor MoraesNo ratings yet
- Anatomia do Sistema MuscularDocument28 pagesAnatomia do Sistema MuscularÉrica Martinez0% (1)
- Histórias de fantasmasFrom EverandHistórias de fantasmasHumberto BarinoNo ratings yet
- LeréiasDocument4 pagesLeréiasBárbara De Oliveira AraujoNo ratings yet
- Contos do nascer da Terra de Mia CoutoDocument33 pagesContos do nascer da Terra de Mia CoutoadnicalaNo ratings yet
- Mia Couto - Contos Do Nascer Da Terra 3º EdiçãoDocument27 pagesMia Couto - Contos Do Nascer Da Terra 3º EdiçãoRobert Tuneca Soares100% (1)
- Contos Mia CoutoDocument5 pagesContos Mia CoutoAlberto AraújoNo ratings yet
- Damba MariaDocument9 pagesDamba MariaMarcio Roberto PereiraNo ratings yet
- CasamentoDocument9 pagesCasamentorena111rena111No ratings yet
- Uma Abelha Na ChuvaDocument42 pagesUma Abelha Na ChuvaAdailson Costa0% (1)
- Obra Girândola..Document219 pagesObra Girândola..sonia sampaioNo ratings yet
- Mia CoutoDocument6 pagesMia CoutoCarol LimaNo ratings yet
- A História do Diabo Louro e Maria ValsaDocument6 pagesA História do Diabo Louro e Maria ValsaBruna Pereira FerreiraNo ratings yet
- Dom Casmurro-Machado de Assis-20Document9 pagesDom Casmurro-Machado de Assis-20felipe3005cfNo ratings yet
- Uma Abelha Na Chuva - Carlos de OliveiraDocument48 pagesUma Abelha Na Chuva - Carlos de OliveiraXoan CostaNo ratings yet
- NatalDark2022 Vol06 Margarida Marcio-BenjaminDocument8 pagesNatalDark2022 Vol06 Margarida Marcio-BenjaminNatalia MenezesNo ratings yet
- Crónicas Da Cidade Que SopraDocument128 pagesCrónicas Da Cidade Que SopratotalmenteprovisorioNo ratings yet
- SOLISTA-UPDocument9 pagesSOLISTA-UPdias franciscoNo ratings yet
- Miguel Torga - MagoDocument4 pagesMiguel Torga - Magoaya100% (1)
- Antologia de Poemas Teoria Da Literatura I EAD 2021 1Document23 pagesAntologia de Poemas Teoria Da Literatura I EAD 2021 1uchiha itachiNo ratings yet
- Resumo Fio de MissangasDocument8 pagesResumo Fio de MissangasHelder MaziveNo ratings yet
- Rosalinda, A NenhumaDocument3 pagesRosalinda, A NenhumaOfélia FrancoNo ratings yet
- Falcon Club 03 - Como Casar Com Um CanalhaDocument532 pagesFalcon Club 03 - Como Casar Com Um CanalhaDebora Oliveira 7BNo ratings yet
- NEM Fede NEM Cheira PDFDocument25 pagesNEM Fede NEM Cheira PDFHermes De Sousa VerasNo ratings yet
- Crônicas do Submundo I: Demônio das SombrasFrom EverandCrônicas do Submundo I: Demônio das SombrasNo ratings yet
- Digital Vidro A Prova de PobreDocument139 pagesDigital Vidro A Prova de PobreAriel HenriqueNo ratings yet
- Carlos Drummond de AndradeDocument22 pagesCarlos Drummond de AndradeDanilo FranciscoNo ratings yet
- Contos e Resumos de Miguel TorgaDocument7 pagesContos e Resumos de Miguel TorgaIrene CandeiasNo ratings yet
- L. F. Freitas - O Segredo Do CEODocument207 pagesL. F. Freitas - O Segredo Do CEOjadnnylNo ratings yet
- MarDocument35 pagesMarMariana MonteiroNo ratings yet
- O Rapaz Não Gostava Das Mãos - Alves RedolDocument6 pagesO Rapaz Não Gostava Das Mãos - Alves RedolsegundinhoNo ratings yet
- Húmus, obra de Raul Brandão sobre a vida numa vila portuguesaDocument271 pagesHúmus, obra de Raul Brandão sobre a vida numa vila portuguesaMibyMadrugaNo ratings yet
- Mudando o Amanhã (Silvio Kurzlop) PDFDocument169 pagesMudando o Amanhã (Silvio Kurzlop) PDFSilvio KurzlopNo ratings yet
- Antologia Erotica Os DramatikosDocument27 pagesAntologia Erotica Os DramatikosBárbara GontijoNo ratings yet
- BRANDÃO Ignacio de Loyola - O Homem Do Furo Na MãoDocument4 pagesBRANDÃO Ignacio de Loyola - O Homem Do Furo Na MãoWellington Furtado RamosNo ratings yet
- Um Épico Moderno: corações entrelaçados e elegia macabraFrom EverandUm Épico Moderno: corações entrelaçados e elegia macabraNo ratings yet
- Análise de situação de leitura e produção de texto na educação básicaDocument3 pagesAnálise de situação de leitura e produção de texto na educação básicaNatalino OliveiraNo ratings yet
- Artigo - TCC - SAMARA LUANE GOMES BARRADocument27 pagesArtigo - TCC - SAMARA LUANE GOMES BARRANatalino OliveiraNo ratings yet
- TCLEDocument3 pagesTCLENatalino OliveiraNo ratings yet
- Conceição Evaristo - Literatura Afro-BrasileiraDocument9 pagesConceição Evaristo - Literatura Afro-BrasileiraNatalino OliveiraNo ratings yet
- Projeto A Cor da Cultura e legado de Azoilda LorettoDocument16 pagesProjeto A Cor da Cultura e legado de Azoilda LorettoNatalino OliveiraNo ratings yet
- A exploração do trabalho infantil retratada em A menina que carregava bocadinhosDocument8 pagesA exploração do trabalho infantil retratada em A menina que carregava bocadinhosNatalino OliveiraNo ratings yet
- A Literatura Comparada e seus caminhosDocument32 pagesA Literatura Comparada e seus caminhosNatalino OliveiraNo ratings yet
- Cidades Educadoras PDFDocument154 pagesCidades Educadoras PDFNatalino Oliveira100% (1)
- Aula de PoesiaDocument33 pagesAula de PoesiaNatalino OliveiraNo ratings yet
- Traducao em Toni Morrinson PDFDocument8 pagesTraducao em Toni Morrinson PDFNatalino OliveiraNo ratings yet
- Edital Cad. 01Document2 pagesEdital Cad. 01Natalino OliveiraNo ratings yet
- Concurso de Literatura Cataratas ContoDocument2 pagesConcurso de Literatura Cataratas ContoNatalino OliveiraNo ratings yet
- Questoeshispanismo SiteDocument14 pagesQuestoeshispanismo SiteNatalino OliveiraNo ratings yet
- D Amor PDFDocument1 pageD Amor PDFNatalino OliveiraNo ratings yet
- Romant Is MoDocument90 pagesRomant Is MoNatalino OliveiraNo ratings yet
- Edital2edicao PDFDocument6 pagesEdital2edicao PDFNatalino OliveiraNo ratings yet
- Leito de Folhas VerdesDocument2 pagesLeito de Folhas VerdesNatalino OliveiraNo ratings yet
- A Arte de Ser FelizDocument1 pageA Arte de Ser FelizNatalino OliveiraNo ratings yet
- Proposta de carreira para docentes dos institutos federais apresentada pelo MEC em 2012Document3 pagesProposta de carreira para docentes dos institutos federais apresentada pelo MEC em 2012José Aparecido JorgeNo ratings yet
- Edital2edicaodoc PDFDocument6 pagesEdital2edicaodoc PDFNatalino OliveiraNo ratings yet
- Aula 02 PDFDocument21 pagesAula 02 PDFNatalino Oliveira100% (1)
- Guia Feri AsDocument97 pagesGuia Feri AsLeandro SilvaNo ratings yet
- Linguistic ADocument21 pagesLinguistic ANatalino OliveiraNo ratings yet
- Docencia L1 PDFDocument26 pagesDocencia L1 PDFNatalino OliveiraNo ratings yet
- L1 para Surdos PDFDocument8 pagesL1 para Surdos PDFNatalino OliveiraNo ratings yet
- Helena - Machado de AssisDocument13 pagesHelena - Machado de AssisNatalino OliveiraNo ratings yet
- Edital Bolsa Pos Doutorado PDFDocument4 pagesEdital Bolsa Pos Doutorado PDFNatalino OliveiraNo ratings yet
- Concepções de aprendizagem e práticas pedagógicasDocument17 pagesConcepções de aprendizagem e práticas pedagógicasNatalino OliveiraNo ratings yet
- Proposta de Alteração Da Resolução 27 Estagio Probatório PDFDocument28 pagesProposta de Alteração Da Resolução 27 Estagio Probatório PDFNatalino OliveiraNo ratings yet
- Educação PRDocument189 pagesEducação PRNatalino OliveiraNo ratings yet
- PortuguesDocument87 pagesPortuguessilasdefariassantosNo ratings yet
- 06 - PortuguêsDocument43 pages06 - PortuguêsrenatoNo ratings yet
- Abrava Fevereiro 2021Document44 pagesAbrava Fevereiro 2021Ricardo MeyerNo ratings yet
- Projeto de sistema de vapor de águaDocument40 pagesProjeto de sistema de vapor de águaJulião Chiziane IINo ratings yet
- Aula 2 Modelos Contemporâneos de Gestão 2023 2 ModeloDocument53 pagesAula 2 Modelos Contemporâneos de Gestão 2023 2 Modelogomesdebora771No ratings yet
- Um Encontro Com Robert CooperDocument18 pagesUm Encontro Com Robert CooperFernanda Gusmão LouredoNo ratings yet
- Questões Conhecimento Geral JundiaíDocument9 pagesQuestões Conhecimento Geral JundiaíLeandro JobstNo ratings yet
- Ficha Tecnica SoulDocument3 pagesFicha Tecnica SoulCarol Pereira SilvaNo ratings yet
- CTBConsulta Contribuicoes Aberto V20210701215307Document1 pageCTBConsulta Contribuicoes Aberto V20210701215307Juliano CabralNo ratings yet
- Tinta líquida epóxi anticorrosiva para proteção de estruturasDocument6 pagesTinta líquida epóxi anticorrosiva para proteção de estruturasDaniela E. WagnerNo ratings yet
- Avaliacao Final CDCDocument19 pagesAvaliacao Final CDCjomarmnNo ratings yet
- Laneli®: Medley Indústria Farmacêutica Ltda. Polivitamínico e Polimineral Cápsula Gelatinosa MoleDocument7 pagesLaneli®: Medley Indústria Farmacêutica Ltda. Polivitamínico e Polimineral Cápsula Gelatinosa MoleFabiano SoaresNo ratings yet
- Metabolismo de carboidratos e glicóliseDocument11 pagesMetabolismo de carboidratos e glicóliseGioconda1337No ratings yet
- O Papel Do Gestor de Recursos Humanos Na Construção Da Responsabilidade Social EmpresarialDocument28 pagesO Papel Do Gestor de Recursos Humanos Na Construção Da Responsabilidade Social EmpresarialQueijariaNo ratings yet
- Resistência orgânica geral e muscular localizadaDocument39 pagesResistência orgânica geral e muscular localizadaJucivaldo FerreiraNo ratings yet
- Métodos de Estudo PDFDocument2 pagesMétodos de Estudo PDFdevanirmirandaestadaNo ratings yet
- Numeracia e Educação InfantilDocument2 pagesNumeracia e Educação InfantilJuliana MoreiraNo ratings yet
- CircuferênciaDocument7 pagesCircuferênciaAmparo AlmeidaNo ratings yet
- 04 - Tabela PeriódicaDocument13 pages04 - Tabela PeriódicaCamila LopesNo ratings yet
- Metodos Investigacao CientificaDocument10 pagesMetodos Investigacao CientificaAididi Joao100% (1)
- Redes Sintese Cassio MartinhoDocument16 pagesRedes Sintese Cassio MartinhornpiNo ratings yet
- Variações interanuais na fenologia de uma comunidade arbóreaDocument9 pagesVariações interanuais na fenologia de uma comunidade arbóreaGiovanna SantucciNo ratings yet
- Arte ContemporâneaDocument1 pageArte ContemporâneaAline Andrade MoriNo ratings yet