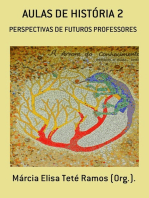Professional Documents
Culture Documents
Acta Scientiae v4 n1 2002 - Formacao de Professores de Matematica
Uploaded by
Evilasio MoreiraOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Acta Scientiae v4 n1 2002 - Formacao de Professores de Matematica
Uploaded by
Evilasio MoreiraCopyright:
Available Formats
Rei tor
Ruben Eugen Becker
Vi ce-Rei tor
Leandro Eugnio Becker
Pr-Reitor de Graduao
Nestor Luiz Joo Beck
Pr-Reitor de Pesqui sa e Ps-Graduao
Edmundo Kanan Marques
Pr-Rei tora de Orientao e Assistncia ao Estudante
Euril da Dias Roman
Pr-Rei tor de Desenvol vi mento Comunitri o
Ely Carl os Petry
Pr-Rei tor de Admi ni strao
Pedro Menegat
Pr-Reitor de Representao I nsti tuci onal
Mart im Car los Wart h
Pr-Rei tora das Uni dades Externas
Jussar Lummer tz
Comi sso Edi t or i al
Ar no Bayer
Mar cos Machado
Paulo August o Net z
Agost inho S. de Andrade Net o
Consel ho Edi tor i al
Ant nio Mari nho Bar cel los (UNISINOS)
Ar no Bayer (ULBRA)
Art hur Vargas Lopes (ULBRA)
August o Vi ei ra Car dana (PUCRS)
Dimit ri us Sami os (UFRGS)
Dione Sil va Cor ra (ULBRA)
Eduardo Pri co (ULBRA)
Eduardo Roli m de Oliveira (UFRGS)
Renat o dos Sant os Mell o (ULBRA)
Gi lson R. Moreira (UFRGS)
Hel ena Noronha Cur y (PUCRS)
Jos Palazzo Moreir a de Oli vei ra (UFRGS)
Lavi nel Ionescu (ULBRA e PUCRS)
Nar a Bi gol in (ULBRA)
Nel son Fer reir a Font our a (PUCRS)
Edi tora da ULBRA
Diret or: Valt er Kuchenbecker
Capa: Eli andro Ramos
Edi t or ao: Mar cel o Lei ri a
Assi nat uras/ Subscr i pti ons
Edit ora da ULBRA
Rua Miguel Tost es, 101 - Bair ro So Lus
CEP: 92420-280 - Canoas/ RS
Fone:(51) 477.9118 - Fax: (51) 477.9115
E- mai l:edi t or a@ulbr a.br
Cor r espondnci a/ Adr ess
Uni ver si dade Lut erana do Br asi l
PROGRAD/ Di viso de Publ icaes Peri di cas
a/ c Prof. Paulo Seif ert , Diret or
Rua Miguel Tost es, 101, prdio 11, sala 127
Cep 92420-280, Canoas, RS, Brasil
E-mai l: logos@ulbra.br
Sol i cit a- se per muta.
We request exchange.
On demande lchange
Wi r erbi tten Aust ausch
Mat rias assinadas so de responsabillidade dos aut ores.
Di reit os aut orais r eservados. Ci t ao par ci al permit ida,
com ref ernci a f ont e.
R454 Revist a Act a Scient ae / Univer sidade Lut er ana do Br asil-
r ea de Cincias Nat ur ais e Exat as - Canoas: Ed. ULBRA,
1999.
Semest r al
1. Cincias nat ur ais- per idicos. 2. r ea de Cincias e
Ensino de Cincias e Mat emt ica. I . Univer isdade
Lut er ana do Br asil - r ea de Cincias Nat ur ais e Exat as
CDU 501/ 599 ( 05)
CDU 505
Centro de Processamento Tcnico da Biblioteca Martin Luther - ULBRA/Canoas
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 3
Revista de Cincias Naturais e Exatas
Vol. 4, n 1, jan./jul. 2002 - ISSN 1517-4492
Especial Matemtica
Acta Scientae
ndi c e
Editorial ______________________________________________________________________________________________________ 5
Palestras
La Formacin Docente Cont inua como Pr obl ema Al gunas Ref l exiones sobr e l os r esul tados de l as t ent at ivas de tr ansf ormar l a
enseanza de l as ciencias
Eduar do M. Gonzal es _____________________________________________________________________________________________ 7
Educacin Matemt ica en l a f or macin de maest ros
Fr edy E. Gonzl es ______________________________________________________________________________________________ 23
Educao Mat emtica e For mao de Pr of essor es no Cone Sul
Jos Car l os Pi nt o Lei vas __________________________________________________________________________________________ 27
Grupos de Discusso
For mao de Professores de Mat emt ica
Hel ena N. Cur y, Al aydes S. Bi anchi , Cr men R. Jar di m de Azambuj a, Mar i l ene Jaci nt ho Ml l er, Mni ca Ber t oni dos Sant os _______ 37
O Ensino At ual de Geomet r ia: Concepes e Tendncias
Jos Car l os Pi nt o Lei vas __________________________________________________________________________________________ 43
Agr essividade no Cont ext o Escolar
Ar no Bayer, Val t er Kuchenbecker, Jaquel i ne Ti chy, Ni l ce B. Schnei der, Raquel Gl api nski de Souza _____________________________ 47
Os Prof essor es de Matemt ica Diant e da Avaliao
Vander l ei Si l va Fl i x ____________________________________________________________________________________________ 57
Oficinas
Cur iosidades Matemticas
Fbi o Kr use ___________________________________________________________________________________________________ 65
Apr endendo Mat emt ica nos Ciclos Iniciais Luz dos PCN s
Gl adi s Bl ument hal ______________________________________________________________________________________________ 71
Recur sos Gr ficos do Sof twar e MuPAD no Est udo de Funes
Mar i l ai ne de F. Sant Ana, Al exandr e Gat el l i , Ana Lci a Maci el _________________________________________________________ 75
Trigonometr ia: Um Enfoque pr t ico
Mar i sa Kr ause Fer r o ___________________________________________________________________________________________ 81
Nmer os Ir r acionais, Transcendent es e Al gbr icos: a exist ncia e a densidade dos nmeros
Cydar a C. Ri pol l , Edi t e Tauf er, Gi ovanni S. Nunes, Jai me B. Ri pol l , Jayme A. Net o, Jean C. P. Gar ci a, Neda Gonal ves, Rodr i go Dal l a Vecchi a,
Ver a Regi na Bawer _____________________________________________________________________________________________ 85
Est atst ica no Ensino Fundament al e Mdio
Si mone Echevest e, Mi chel e Gomes de vi l a __________________________________________________________________________ 91
Desaf ios e Possibil idades em Mat emt ica no Ensino Fundament al
Mar i a Beat r i z Menezes Cast i l hos, Mar i l ene Jaci nt ho Ml l er, Mr ci a Car i ne Vi ei r a Godoy __________________________________ 97
Est r at gias de apr endizagem e sol ues de pr obl emas par a pr of essor es e al unos
Cl audi a Li set e de Ol i vei r a Gr oenwal d, Mar cos Rogr i o Mer t z _________________________________________________________ 101
O uso de jogos mat emt icos em sal a de aul a
Cl audi a Li set e de Ol i vei r a Gr oenwal d,Ur sul a Tat i at a Ti mm ___________________________________________________________ 109
Ut il izao do cabr i-gomt r e II em sal a de aul a
Ana Br unet , Magda Leyser ______________________________________________________________________________________ 117
Uma viagem com o Cabr i-gomt r e II
Jos Car l os Pi nt o Lei vas ________________________________________________________________________________________ 125
Int er net e Sof t war es gr at uit os como r ecur sos no ensino da Mat emt ica
Car men Kai ber da Si l va, Cr i st i ano Per ei r a da Concei o ______________________________________________________________ 133
Noes de cl cul o a par t ir de exper incias cient f icas
Mar i l ai ne de Fr aga Sant ` Ana, Al exandr e R. Fr asson, Eduar do M. Ar aj o, Maur ci o Rosa _________________________________ 143
Educao mat emt ica e hist r ia: At ividades par a as sr ies f inais do ensino f undament al
Tani a El i sa Sei ber t ____________________________________________________________________________________________ 153
A heur st ica no ensino do cl cul o dif er encial e int egr al
Rubn Pant a Pazoz ____________________________________________________________________________________________ 157
Const r uo dos nmer os r el at ivos e de suas oper aes
Ver a Ker n Hof f mann ___________________________________________________________________________________________ 163
Avaliao
I Congr esso Int er nacional de Ensino da Mat emt ica Apr esent ao e Aval iao _______________________________________ 169
Editorial
A revista Acta Scientiae o veculo de comunicao cientfica da rea de Cincias
Naturais e Exatas e do Programa de Ps-graduao em Ensino de Cincias e Matemtica
da Universidade Luterana do Brasil. Os artigos publicados nessa revista so elaborados
por pesquisadores da Universidade e por colaboradores de outras I nstituies de ensino
e pesquisa.
Os professores de Matemti ca que demonstram interesse em discutir Educao
Matemtica so profissionais com aspiraes em refletir sua prtica de sala de aula,
entendendo a pesqui sa como medi ador a entre a pr ti ca e a teor ia, resul tando em
modificao e aprimoramento dessa prtica. Com o objetivo de contribuir e incentivar a
reflexo e a discusso sobre a pesquisa na rea de ensino da Matemtica, foi realizado, na
Universidade Luterana do Brasil, nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2001 o I Congresso
I nternacional de Ensino da Matemtica.
O presente nmero da Acta Scientiae apresenta as questes abordadas e discutidas
nesse evento. Com a publicao deste nmero queremos divulgar o que foi abordado e
discutido dur ante estes trs dias. Consideramos que a publi cao do materi al deste
congresso de grande utilidade para todos que de alguma forma esto envolvidos e
preocupados com o ensino da Matemtica e a pesquisa nessa rea.
Contamos com a participao de pesquisadores importantes da rea de Ensino
de Cincias e Matemtica. Podemos destacar a participao do Prof. Dr. Fredy Eduardo
Gonzlez da Universidad Pedaggica Experimental Libertador de Maracay-Venezuela,
do Prof. Dr. Eduardo Gonzles da Universidade Tcnolgica Nacional-Argentina, do
Prof. Dr. Eduardo Fleury Mortimer da Universidade Federal de Minas Gerais, do Prof.
Dr. Srgio Nobre da UNESP - Rio Claro e do diretor da SBEM/RS, Ms. Jos Carlos Pinto
Leivas da Fundao Universitria de Rio Grande - FURG, bem como, outros de notvel
importncia. Esses pesquisadores compartilharam seus conhecimentos e os resultados
colhidos em suas pesquisas desenvolvidas no ensino da Matemtica.
A preocupao com a formao de professores de Matemtica foi tema de um
Grupo de Discusso coordenado pelos docentes e pesquisadores da PUCRS, Alaydes
Bianchi, Helena Noronha Cury, Carmen Regina Jardim Azambuja, Marilene Jacinto Mller
e Mnica Bertoni dos Santos.
A metodologia do ensino da Matemtica nas sries iniciais foi foco de anlise e
discusso a partir dos trabalhos das professoras Gladis Blumenthal, Jos Teixeira Baratojo
e Elena Haas Chemale.
O congresso abordou vr i os temas de i nteresse da rea, como Aval i ao em
Matemtica, Agressividade no Contexto Escolar, I nformtica no Ensino da Matemtica e
Histria da Matemtica. A preocupao com a abordagem metodolgica do ensino da
Matemtica foi tema das diversas oficinas pedaggicas apresentadas no evento.
Nesse congresso a Universidade Luterana do Brasil, o Curso de Licenciatura em
Matemtica e o Programa de Ps-graduao em Ensino de Cincias e Matemtica contou
com a par ti ci pao de quatrocentos congressi stas que j unto com os pesqui sadores
discutiram questes de grande relevncia no ensino da Matemtica e na pesquisa nessa
rea.
A Coordenao do Evento
Palestras
La For mac i n Doc ent e
Cont i nua c omo Pr obl ema
Al gunas r ef l ex i ones sobr e l os r esul t ados de l as
t ent at i vas de t r ansf or mar l a enseanza de l as
c i enc i as
Eduar do M . Gonzal es
1 - L a i nv e s t i g a c i n
educ at i v a en c i enc i as :
dos dc adas de c ambi os
ver t i gi nosos
La tradicional importancia concedida
a las inversiones en educacin para hacer
posible el desar rollo futuro de un pas, ha
dejado paso al convencimiento de que la
for macin general -y, en su contexto, la
al f abet i zaci n ci ent f i ca de t odos l os
ci udadanos y ci udadanas- ha pasado a
const i t ui r una exi genci a u r gen t e, un
requi si to par a el desar rol l o i nmedi ato.
Junt o a est a cr eci ent e i mpor t anci a
concedida a la educacin cientfica, nos
encontramos, sin embargo, con un grave
f r acaso escol ar, acompaado de un
creciente rechazo de los estudios cientficos
y de actitudes negativas hacia la ciencia.
Est e r econoci mi ent o de l a
importancia de la educacin cientfica y las
dificultades encontradas para su extensin
a la generalidad de los futuros ciudadanos
y ciudadanas ha impulsado la investigacin
en t or no a l a educaci n ci ent f i ca y
tecnolgica. De hecho, los logros de esta
investigacin en apenas dos dcadas han
si do real mente i mpresi onant es (Gabel
1994; Fraser y Tobin 1998; Perales y Caal
2000). Este proceso ha ido en paralelo con
l a gener aci n y consol i daci n de una
verdadera comunidad de especialistas en
Enseanza de l as Ci enci as, l a que
const i t uye una ver dader a r eal i dad
Eduardo M. Gonzales. Doutor em Educao e Professor da Universidad Tecnolgica Nacional (UTN) Argentina.
Can oas v.4 n. 1 p. 7 - 21 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
8 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
i nsti tuyente en nuestras universidades y, en
menor medi da, en ot r as i nst i t uci ones
educativas.
Ahora bien, en qu medi da toda esta
i nv est i gaci n ha si do apr ovechada por l os
pr of esor es y ha dado l u gar a u n a mej or
educaci n?
Entre l os aspectos que concur ren a
generar un potencial de transformacin se
hallan los nuevos materiales y equipos que
provi enen de l as tecnol ogas de lti ma
gener aci n, recur sos que pueden ser
ut i l i zados par a cr ear cont ext os de
adqui si ci n y const r ucci n del
conoci mi ento (Duschl , 1995). Pero, si n
duda, el avance principal proviene de un
cambi o en l a per spect i va de l as
i nvest i gaci ones, que han vi r ado desde
visi ones tecnolgicas y de curriculum
por objetivos hacia otras ms cualitativas
y de replanteo global sobre los objetivos del
aprendizaje, vinculados ahora no tanto a
la cantidad y a la operacionalizacin como
a la profundidad del conocimiento (Porln
1998). Ello ha dado lugar a la emergencia
de vi si ones convergent es que pueden
agruparse genricamente bajo el nombre
de constructivismo (Resnik, 1983; Novak
1988; Gil, 1994). I ncluso se ha llegado a
decir que en Enseanza de las Ciencias se
cuenta ya con un cuerpo consolidado de
conoci mi ent os (Hodson, 1992; Fur i ,
1994).
Para evitar confusiones, limitaremos
dichos planeos constructivistas al rea de
l a Enseanza de l as Ci enci as,
sintetizndolos en lo siguiente: tener en
cuent a l o que el al umno ya sabe,
pl ant eando una adqui si ci n act i va,
responsabl e y soci al de si gni fi cados, e
integrando en el proceso, lo conceptual,
lo procedimental y lo actitudinal (Gil et al
1999).
Desde un enfoque ms amplio Pozo y
Gmez Crespo (1998) sealan que la idea
bsica del llamado enfoque constructivista
es que, aprender y ensear, lejos de ser
mer os pr ocesos de r epet i ci n y
acumulacin de conocimientos, implican
transformar la mente de quien aprende,
que debe reconstruir a nivel personal los
productos y procesos culturales con el fin
de apropiarse de ellos .
Ent r e esas or i ent aci ones
const r uct i vi st as dest acamos aquel l os
modelos que proponen recuperar para el
aula una aproximacin a las car acter sti cas
del tr abaj o ci entfi co, es decir que intentan
abor dar si t uaci ones pr obl emt i cas,
acot ar l as, emi t i r hi pt esi s, di sear
est r at egi as de resol uci n, et c. y que,
adems, integran todos los aspectos del
proceso de enseanza aprendizaje. Se trata
en estas propuestas de que los estudiantes
puedan vi venci ar exper i enci as de
indagacin bajo formatos acordes a su nivel
evolutivo y bajo la direccin del docente.
Sin embargo, y a pesar de muchos
esfuerzos de divulgacin o instalacin
de estos resultados, realizados medi ante
experi enci as pil oto, cursos y tal leres de
capaci t aci n, congr esos y encuent r os
diversos, los resultados de la investigacin
e innovacin en ciencias naturales estn un
poco alejados de lo que sucede en las aulas
o inciden muy poco en ellas (Copello et al
2001). Considerando que buena parte de
esa i nvest i gaci n ha si do r eal i zada
pensando en su posible apl icaci n, el lo
estara indicando la existencia de carencias,
dificultades y/o obstculos especiales que
deben ser consi der ados. Al respect o,
podemos r ecuper ar exper i enci as de
diversos equipos de especialistas, incluso
en nuestro entorno cercano, en lo que se
refiere a l a instal aci n en el si stema de
proyectos de enseanza por investigacin
(Cudmani 2000, Pessoa de Carvalho 1999).
Tambi n se han rel evado al l al gunos
problemas tericos y prcticos vinculados
con tales tentativas.
Esto ha dado lugar a diversos grupos
a considerar la validez en s de los modelos
propuestos y a ampliar las perspectivas de
i nvesti gaci n en ml ti pl es di recci ones:
dando lugar a un debate en relacin a las
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 9
diferentes acepciones de lo que se entiende
por cambi o concept ual (Dust chl y
Hami lton 1992; Mortimer, 1995; Pozo y
Gmez Crespo, 1998), a la inclusin de las
di mensi ones comuni caci onal es y del
discurso en el aula, a la profundizacin de
l os pr ocesos de aut or egul aci n y
metacognicin, etc. Ello est permitiendo,
sin duda, una mayor comprensin de los
procesos de enseanza aprendizaje en el
aul a. Est os t r abaj os, abor dados con
di f er ent es enf oques t er i cos y
met odol gi cos, f or man par t e de l os
debates que acompaan a todo proceso de
investigacin con aspiracin cientfica, ms
an en una etapa de consolidacin de su
campo t er i co como es el caso de l a
Didctica de las Ciencias.
Los avances que se obtienen en estos
estudios no eliminan la cuestin especfica
de cmo incorporar a los docentes en las
nuevas or i ent aci ones de enseanza.
Pr eci sament e muchos t r abaj os de
investigacin educativa en ciencias estn
seal ando que l a f or maci n es un
verdadero problema a resolver (Hewson y
Hewson 1987, Briscoe 1991, Cronin Jones
1991, Anderson y Mitchener 1994, Copello
et al 2001). En particular, nos centraremos
en tres aspectos de ese problema: l as vi si ones
docent es sobre l a ci enci a y su enseanza, l a
rel aci n entre l a teor a y l a pr cti ca educati va
y l os aspect os i nst i t uci onal es o cont ext ual es
donde se i ntentan l os cambi os.
2 - La Tr ansf or mac i n
e d u c a t i v a : r e s u l t a d o s
c ont r adi c t or i os
Otro punto de partida es el que surge
de consi der ar l os pr ocesos de
transformacin educativa, iniciados en la
dcada pasada en la Argentina y que tienen
fuertes conexiones con otras experiencias
similares que han tenido o estn teniendo
l ugar en var i os pases de su ent or no
cul t ur al en r espuest a, ent r e ot r as
cuestiones, a las necesidades del desar rollo
soci oeconmico.
Tras ms de una dcada desde el inicio
de reformas como la espaola, la argentina,
etc., pueden destacarse algunos avances -
como, p.e., la ampliacin de los periodos
de escolarizacin obligatoria o una nueva
concepci n del cur r cul o, ms abi er to,
flexible y fundamentado- acompaados de
di f i cul t ades que mer ecen anl i si s y
rectificaciones (Maiztegui et al 2000).
Luego de un per odo de ml ti ples
acciones masivas, dicho proceso pareciera
haber perdido impulso (y recursos) y haber
generado sensaci ones contradi ctorias en
los participantes. Esto no significa que se
haya det eni do; an con t odas sus
limitaciones, el proceso iniciado responde
a necesi dades muy i mpor tantes, de un
cambi o cul t ur al gl obal en nuest r as
soci edades, i nser t as en el desar rol l o
i mpresi onante de l os nuevos modos de
comunicacin y de la informacin, lo cual
impulsa una nueva cul tur a del aprendi zaj e
(Pozo 1996). La necesidad de adaptar a la
escuela a estos cambios hace que, en cierto
sentido, el proceso de transformacin no
tenga retorno.
Debe advertirse sin embargo contra
los r iesgos de etapas de estancami ento,
contra las voces que sealan el fracaso
del const r uct i vi smo y de l as ref or mas
cur r i cul ares, de l os que proponen una
detente de las tentativas de cambio, para
acuentuar el orden o la contencin en el
si stema (desvi ncul ando as l a for ma del
cont eni do) o di r ect ament e de l os
movi mi entos de contr a refor ma , que
tambin los hay.
Todo el l o afecta a l os gr upos ms
compr omet i dos con l os cambi os, en
particular cuando las condiciones salariales
y econmicas son tan regresivas como las
que vivimos en nuestros pases. Hemos de
reconocer que comienza a detectarse un
sent i mi ent o de f r ust r aci n ent r e l os
i nvest i gador es, l os di seador es y
responsables de las reformas cur riculares
1 0 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
i nspi r adas en l os hal l azgos de l a
investigaci n y entre aquellos profesores
que confiaban en dichas transformaciones
par a hacer f r ent e a l as cr eci ent es
dificultades de su tarea (Gil, Furi y Gavidia
1998). La reci ente i nvest i gaci n sobre
f or maci n de l os pr of esor es ha
cuestionado sta y otras optimistas (pero
i ngenuas) expect at i vas, obl i gando a
repl ant ear a f ondo l as est r at egi as de
innovaci n cur ricular y de l a formaci n
docente.
En una versin optimista pensamos
que l a tr ansfor maci n educat i va en l a
Argentina contina con otros ejes, menos
visibl es pero, qui zs, ms si gni fi cativos.
Dicho proceso pareciera orientarse en dos
di recci ones: l a reestr uctur aci n de l os
vi ej os Prof esor ados t erci ar i os como
I nstitutos de Formacin Docente Continua
(I FDC) y l os cambi os en l os propi os
estableci mientos educativos pr imar ios y
secundarios. En cierto modo, se trata de
un mismo proceso de institucionalizacin
de la transformacin en dos niveles. En
ambos casos, el eje del debate est centrado
en la formacin docente continua.
Como apoyo de l o anter ior puede
mencionarse que la normativa vigente para
los I FDC (ver Fer reyra y Gonzlez 2001)
def i ne sus nuevas f unci ones por
act i vi dades como: of r ecer pr oyect os
i nst i t uci onal es per manent es de
capaci t aci n, per f ecci onami ent o y
act ual i zaci n docent e, con el f i n de
profundi zar conoci mi entos y promover
i nnovaci ones educat i vas; i nt roduci r y
promocionar la realizacin de investigacin
educativa, a modo de aporte al proceso de
anlisis de las prcticas, de la renovacin
de los diseos cur riculares, de la evaluacin
i nsti t uci onal y del desar rol l o del rea
especfica. Sin duda, estas requerimientos
impulsan a los formadores de docentes en
l a di r ecci n de i nvest i gar su propi a
prctica.
En snt esi s, l os dos movi mi ent os
considerados (la investigacin educativa en
ciencias y los procesos de transformacin
educativa) parecen haber hallado un lmite
a sus posi bi l i dades en pr obl emas
relacionados con la formacin docente. La
tr ansfor maci n educati va fue concebi da
como un acci n est at al masi va que
propone la flexibilizacin y el cambio de
todo el si stema par a actual i zar l o a l os
tiempos de la globalizacin; la investigacin
educat i va en ci enci as (que se ha
desar r ol l ado en ambi ent es ms bi en
acadmicos, universitarios o secundarios),
propone estrategias de enseanza basadas
en l a r eal i zaci n de act i vi dades y en
probl emat i zar el conoci mi ento. Ambos
movimientos dependen para obtener algn
avance en desar rollar propuestas destinada
a la transformacin de los docentes. Este
es, desde nuestra perspecti va, el punto
principal de apoyo de cualquier tentativa
de cambio.
3 - La exper i enci a de l as
t ent at i vas de for maci n y
t r ansf or mac i n doc ent e
Analicemos entonces algunas de las
t entati vas que se han desar rol l ado en
relacin a la transformacin de los docentes
y que enseanzas se obtienen al respecto.
No se t r at a en modo al guno de una
revisin, pero s de una tentativa, provisoria
naturalmente, de sntesis de los resultados
a que hemos asistido en nuestros pases.
Quizs el hecho ms sali ente de la
transformacin educativa fue la realizacin
de innumerables cursos de capacitacin.
Si n negar su val or como el ementos de
sensibilizacin, es un hecho aceptado por
todos los actores que los mismos no han
producido los efectos esperados. Nuestra
pr opi a exper i enci a con cur sos de
capaci tacin de la reforma, an cuando
han si do di seados especi almente par a
r esponder a vi si ones di dct i cas
actualizadas, nos ha planteado dificultades
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 1 1
di f ci l es de resol ver ; por un l ado l os
docentes asistentes a l os cursos muchas
veces proponen o esperan insistentemente
propuest as de cl ase , t r at adas si n l a
profundidad necesaria y sin plantearse un
esfuerzo consistente para integrar dichos
conoci mi entos en una visin coherente;
por el otro, las limitaciones de tiempo con
que contamos en estos cursos nos impiden
canal i zar est as demandas de maner a
apropiada. Frente a este festival de cursos
l os docent es expr esar on ci er t a
di sconf or mi dad, por aspect os
or gani zat i vos, por car enci as de
orientaciones didcticas especficas y por
el carcter arbitrario de todo el proceso.
Se manifestaba de ese modo un malestar
docente , vinculado a que los mismos se
si ent en agr edi dos por una f al t a de
reconocimiento y por cierta culpabilizacin
soci al a sus carenci as (Snchez Ji mnez
1988), que son, en buena medida, el fruto
de la formacin que han recibido.
Los hechos ant er i ores no deben
extraarnos, la investigacin educativa ya
ha sealado la inviabilidad de las reformas
basadas en esf uer zos punt ual es y
descontextuados (Bri scoe 1991). Por el
contrario, los resultados son mucho ms
al ent ador es cuando se pr esent an
propuest as ms abarcat i vas, ya sea de
trayectos o de talleres, realizados durante
un per odo ms l argo en l as pr opi os
establecimientos educativos o en centros
de profesores (Copel l o et al 2001). En
ambos casos es posi bl e r esponder a
pr opuest as f undadas t er i cament e,
coher ent es y donde se est abl ezcan
relaciones basados en acuerdos sobre el
trabajo a realizar. Ello puede relacionarse
con pr oyect os de i nnovaci n o de
intervencin alrededor de determinados
t emas o probl emas. Tambi n pueden
gener ar se opci ones t r ansf or mador as
al rededor de l as nuevas tecnol ogas (l a
materia tecnologa ha pasado a ser una
verdader a asi gnatur a pendi ente). Estos
procesos pueden potenci ar se medi ante
t ut or i as, concebi das dent r o de l a
flexibilidad y la reflexin, donde docentes
expertos en las nuevas orientaciones acten
como f aci l i t adores u or i ent adores del
trabajo, el que ser adaptado a los proyectos
y necesidades de los diferentes docentes y
cent ros educat i vos (Snchez Jmenez
1998). Diversos estudios de caso apoyan
estas aserciones acerca del trabajo en las
instituciones, ms an, se muestra que los
cambios introducidos van ms all de la
materi a y abarcan el desar roll o soci al y
personal de los asistentes (Mellado 1998).
Ot ros espaci os f or mat i vos muy
importantes han sido las nuevas car reras
de Postitulacin, Licenciatura y Maestrado
en Enseanza de l as Ci enci as. Est os
emprendi mi ent os son evi dent ement e
t r ansf or madores por que super an l os
antiguos formatos del docente polivalente,
formados en los profesorados terciarios y
cont r i buyen a cr ear l os cuadr os
especi al i zados en enseanza de l as
ci enci as. Respect o de l as vi r t udes y
l i mi t aci ones de estas i nst i t uci ones de
Profesorado puede consultarse a Maiztegui
1997. Estas nuevas car reras han recibido
una f uer t e adhesi n de l os docent es,
mostr ando el potenci al exi stente en el
sistema. Los resultados obtenidos, aunque
auspi ci osos, r equi er en an de una
eval uaci n de i mpact o y de cal i dad.
Tampoco escasean l as di fi cultades. Sus
lmites numricos y la escasez de esfuerzos
especficos par a el ni vel pr imar io, p.e.,
muest r an que se requi er en de ot r os
i nst r ument os que per mi t an l a
gener al i zaci n de estos esf uerzos y su
instalacin efectiva en el sistema. Existen
otras propuestas que consideramos pueden
ser muy ti l es como por ej empl o l os
proyectos de Formador de Formadores o
de For madores de Equi pos Docent es,
dest i nados a una capaci t aci n de
especializacin en servicio de docentes ya
formados, con una orientacin fuerte a la
actualizacin didctica y la produccin de
materiales (Furo y Gil 1998).
1 2 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
La realizacin exitosa de numerosos
congresos y encuentros, con la presencia de
destacados investigadores internacionales,
en didctica de las ciencias, psicologa y
sociol oga del conoci mi ento o mater i as
di sci pl i nar es de ci enci as, donde se
presentan comunicaciones sobre trabajos
de innovacin o investigacin, muestran
un inters y una capacidad potencial de
transformacin. En cuanto al impacto de
estas reuni ones en l a for maci n de l os
docentes o en los procesos alicos, ello no
es fcil de evaluar. Como hecho positivo
debe seal ar se l a i nci denci a de l os
congr esos en l a consol i daci n de l a
comuni dad i nvest i gador a a l a que nos
refer amos ant er i or ment e. Un i ndi ci o
negativo puede estar en la disminucin de
la asistencia a estas reuniones de docentes
de aul a secundar i a y pr i mar i a (en l a
Ar gent i na el l o se ha not ado en l as
reuniones de docentes de fsica -APFA- y
tambin en otras reas disciplinares).
Vale la pena mencionar al respecto
que otros congresos, con temar i os ms
abi er tos y que i ncluyen la presencia de
pedagogos, soci l ogos o fi l sof os han
t eni do l t i mamente una convocat or i a
importante entre los docentes; ello puede
estar dando evidencia de la demanda de
di scusiones muy ampli as, que abarquen
todo el problema educativo, en particular
ante el desconcierto que originan la crisis
de la globalizacin o de la posmodernidad.
Tambi n se estn expresando al l otras
necesi dades de for maci n; un docente
debe tener una preparacin y una cultura
general, como para poder orientar a sus
est udi ant es ant e l a di ver si dad de l os
problemas que se l e presentan (l a vi ej a
imagen de la maestra de pueblo, querida y
respetada por la comunidad nos viene a
cuento). Pero sabemos que los congresos
responden a mltipl es requeri mientos y
que los problemas de la enseanza de las
ciencias no se resuelven simplemente desde
lo general. Tampoco sirve eliminar cierta
cal i dad en l as pr esent aci ones de l os
encuentros de enseantes de ci encias a
riesgo de desnaturalizar los propsitos de
estas reuniones. De modo que es necesario
generar ambientes innovadores y creativos
que favorezcan la comuni cacin con l os
profesores que recin se ini ci an en esta
acti vi dad. Est o si n duda es una tarea
compleja y prol ongada que requi ere de
esfuerzos especficos en todos los niveles.
La publ i caci n de revi stas es tambin
un indicador muy fuerte de los avances
alcanzados en estos aos. En la Argentina
en par t i cul ar, se est n publ i cando dos
revistas especializadas y una general en el
rea de enseanza de las ciencias. Tambin
es verdad que hay una carencia, no slo en
la Argentina, de revistas ms ligadas al aula
y de materiales apropiados para los cambios
que se proponen.
4 - La f or mac i n i ni c i al
no es al go obvi o
Un apartado espacial debe destinarse
a la cuestin de la formacin inicial de los
docentes de ciencias. En los ltimos aos
estamos asisti endo en l a Argentina a la
reali zacin de esfuerzos especficos para
modificar las cur rculas de los profesorados
terciar i os de modo de adaptar l os a l as
exigencias del normativa vigente. Entre los
avances ms notorios pueden citarse los
esfuerzos por mejorar el conocimiento de
la disciplina principal (sin abandonar un
conoci miento complementar i o en otr as
afines), la instalacin de laboratori os, la
iniciacin de proyectos innovadores o de
investigacin en enseanza de las ciencias
y la participacin de sus integrantes en las
reuniones especializadas.
Estos cambios estn en la direccin
sealada por la investigacin educativa en
ci enci as, en el sent i do de que el
desconocimiento de la disciplina es una de
l as causas pr i nci pal es que i mpi den l a
transformacin de la enseanza (Tobin y
Espinet 1989, Furi y Gil 1998), ya que, en
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 1 3
esas condiciones, los docentes evitan temas
que no dominan, muestran inseguridad,
refuerzan las concepciones alternativas de
los estudiantes o se aferran al libro de texto
(Mel l ado 1998). El pr obl ema del
desconocimiento de la materia se plantea
aun de manera ms crtica con los docentes
de pri mar ia, donde l a formacin i nici al
recibida ha sido muy escasa o nula en la
rea de las ciencias naturales. Obviamente,
se requiere de propuestas diferenciadas de
f or maci n de acuerdo a l os di st i nt os
niveles (Mellado 1998).
Natural mente, el conoci mi ento del
disciplina debe ser entendido en sentido
amplio, que abarca l o procedimental, lo
espi st emol gi co, l o hi st r i co y l o
axiolgico. Conocer la materia no se reduce
a conocer los hechos, leyes y teoras que
confor man el cuer po de conocimi entos
ci entficos que suel e i mparti r se en una
f acul t ad (Sal i nas 1999). Un buen
conoci mi ent o de l a mat er i a par a un
docente supone tambin, entre otros (Gil
1991):
Conocer los problemas que originaron
l a const r ucci n de di chos
conoci mi ent os y cmo l l egaron a
ar t i cul ar se en cuer pos coherent es,
evi t ando as vi si ones est t i cas y
dogmt i cas que def or man l a
nat ur al eza del conoci mi ent o
cientfico. Se trata, en definitiva, de
conocer la historia de las ciencias, no
sl o como un aspecto bsi co de l a
cul t ur a ci ent f i ca gener al , si no,
primordialmente, como una forma de
asociar los conocimientos cientficos
con los problemas que originaron su
const r ucci n, si n l o cual di chos
conoci mi ent os apar ecen como
construcciones arbitrarias. Se puede
as, adems, conocer cules fueron las
di f i cul t ades, l os obst cul os
epi st emol gi cos que hubo que
superar, lo que constituye una ayuda
imprescindible para comprender las
dificultades de los estudiantes.
Conocer las estrategias empleadas en
la construccin de los conocimientos,
es decir, conocer la forma en que los
ci entfi cos se pl antean y tr atan l os
probl emas, l as car acter st i cas ms
notables de su actividad, los criterios
de val i daci n y acept aci n de l as
teoras cientficas...
Conocer l as i nter acci ones Ci enci a,
Tecnologa y Sociedad asociadas a la
construccin de conoci mientos, si n
i gnor ar el car ct er a menudo
conf l i ct i vo del papel soci al de l as
ciencias y la necesidad de la toma de
decisiones.
Tener al gn conoci mi ent o de l os
desar rollos cientficos recientes y sus
perspectivas, para poder tr ansmitir
una visin dinmica, no cerrada, de
la ciencia.
Adqui r i r conoci mi ent os de ot r as
disciplinas relacionadas, para poder
abordar probl emas puent e , l as
interacciones entre distintos campos
y los procesos de unificacin.
Debemos realizar tambin una crtica
a los model os de for maci n concebidos
como una sumator i a de conoci mi entos
disciplinares y pedaggicos (Mc Dermott
1990) y no vinculados estrechamente a la
real i dad del aul a (Morei r a 1995). Esta
separacin de los contenidos cientficos y
educativos se ha mostrado muy poco eficaz
(Maiztegui et al 2001).
Como seal a McDer mot t, El uso
efectivo de una estr ategi a de enseanza
vi ene a menudo det er mi nada por el
contenido. Si los mtodos de enseanza no
son estudiados en el contexto en el que han
de ser i mpl ement ados, l os prof esores
pueden no saber identificar los aspectos
esenci al es ni adapt ar l as est r at egi as
i nst r ucci onal es -que l es han si do
presentadas en trminos abstractos- a su
materia especfica o a nuevas situaciones .
McDer mott concl uye, en consecuenci a,
1 4 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
con un rechazo de esta suma de formacin
ci ent f i ca y pr epar aci n docent e
i ndependi ent es ent re s. Una cr t i ca
semejante ha sido realizada por numerosos
autores (Pessoa 1988; Villani y Pacca 1992;
Salinas y Cudmani 1994; Viennot 1997...).
Aqu se plantea, entonces, como un
requi si t o i mpresci ndi bl e adqui r i r una
f uer t e f or maci n en una di dct i ca
especfica, como una materia integradora,
en el doble plano de l o discipl inar y lo
pedaggico y de la teora y la prctica. Ms
an, se ha sealado que la transformacin
del conocimiento didctico debe estar en
coher enci a con l os pl ant eos
constr uctivi stas y, por l o tanto, que l os
resul t ados de l a i nvesti gaci n y de l as
propuestas de investigacin educativa en
ciencias deben ser vivenciadas y sentidas
como propias por los docentes antes de que
puedan ser cor rectamente aprovechados y
aplicadas (Furi y Gil 1998). Ms an, en
nuestro medio, distintos trabajos muestran
l a conveni cenci a de i nt egr ar a l os
estudiantes de profesorado a proyectos de
i nvesti gacin educativa o, al menos, de
asomarlos a sus caractersticas (Valeiras et
al 1998, Gonzl ez y Fer r eyr a 2001,
Cudmani 1997, Sanchez et al 1997).
Finalmente, debe destacarse tambin
que la formacin inicial es necesariamente
acotada y que ci er t os probl emas de l a
pr ct i ca ser n reci n adqui r i dos en el
ej erci ci o profesi onal . Si n embargo, hay
muchos aspectos de esta problemtica que
pueden y deben ant i ci par se en est e
perodo: un reconocimiento de las formas
institucionales y educativas habituales y de
los problemas que conllevan, una toma de
cont acto con l os di f erentes actores del
proceso educativo, un primer anlisis del
mismo desde las perspectivas tericas de
l a f or maci n que est n r eci bi endo y,
nat ur al mente, un per odo de pr ct i ca
inicial; es lo que podramos denominar una
i mpregnaci n cr ti ca en el conocimiento de
la realidad.
5 - Est r at egi as par a l a
i nnovac i n educ at i va y l a
f o r ma c i n d o c e n t e
c ont i nua
De acuer do con l os r esul t ados
proporci onados por l a i nvesti gaci n en
t or no a ese i ndi sol ubl e bi nomi o que
const i t uye el cambi o cur r i cul ar y l a
formacin docente continua, la estrategia
que parece potencialmente ms fructfera
consistira en i mpl i car a l os profesores en tareas
de i nvesti gaci n/i nnovaci n par a dar respuesta
a l os probl emas de enseanza y de aprendi zaj e
de l as ci enci as que les plantea su actividad
docente. Esta exigencia est en consonancia
con las nuevas realidades que debe abordar
el docente, las cules estn en permanente
cambi o. Seal ar emos a cont i nuaci n
al gunos aspect os que pueden est ar
influyendo fuertemente en ese proceso.
En l os docent es, como suj et os
inmersos en una sociedad, se entrecruzan
dos niveles de conocimiento: por una parte
los contenidos cientficos y, por otra, sus
concepci ones per sonal es. st as,
consi der adas como verdader as teor as
per sonal es (Cl axt on, 1987), son de
nat ur al eza i mpl ci t a y const i t uyen
autnticas creencias que, como tal es,
t i enen aadi do un val or de ver dad
(Rodrigo et al 1993).
Di chas concepci ones han si do
adquiridas de manera incidental y reiterada
a lo largo de los aos de formacin y de
experi enci a ali ca de l os docentes, son
muchas veces inconscientes, responden a
visiones de sentido comn, guardan cierta
coherencia interna y escapan generalmente
a la crtica (Gil 1994). Son ideas fuertes,
que subyacen a sus argumentos, guan su
discurso, son un factor deter minante en
las prcticas educativas (Liston y Zeichner
1993) y permanecen a pesar de los pautas
prescriptas en los programas de formacin
docente habituales (Albadalejo et al 1993;
Porln, 1994).
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 1 5
En el rea especfica de la Enseanza
de las Ciencias, cabe citar a Bell y Pearson
(1992) cuando afi rman que empi eza a
comprenderse que si se quiere cambiar lo
que los profesores y alumnos hacemos en
las clases de ciencias, es preciso previamente
consi der ar y, eventual mente, modi fi car
algunas visiones de sentido comn que
tenemos l os profesores sobre aspect os
epistemolgicos y sobre la enseanza de la
disciplina .
De hecho, el est udi o de l as
pr econcepci ones docent es se ha
convertido en una lnea de investigacin
pr i or i t ar i a, t ant o en el campo de l a
enseanza de l as ci enci as (Hewson y
Hewson 1987; Porln 1994; Gil et al 1991;
Bell y Pearson 1992; Dsauteles et al 1993;
Guilbert y Meloche 1993; Hodson 1993;
Mellado 1998; Fernndez 2000) como en
el de la educacin en general. Pero aunque
la consideracin funcional de las ideas de
l os docent es const i t uye un r equi si t o
esencial para incorporar a los profesores al
proceso de renovaci n cur r i cul ar (Bel l
1998), no es suf i ci ent e par a l ogr ar l o,
debi do, como ha most r ado l a
i nvest i gaci n, a l a escasa ef ect i v i dad de
transmitir a l os docentes l as propuestas de l os
exper t os par a su apl i caci n . Como ha
indicado Briscoe (1991), es necesario que
los profesores par ti ci pemos en l a constr ucci n
de l os nuevos conoci mientos educati vos,
abordando los problemas que la enseanza
nos plantea.
Como ejemplo citaremos el hecho de
que estas vi si ones de senti do comn
afectan tambin una preconcepcin sobre
la tarea de los enseantes, que es vista a
veces en las instituciones formadoras como
una profesi n de segunda (Mel l ado
1998, Gonzl ez y Fer reyr a 2001). Esto
muestra que el problema nos afecta a todos.
Slo a travs de una reflexin reiterada y
fundamentada podremos superar visiones
socialmente ar raigadas que devalan l a
docencia ( ensear es fcil ). Esto va ms
all de la enseanza de la cienci a y nos
obl i ga a cuesti onar nos en profundi dad
nuestr as propi as vi si ones sobre l o que
si gni fi ca ensear ; sl o a par t i r de al l
podremos recuperar desideratas para una
tarea colectiva.
En segundo l ugar debemos
consi der ar l a cuest i n tan debati da de
como abordar la cuestin de las relaciones
ent r e l a t eor a y l a pr ct i ca, o, ms
especficamente, entre lo que se dice y lo
que se hacer.
Una primer consideracin es que la
formacin inicial parece insuficiente para
consol i dar el cambi o di dct i co o
epi stemolgi co que permita al docente
superar sus preconcepciones o imgenes
simplistas sobre la ciencia y su enseanza;
es en la prctica de aula donde este cambio
debe concr et ar se y eval uar se. Es
preci samente en esa t area de ensear
donde el docent e novat o pondr en
cuestin sus concepciones adquiridas en
l a et apa de f or maci n y adver ti r l as
dificultades reales para llevarlas a cabo.
Es quizs por eso que los profesores
novel es tendrn necesi dades e i ntereses
ms prximos a la adquisicin de destrezas
y habi l i dades par a poder di r i gi r
adecuadamente la clase que aquellos que
ya llevan mayor nmero de aos (Carnicer
1998). Es all donde confrontar con las
prcticas y orientaciones habituales de la
comunidad educativa y con los problemas
ms concretos de su profesi n. Ello nos
obliga a pensar que debiera realizarse un
esfuerzo especial en los primeros aos de
su profesin (Mellado 1998).
Como i nst r umento de anl i si s del
proceso parece til conocer los planes de
actuaci n de l os docentes, escuchar l es.
Esto no slo requiere elementos tcnicos,
abarca una reflexin en profundidad. La
secuencia de sus actividades de clase, p.e.,
es un referente descontaminado, un buen
punto de partida para conocer la prctica
del docente. Uno de l os el ementos que
caracteriza a los docentes novatos es la falta
de control sobre la actividades individuales
1 6 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
o grupales de sus estudiantes (Pro Bueno
1998). Por el contrario, los docentes ms
exper i ment ados dedi can su t i empo a
dirigir el trabajo de sus alumnos (Tobin et
al 1994).
En relacin a la prctica se ha dicho
que existe un conoci mi ento di dcti co estti co o
teor ti co y otro di nmi co que se constr uye en l a
pr cti ca (Mellado 1996). El conocimiento
esttico puede no afectar la prctica, para
que haya un cambio se requiere especificar
respuestas sobre situaci ones y mater i as
concretas. La etapa de iniciacin es decisiva
en ese sentido, la utilizacin de videos, los
estudi os de caso, son i nstr umentos que
pueden colaborar a mejorar las prcticas.
Tambin son importantes las evidencias o
vi venci as exi t osas de act i vi dades de
enseanza transformadas, ya sea dada por
profesores ejemplares o por ellos mismos.
De ese modo se va i nser t ando el
docente en la reflexin de su propia prctica,
l o que l e per mi t e al ej ar se de l os
condicionamientos habituales y puede, en
palabras de Castoriadis, quebr ar l a cl ausur a
en la que necesariamente estamos siempre
capturados como sujetos ... . Por otro lado,
la refl exi n di al gi ca, entendida como una
mediacin entre la toma de conciencia y la
toma de deci si ones, ha si do pl anteada
recientemente como la base de un modelo
de formacin permanente del profesorado
(Copell o et al 2001). Esos modelos nos
acercan al ideal de innovador investigador,
como trnsito superador de los modelos de
proceso-producto y del tecnologicismo. Esto
debe concebi r se, desde l uego, como
aproximacin gradual, partiendo desde la
innovacin, la reflexin y de all en adelante.
En tercer lugar, debemos considerar
ciertos aspectos sociales en estos procesos.
Lo reivindicativo laboral salarial (profesor
ambul ant e, escasos r ecur sos par a l a
innovacin, etc.) no puede desconectarse
del problemas en discusin. Tambin los
aspect os de l a gest i n escol ar, de l o
insti tucional , son temas de una enor me
i mpor tanci a, son l l aves que abren o
cierran. La formacin recibida siempre es
insuficiente en estos aspectos. De modo que
el docente debe preparase para abordar
creativamente las cuestiones institucionales,
sobre todo en aquellas situaciones donde la
comunidad de investigadores es ms dbil.
Pero no ha de creerse que cada docente
puede abordar esta tarea individualmente.
Como tampoco ha de pensarse que que
cada profesor o grupo de profesores tenga
que construir aisladamente, por s mismo,
todos los conocimientos elaborados por la
comunidad cientfica sino de proporcionarle
la ayuda necesaria para que participe en la
reconst r ucci n /apropi aci n de di chos
conocimientos.
Como perspectiva debiera hablarse de
la formacin de una comunidad educativa
de docentes de ciencias (Gramajo et al
2000), o simplemente de una comunidad
educativa actualizada y operante.
Todo esto conect a con uno de l os
aspectos causa de fracaso; la elaboracin
terica del proceso de transformacin de la
for maci n docente en ci enci as aparece
como externa a la comunidad docente.
En ese sentido coinci dimos con quienes
advierten que ninguna reforma tendr xito
si es vista como algo impuesto, externo a la
comuni dad educat i va que debe
desarrollarla: es necesario contar con la
voluntad de cambiar del docente (Ryan
1998). Es pertinente menci onar aqu la
adver tenci a de Van Dr i el et al (2001)
r espect o a que cuando una r ef or ma
educativa se realiza en condiciones ajenas
al conoci mi ent o pr ct i co de l a
comunidad docente, se dificulta en gran
medida su concrecin exitosa. Los autores
seal an que, l o que habi t ual ment e se
denominan las concepciones docentes de
sent i do comn, se const i t uyen en un
verdadero filtro para los programas de
desar rollo profesional asociados a perodos
de reforma.
Exi st en est udi os en l nea con l as
i nsti tuci ones que han mostr ado mucho
potencial y que deben ser explorados en
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 1 7
mayor medi da. En ese sent i do, hay
evi denci as f undament al es de f uer t es
avances en l os equi pos que real i zan l a
f or maci n docent e cont i nua en
condi ci ones donde se ti enen en cuenta
aspectos como real izarse en l os propi os
centros, a largo plazo y disponiendo de
mat er i al es adecuado de sopor t e
fundamentales (Gil Antonio 1998, Jimnez
y Segarra 2001).
Podemos r esumi r, a modo de
concl usi n, l os aspect os a i ncl ui r en
cualquier estrategia de formacin docente
continua (Maiztegui et al 2001):
A) Ser concebida en nti ma conexi n con l a
pr opi a pr ct i ca docen t e, como
tr atami ent o de l os probl emas que
dicha prctica plantea.
B) Favorecer l a vi venci a de propuestas
i nnovador as y l a ref l exi n cr t i ca
expl ci t a, cuest i onando el
pensami ent o y compor t ami ent o
docent e espont neos , es deci r,
cuestionando el carcter natural de
lo que siempre se ha hecho .
C) Apr oxi mar a l os pr of esor es a l a
investigacin e innovacin en torno a
l os probl emas de enseanza y de
aprendizaje de las ciencias y, de este
modo,
D) Faci l i tar su f ami l i ar i zaci n con el
cuerpo de conocimientos especfi co
de Didctica de las Ciencias elaborado
por la comunidad cientfica en este
campo.
Par a concl ui r con este pant al l azo,
diremos que son todos estos factores en su
conjunto los que propician un avance en
la formacin docente continua. No est de
ms insistir en que se trata de una tarea
compl ej a y prol ongada, que requi ere
apoyarse en teoras didcticas slidas si es
que se pr et enden modi f i caci ones
sustanciales. Conviene ahora intentar dar
algunas propuestas que pueden constituir
i ndi cadores de acci n par a mej or ar l a
formacin docente permanente.
6 - Al gunas pr opuest as
posi bl es en l os cont ext os
r eal es
Se requieren, es evidente, mltiples
sistemas de mediacin.
Los ejemplos que aqu se listan deben
ser entendidos como propuestas orientadas
dentro de las concepciones constructivistas
y en l a per spect i va de una nueva
profesionalidad docente, que va ms all
de la racionalidad tcnica o del modelo
de docentes consumi dores (Mel l ado
1998).
De l a sol a enunci aci n de est as
propuestas se advi er te que l as mi smas
pueden combi nar se de muy di ver sas
maner as. La i dea bsi ca con que se las
pr opone es r et omar l a i ni ci at i va en
condi ci ones muy di ver sas. Ms que de
gr andes pr oyect os di f ci l es de
i mpl ement ar, es necesar i o cr ear l as
condiciones ambientales en la comunidad
educativa que promocionen estas actitudes
y la bsqueda de oportunidades. Hay que
apoyar se en l as refor mas cur r icul ares y
apropiarse de sus potencialidades y medios
disponibles. Es necesario dar lugar a que
salgan la luz los imaginarios docentes y sus
desideratas, tambin sus enojos y rechazos,
sl o as se podr apel ar a su energa y
cont r i bui r a const r ui r l os suj et os de
cambio.
Estos son, entonces, algunas de l as
posi bi l i dades abi er t as que debemos
intentar explorar:
Redefinir los formatos de los cursos y
trayectos de capacitacin, de modo de
acercarlos a talleres en las escuelas o a
t r ayect os de mayor dur aci n, que
partan de problemas de la prctica y
donde se garanticen condiciones de
reflexin de los propios docentes,
Pr ogr amas de For mador de
For madores, tendi ent es a gener ar
liderazgos y la formacin de equipos
en las instituciones educativas,
1 8 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
Pr ogr amas de post i t ul aci n,
di pl omat ur a, especi al i zaci n, o
Car rer as de gr ado y posgr ado en
Enseanza de l as Ci enci as, que
tiendan a una actualizacin en saberes
di dct i cos y di sci pl i nares y donde
existan ambientes adecuados para la
investigacin e innovacin educativa
en ciencias,
Buscar apoyos i nsti tuci onal es par a
generar proyectos de innovacin en
l as escuel as, constr ui r l abor ator i os
(ejemplo, proyectos YPF-Antorchas y
EFI del Mi ni st er i o de Cul t ur a y
Educacin en l a Argentina), invi tar
especialistas, participar en Ferias de
Ciencias y Olimpadas, etc.,
Desar r ol l o de mat er i al di dct i co
actualizado, textual, hipertextual, de
baj o costo i nfor mati zado, etc. que
pueda dar apoyo en el aul a l as
propuestas de cambio,
I ncr ement ar l os i nt er cambi os de
experi enci as entre l os docentes, su
participacin en congresos, simposios
y encuentros, diversificando estos para
facilitar su participacin, e incluso la
publicacin de sus producciones,
Realizar investigacin muy aplicada al
aul a, donde se i nt egr en
or gni cament e especi al i st as de
diferentes niveles y trayectorias, p.e.
medi ant e si st emas de t ut or eos y
pr oyect os de i nt er venci n en l as
instituciones educativas,
Pasantas de docentes en centros de
investigacin o intercambio con otras
escuelas,
Generar sistemas de capacitadores o
nudos de asesoramiento en el sistema,
que pueden hacerse a bajo costo como
puede ser el ejemplo del proyecto del
grupo Homo Sapiens en la. Pcia de
Buenos Aires, Argentina,
Generar redes de innovacin escolar,
naci onal es, r egi onal es e
internacionales, para lo cul es posible
apoyar se en l a capaci dad oci osa
i nst al ada, como l os Cent r os
Tecnol gi cos Comuni t ar i os en l a
Argentina,
Ref or zar l a i nt er acci n ent r e
universidades-ministerios-escuelas, es
deci r, r ef or zar t odos l os l azos
i nst i t uci onal es posi bl es par a l a
tr ansfor maci n, buscando especi al
apoyo en l os agent es de gest i n
educati va,
Favorecer proyect os de i nnovaci n
muy ligados a lo tecnolgico, lo que
per mi t e t ambi n r el aci onar con
orientaciones CTS, ambientales o de
salud,
Propi ci ar l os Museos de Ci enci as
interactivos o itinerantes, y, en general
la divul gaci n de las ci enci as en la
sociedad,
Abr i r el debat e en rel aci n a l os
problemas del mundo, cada vez ms
acuci ant es, buscando el mi smo
t i empo respet ar l as per spect i vas
pol t i cas de cada docent e, per o
sealando la gravedad del futuro que
se viene.
7 - Ref er nc i as
ALBALADEJO C, GRAU R, GUASCH E, DE
MANUEL J,. Les actvitats d aprenentage
en les Ciencies Naturals. En Guasch, E., De
Manuel, J. y Grau, R. 1993. La imagen de
la ciencia en los alumnos y profesores. La
i nf l uenci a escol ar y de l os medi os de
comunicacin. Enseanza de l as Ci enci as,
nmero extra, IV Congreso, 77-78, 1993.
ANDERSON RD y MITCHENER CP. Research on
science t eacher educat ion. En GABEL DL
(Ed). Handbook of Research on Sci ence Teachi ng
Educat i on. (Macmillan Pub. Co.: New York),
1994.
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 1 9
BELL B. Teacher devel opment i n sci ence
education. En FRASER BJ y TOBIN K (Eds).
I nt er nat i onal Handbook of Sci ence Educat i on.
(Kluber: Dordrecht), 1998.
BELL BF y PEARSON J. Bet t er l ear ni ng.
I nt er nat i onal Jour nal of Sci ence Educat i on,
14(3), 349- 361, 1992.
BRISCOE C. The dynamic interactions among
bel ief s, r ol e met haphor es and t eachi ng
practices. A case study of teacher change.
Sci en ce Ed u ca t i on , 75(2), 185- 199.
CLAXTON J, 1987. Vi vi r y apr ender.
(Alianza: Madrid), 1991.
CARNICER J. El cambi o di dct i co en el pr of esor ado
de ci enci as medi an t e t ut or as en equ i pos
cooper at i vos. (Tesis doctoral: Universidad de
valencia), 1998.
COPELLO L, I NES M y SANAMART N.
Fundamentos de un modelo de formacin
per manent e del pr of esor ado de ciencias
centrado en la reflexin dialgica sobre las
concepciones prct icas. Enseanza de l as
Ci enci as, 19(2), 269-283, 2001.
CRONIN- JONES LL, Science teaching beliefs
and t hei r i nf l uence on cur r i cul um
implementation: two case studies, Jour nal
of Resear ch i n Sci ence Teachi ng, 38(3), 235-
250, 1991.
CUDMANI L. La i ncor por aci n de l a
i nvest i gaci n educat i va en f si ca a l as
inst it uciones for mador as de pr of esor es.
Grupo de t r abajo N3. Educacin en l a
Fsica: Mirando hacia el futuro. M emor i a VI
Conf er enci a Int er amer i cana sobr e Educaci n en
l a Fsi ca, 351-352, Crdoba, 1997.
CUDMANI L, SALINAS J y PESA M. La
t r ansf er enci a mut ua ent r e aul a e
investigacin educativa: el proyecto InIPEF
(primera y segunda parte). Resmenes del V
Si mposi o de I nvest i gador es en Educaci n en
Fsi ca, Santa Fe, 2000.
DSAUTELS J, LAROCHELLE M, GAGN B y
RUEL F, La for mation lenseignement des
sci ences: l e vi r age pi st mol ogi que,
Di daskal i a, 1, 49-67, 1993.
DUSCHL RA y HAMILTON RJ, (Eds.). Phi l osophy
of Sci en ce, Cogn i t i v es Psy ch ol ogy, a n d
Edu cat i on al Th eor y and Pr act i ce. (St at e
Univer sity of New Yor k Press: Al bany),
1992.
DUSCHL R. Ms all del conocimiento: los
desafos epistemol gicos y sociales de la
enseanza mediante el cambio conceptual.
Enseanza de l as Ci enci as, 13(1), 3-14, 1995.
FERNNDEZ I. Anl i si s de l as concepci ones
docent es sobr e l a act i vi dad ci ent f i ca: Una
pr opuest a de t r ansf or maci n. (Tesis Doctoral.
Departamento de Didctica de las Ciencias
Experimentales: Universidad de Valencia),
2000.
FERREYRA A y GONZLEZ E. Qu puede
apor tar l a universidad a la formacin y
capaci t aci n docent e en el r ea de l as
ciencias? M emor i as del Encuent r o Naci onal de
Pr of esor es de F si ca, 333- 342, Cr doba,
2001.
FRASER B y TOBIN KG, (Eds.). I nt er nat i onal
Handbook of Sci ence Educat i on. (London:
Kluber Academic Publishers), 1998.
FURI C. Tendencias actuales en la for macin
del profesorado en Ciencias. Enseanza de
l as Ci enci as, 12 (2), 188-199, 1994.
FURIO C y GIL PREZ D. Hacia la formulacin
de pr ogr amas ef icaces de l a f or maci n
continuada del profesorado de ciencias. En
SNCHEZ JIMNEZ JM, (Ed). Educaci n
Ci en t f i ca , 129- 146. (Ser vi ci o de
publicaciones de la Universidad de Alcal:
Alcal de Henares), 1998.
GABEL DL, (Ed.). Handbook of Resear ch on Sci ence
Teachi ng and Lear ni ng. (MacMillan Pub Co:
New York), 1994.
GIL A, GONZLEZ AGUADO E, MIYAR C y
ALDABA J. Asesoramiento y for macin del
pr of esor ado de ci encias de bachi l l er at o
LOGSE. Anlisis de una experiencia en el
pas Vasco. Al ambi que, N 15, 29-37, 1998.
GIL PREZ D. Qu han de saber y saber hacer
los profesores de ciencias?, Enseanza de l as
Ci enci as, 9(1), 69-77, 1991.
GIL PREZ D, CARRASCOSA J, FURIO C y
MTNEZ-TORREGROSA J. La enseanza de
l as ci en ci as en l a edu caci n secun dar i a .
(Horsori: Barcelona) , 1991.
2 0 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
GIL PREZ D. Diez aos de investigacin en
didct ica de l as ciencias: r ealizaciones y
perspectivas. Enseanza de l as Ci enci as, 12
(2), 147-153, 1994.
GIL PREZ D, FURI C y GAVIDIA V. El
pr of esor ado y l a r ef or ma educat iva en
Espaa. I nvest i gaci n en l a escuel a, N 36,
49-64, 1998.
GIL PREZ D, CARRASCOSA J, DUMAS CARR
A, FURI C, GALLEGO R, GEN A,
GONZLEZ E et al . Puede habl ar se de
consenso constr uct ivista en la educacin
cientfica? Enseanza de l as Ci enci as, 17(3),
503- 512, 1999.
GONZLEZ E y FERREYRA A. La formacin
docent e en cuest i n. Ref l exi ones
eval uat i vas de al umnos de car r er as de
pr ofesorado. Secci n Comuni caci ones de l a
Revi st a Enseanza de l as Ci enci as, VI Congr eso
Int er naci onal sobr e Invest i gaci n en l a Di dct i ca
de l as Ci enci as: En Ret os de l a Enseanza de
l as Ci enci as en el si gl o XXI , Tomo 1, 435-
436, Barcelona, 2001.
GUILBERT L y MELOCHE D, Lide de science
chez des enseignants en formation: un lien
ent r e l hi st oi r e des sci ences et
lhtrognit des visions, Di daskal i a, 2,
pp 7-30, 1993.
GRAMAJO MC y PACCA J. Buscando nuevos
caminos para el desarrollo profesional de
l os pr of esor es de f sica. V Si mposi o de
I nvest i gador es en Educaci n en Fsi ca (SIEF V),
Santa Fe, 2000.
HODSON D. I n sear ch a meani ngf ul
realtionship: an exploration of some issues
relating to integration in science and science
education. I nt er nat i onal Jour nal of Sci ence
Educat i on, 14(5), 541-562, 1992.
HODSON D. Philosophic stance of secondary
school sci ence t eacher s, cur r i cul um
experiences, and childrens understanding
of sci ence: some pr el i minar y f indi ngs,
I nt er change, 24(1&2), 41-52, 1993.
JIMNEZ E Y SEGARRA MP. La for macin de
formadores de bachillerato en sus propios
centros docentes, Enseanza de l as Ci enci as,
19(1), 163- 170, 2001.
LISTON D y ZEICHNER K. For maci n del
pr of esor ado y con di ci on es soci al es de l a
escol ar i zaci n. (Morata: Madrid), 1993.
MAIZTEGUI A. La f ormacin de docent es.
Publ i caci n de l a Academi a N aci on al de
Ci enci as en Cr doba, 1997.
MAIZTEGUI A, GONZLEZ E, TRICRICO H,
SALINAS J, PESSOA DE CARVALHO A y GIL
PREZ D. La formacin de los profesores de
ciencias en Argentina. Un replanteamiento
necesario. Revi st a de Enseanza de l a Fsi ca,
13(2), 49-62, 2000.
MC DERMOTT L. A perspect ive on t eacher
preparation in physics and other sciences:
The need f or special science cour ses for
t eacher. Amer i can Associ at i on of Phy si cs
Teacher , 58 (8), pp.734-742, 1990.
MELLADO V. Concepciones y prcticas de aula
de prof esor es de ciencias, en f or macin
inicial de primaria y secundaria. Enseanza
de l as Ci enci as, 14(3), 289-302, 1996.
MELLADO V. El estudio de aula en la formacin
cont i nua del pr of esor ado de ci enci as.
Al ambi que, N 15, 39-46, 1998.
MORTI MER E. Concept ual Change or
concept ual pr of i l e change? Sci en ce &
Educat i on, 4, 267-285, 1995.
MOREIRA MA. Cerrando brechas en educacin
en la Fsica. Revi st a de Enseanza de l a Fsi ca,
8(1), 57-65, 1995.
NOVAK J. El const r uct ivismo humano: un
consenso emer gent e. En se an z a de l as
Ci enci as, 6(2), 213-233, 1988.
PERALES J y CAAL P, (Eds.). Di dct i ca de l as
Ci enci as: Teor a y Pr ct i ca de l a Enseanza de
l as Ci enci as. (Alcoy: Marfil), 2000.
PESSOA A. A pesquisa na prtica de ensino, en
Pessoa A (ed). A f or mao do pr of essor e a
pr t i ca de ensi no. (Livraria Pioneira Editora:
So Paulo) , 1988.
PESSOA A, (Ed.). Ter modi nmi ca, um ensi no por
i nvest i gao. (USP-Facultade de Educaao:
Sao Paulo), 1999.
PORLN, R. Las concepciones epistemolgicas
de los profesores: El caso de los estudiantes
de Magisterio. I nvest i gaci n en l a Escuel a, n
22, pp 67-84, 1994.
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 2 1
PORLN R. Pasado, presente y futuro de la
Didctica de las Ciencias. Enseanza de l as
Ci enci as, 16(1), 175-185, 1998.
POZO I. Apr en di ces y M aest r os. (Al ianza:
Madrid), 1996.
POZO I y GMEZ CRESPO MA. Apr ender y
Ensear Ci enci as. (Morata: Madrid), 1998.
PRO BUENO A. El anlisis de las actividades
de enseanza como fundamento para los
pr ogr amas de f or macin de pr of esor es.
Al ambi que, N 15, 15-28, 1998.
RESNIK L. Mathematics and science learning:
a new conceptions. Sci ence, 220, 477-478,
1983.
RODRIGO, M. J.; RODRGUEZ, A. Y MARRERO,
J. Las t eor as i mpl ci t as. Una apr oxi maci n al
con oci mi ent o cot i di an o. (Visor : Madr i d),
1993.
RYAN CH. Tendencias en las nuevas propuestas
cur ricul ar es en ciencias exper iment al es:
hacia una nueva base para la investigacin
y el cambio cur ricular. En Snchez Jimnez
JM, (Ed). Educaci n Ci ent f i ca, 155- 157.
(Servicio de publicaciones de la Universidad
de Alcal: Alcal de Henares), 1998.
SNCHEZ P, MASSA M, LLONCH E,
MARCHISIO S, D AMICO H, YANITELLI M
y CABANELLAS S, La r esol uci n de
pr obl emas como ej e par a i nt egr ar l a
investigacin a la formacin de profesores.
Educaci n en l a Fsi ca: M i r ando haci a el f ut ur o.
M emor i a VI Conf er enci a I nt er amer i cana sobr e
Educaci n en l a Fsi ca, 237-243, Crdoba,
1997.
SNCHEZ JI MNEZ JM. Pr ogr ama de
Formacin de Profesor es de Ciencias. En
Snchez Ji mnez JM, (Ed). For ma ci n
p er m a n en t e d e p r of esor es d e ci en ci a s
exper i ment al es. (Servicio de publicaciones de
l a Uni ver si dad de Al cal : Al cal de
Henares), 1998.
SALINAS J y CUDMANI L. Los desencuentros
entre mtodo y contenido cientfico en la
f or maci n de l os pr of esor es de Fsi ca,
Revi st a de Enseanza de l a Fsi ca, 7(1), 25-
32, 1994.
SALINAS J, Enseamos la fsica como una
ciencia de l a natural eza?, M emor i as de l a
Dci mo Pr i mer a Reuni n Naci onal de Educaci n
en l a Fsi ca, REF XI, Mendoza, 358-365,
1999.
SNCHEZ JI MNEZ JM. For maci n
per manent e de pr ofesores. Pr obl emas y
perspectivas. Al ambi que, N 15, 7-13, 1998.
TOBIN K, TIPPINS DJ y GALLARD AJ. Research
on inst r uct ional st r at egies f or t eaching
Science, en GABEL DL, (Ed.), Handbook of
r esear ch on Sci ence and Lear ni ng, 45- 93.
(Mcmillan PC: New York), 1994.
TOBIN K y ESPINET M. Impedi ment s t o
change: appl icat ion of coaching in high
school science teaching. Jour nal of Resear ch
i n Sci ence Teachi ng, 26(2), 105-120, 1989.
VALEIRAS N y JALIL A, La i nvest igacin
educativa en la formacin de profesores: un
caso en Ci enci as Bi ol gi cas. Con gr eso
I ber oamer i cano de Edu caci n en Ci enci as
Exper i ment al es, La Serena, 1998.
VAN DRIEL JH, BEIJAARD D y VEERLOOP N.
Pr of esional devel opment and r ef or m in
sci ence educat i on: t he r ol of t eacher s
practical knowledge. Jour nal of Resear ch i n
Sci enceTeachi ng, 38 (2), 137-158, 2001.
VIENNOT L. Former en didactique, former sur
l e cont enu? Pr i nci pes d l abor at i on et
lments dvaluation dune formation en
didact ique de l a physique en deuxi me
anne dIUFM, Di daskal i a, Vol 10, 75-96,
1997.
VI LLANI A y PACCA J. Act ual i zao de
Professores de Fsica no Brasil: Por Qu?
Como? Quando? Para Quem?, Act as de
l a Qui nt a Reuni n Lat i no- Amer i cana sobr e
Educaci n en Fsi ca, V RELAEF, Porto Alegre,
Brasil, 75-93, 1992.
Can oas v.4 n. 1 p. 23 - 25 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Palestras
Educ ac i n Mat emt i c a en l a
f or mac i n de maest r os
Fr edy E. Gonzl ez
Los resultados de las evaluaciones que se hacen a los alumnos de las escuelas y liceos
en relacin con su desempeo en Matemtica, frecuentemente son desalentadores. En
general, ellos no logran superar los niveles aprobatorios mnimos. sta es una situacin
demasiado extendida que crea la necesidad de disear opciones cuya implantacin procure
coadyuvar al incremento de la pericia que poseen los estudiantes para la realizacin de
actividades propias de la Matemtica. Para ello, resulta conveniente examinar la situacin
con ms detalle con miras a precisar los factores de mayor incidencia; uno de stos, a
juicio del autor, est relacionado con las concepciones que suscriben los profesores acerca
de lo que es la Matemtica, cmo sta debe ser enseada y cules son las manifestaciones
que ha de exhibir un alumno para dar muestras de que la ha aprendido. Las respuestas
a estas inter rogantes han dado lugar a dos perspectivas en relacin con el proceso de
enseanza y aprendi zaj e de l a Matemti ca. En l a pr i mer a de el l as, denomi nada
tr adi ci onal , la Matemtica es vista como un gran conjunto de expresiones simblicas y
frmulas, cuyo aprendizaje consiste en el re-conocimiento de algoritmos que permitan
transformar unas expresiones simblicas en otras; y, por tanto, el papel del enseante se
limita a presentar esos algoritmos, lograr que los alumnos los retengan; y evaluar la
capacidad de stos para reproducirlos. Se trata de lograr un isomorfismo entre lo visto
en clases, lo evaluado en los exmenes y lo reproducido-devuelto por los alumnos; es
la rutina de teora-ejemplos-ejercicios que se basa en transmitir informacin para que
el estudiante la registre y sea capaz de repetirla; a esto se reduce la enseanza tradicional
de la Matemtica, la cual campea en los espacios acadmicos, es portada en los libros de
texto que se utilizan habitualmente, y se ve legitimada por los profesores quienes la
reproducen en su accionar docente cotidiano. Se trata de una visin reproductivista del
proceso de enseanza y aprendizaje de la Matemtica en la que de sta se tiene una
visin esttica (se la mira como ciencia hecha), el docente es slo un expositor-mostrador-
exhibidor de un producto acabado , el alumno es un consumidor-receptor pasivo
de ese producto, y en el trabajo en el aula impera la cultura del silencio discente bajo el
imperio de la oralidad docente, en un contexto donde la Matemtica se transmite como
dogma.
Fredy E. Gonzlez Professor da Universidad Pedaggica Experimental Libertador Venezuela. fgonzalez@ipmar.upel.edu.ve/ fredygonzalez@hotmail.com
2 4 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
Puede deci r se, ent onces, que l a
enseanza tradicional de la Matemtica se
inserta en el paradigma de la transmisin
pasiva ; en este caso, la dinmica de las
interacciones profesor-alumnos en el aula
de clase se orienta hacia la transmisin de
informacin y conocimientos matemticos
desde el docente -quien los posee- hasta
l os al umnos -ayunos de t al es
conoci mi ent os- qui enes act an como
receptores que, mediante la imitacin de
lo exhibido por el docente y la reiteracin
de lo que ste hace, tratan de reproducir
lo que les fue impartido-dado-transmitido
por el profesor.
La intencionali dad de este enfoque
presupone una i n-competenci a del alumno;
ste, por si mismo, no es capaz de acceder
al conocimi ento, es preci so bri ndr sel o
desde afuera, donde se ubica el docente,
qui en oper a como un pr oveedor de
est mul os: conoci mi ent os que han de
ponerse en la cabeza de los estudiantes;
qui enes han de reacci onar ant e t al es
estmulos mediante una respuesta que es
valorada y, en consecuencia, reforzada o
rechazada por el docente, segn sea o no
i somr f i ca con un pat r n esper ado
previamente establecido.
Si n embargo, poco a poco, se ha
veni do const r uyendo una per spect i va
diferente a la tradicional, la cual suscribe
otra visin acerca de lo que significa saber
matemtica y, consecuencialmente, ofrece
una reconceptualizacin del desempeo en
Matemtica, asumindolo como la pericia
en la ejecucin de los procesos propios del
quehacer mat emt i co, l os cual es se
desar rol l an a parti r de la parti ci pacin
act i va y consci ent e en Tar eas
I ntel ectual mente Exi gent es (Gonzl ez,
1998) que l e per mi t en a l os al umnos
explorar ideas matemticas en ambientes/
ent or nos/cont ext os de enseanza y
aprendi zaj e mat emt i cament e r i cos y
enriquecedores, es decir, que contemplan
una ampl i a var i edad de noci ones
mat emt i cas y, a l a vez, of r ecen l a
posibilidad de ejercitar procesos asociados
con los quehaceres propios de un hacedor
de Matemtica.; este tipo de tares hace
posi bl e que l os al umnos apr endan
Matemtica explorando y evaluando ideas,
elaborando conj etur as, comuni cndose,
razonando; analizando y pensando acerca
de su propio proceso de aprendizaje de la
Matemtica. Desde este punto de vista, son
deseables las proposiciones didcticas para
l a Enseanza y el Apr endi zaj e de l a
Matemti ca que hagan posi bl e que l os
alumnos:
1. Desar rollen una valoracin posi ti va
hacia la Matemtica
2. I ncr ement en r azonabl ement e l a
confianza en su aptitud propia para
desempear tareas especfi cas del
quehacer matemtico
3. Mejoren su capacidad para resolver
problemas matemticos
4. Ampl en su habi l i dad par a
comunicarse matemticamente
5. Alcancen una adecuada pericia en el
desar r ol l o de r azaonami ent os
matemticos.
En este contexto, se ampla el alcance
de lo que significa saber matemtica ; esto
implica, no slo saber manejar algoritmos,
adems reclama: (a) comprensin de las
bases concept ual es mni mas de l a
Matemtica; (b) habilidad para comunicar
ideas matemticas a otros; (c) capacidad
par a r azonar mat emt i cament e, (d)
f ami l i ar i dad con el uso de di ver sar
her ramientas tecnolgicas para aprender
y hacer mat emt i cas. As que, como
al ter nati va al enfoque tr adi ci onal , se
formula otro que plantea que la educacin
matemti ca debe propender a que l os
estudiantes sean competentes para:
1. Dot ar de si gni f i cado a l as i deas
matemticas.
2. Di l uci dar si una i dea es
matemticamente cor recta o no.
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 2 5
3. Razonar matemticamente, Fredy E.
Gonzlez Professor da Universidad
Pedaggica Experimental Libertador
V e n e z u e l a .
f gonzal ez@i pmar. upel . edu. ve/
f r ed ygon zal ez@h ot mai l . com
estableciendo las condiciones bajos las
cuales una afirmacin matemtica es
cor recta.
4. Realizar conjeturas, inventar y resolver
problemas.
5. Establ ecer, con per i cia, conexi ones
entre la Matemtica y los problemas
del acontecer cotidiano.
Para lograr lo anterior, se recomienda
que en el aula se desar rollen actividades
en l as que l os al umnos t engan
oportunidad de fortalecer su autoconcepto
matemtico e incrementar su capacidad
par a hacer mat emt i ca, el abor ar
razonamientos matemticos y comunicar
ideas propias de esta disciplina.
Can oas v.4 n. 1 p. 27- 35 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Palestras
Educ a o Mat emt i c a e
For ma o de Pr of essor es no
Cone Sul
Jos Car l os Pi nt o Lei vas
1 - I nt r odu o
Muitas vezes o matemtico puro ou aplicado tem a preocupao ou objetivo de
estudar a Matemtica pela Matemtica no primeiro caso e a resoluo de um problema,
no segundo caso, que utiliza uma certa teoria matemtica para tal, muito embora a histria
nos mostre que a maioria da teorias matemticas foram descobertas ou criadas para resolver
determinados problemas como foi o caso das geometrias no euclidianas. Para resolver o
Quinto Postulado de Euclides, aquele das paralelas, houve uma linha de matemticos
que tentou prov-lo e outra linha que o tentou negar. Seno vejamos:
ENUNCI ADO ATUAL DO QUI NTO POSTULADO DE EUCLI DES: dada uma
reta r e um ponto A no pertencente a r, por A s pode passar uma nica reta s que seja
paralela a r.
NEGANDO O QUI NTO POSTULADO: dada uma reta r e um ponto A no
pertencente a r, por A no se pode passar nenhuma reta s que seja paralela a r.
Ou nesta outra forma: dada uma reta r e um ponto A no pertencente a r, por A
podem passar infinitas retas.
Na procura de demonstrar cada uma destas verdades que se foi chegando a um
corpo de axiomas, proposies e teoremas, perfeitamente compatveis que originaram
no primeiro caso uma geometria sobre uma esfera ou sobre uma superfcie localmente
i somtr i ca a ela que se chama GEOMETRI A EL PTI CA, ou sobre uma geometri a
localmente isomtrica a pseudo-esfera denominada GEOMETRI A HI PERBLI CA.
Ns matemticos estvamos sempre muito distanciados da rea da educao. Muito
embora estudssemos as teorias da psicologia cognitiva : Piaget e Skinner, a didtica e a
estr utur a e funcionamento da escol a br asi l ei r a, nossa ateno er a sempre par a o
desenvol vi mento do contedo pel o cont edo poi s no concebamos e ai nda no
concebemos perder muito tempo com este papo todo sobre educao.
Jos CarlosPinto Leivas Mestre em Matemtica, Professor da Fundao Universidade Federal de Rio Grande e Diretor da SBEM/RS.
2 8 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
Quant o a est as t eor i as, embor a
estudssemos um pouco de cada uma em
nossa gr aduao e nos chamassem a
ateno que para a Matemtica a que mais
se adaptava era a de Piaget, o que vemos
em realidade at os dias de hoje a teoria
do condi ci onamento de Ski nner. Quem
no est l embr ado da exper i nci a do
ratinho que alimentado diariamente com
um ou dois toques na gaiola? Digo que isto
continua a ser colocado em prtica pois o
que vemos na bi bl iografia e em gr ande
parte de professores e estudantes a pura
reproduo da repetio nos exerccios de
fixao da Matemtica do chavo siga o
model o . Exempl ificando o que di go, o
professor ao apresentar uma equao do
primeiro grau na sexta srie, no diz o que
ela e sim como se resolve. Em seguida
passa muitos exerccios de fixao, todos
mui t os par eci dos, par a t r ei nar o
condicionamento .
Em nossos proj et os pedaggi cos,
planos de curso ou at mesmo em nossas
aul as no tnhamos preocupao maior
com o i ndi vduo que aprende, com o
suporte terico pedaggico a seguir. Nosso
obj eto estava centrado em ns mesmos,
pr of essor es que ensi namos ou
transmitimos o conhecimento como ainda
encontr amos em muitos regi stros e at
mesmo livros.
recente o movimento que passou a
envolver os professores de Matemtica no
estudo e anlise das teorias da educao
como al go que tem si gni fi cado par a o
matemtico.
Neste sentido, uma das mais recentes
teorias que talvez tenha motivado mais o
matemtico depois de Piaget foi a do russo
Lev Semenovich Vygotsky entre as dcadas
de 1920 e 1930 e que vem a cada momento
ocupando mais os educadores.
Est e est udi oso consi der ou que a
mente do homem social e culturalmente
constr uda, conduzi ndo hoj e ao que se
denomina construo do conhecimento,
que no meu entendimento di ferenci a o
processo com que a Mat emt i ca er a
trabalhada, centrado no professor que j
possui o conhecimento.
2 - Educao Mat emt i ca
A nossa educao ou ci nci a
Matemtica, centrada no professor ou no
mat emt i co dono ou apr opr i ado do
conheci ment o, que por benevol nci a
transmite ou passa seu conhecimento
acumulado ao longo de muitos estudos e
em especi al dest i nado a um gr upo
privilegiado de pessoas tidas como os mais
inteligentes , precisa e urge por realizar
profundas mudanas a fim de acompanhar
as exigncias da sociedade em transio e
vida por mudanas, no cabendo mais
destinar a uma minoria a tarefa de fazer
Matemtica.
Assim, a qualidade do ensino precisa
ser questionada, os alunos que no gostam
e no aprendem Matemtica devem ter
uma razo para que isto no acontea e o
prof essor de Matemt i ca comea a se
preocupar que tem um aluno, ser humano
com caractersti cas prpr ias que quer e
deseja aprender. Passa-se pois da fase do
conheci ment o pel o conheci ment o
matemtico para o campo do ensino e da
aprendizagem, onde no mais o polo o
professor e sim o aluno que dever aprender
a aprender, ou sej a, const r ui r o seu
conheci mento.
Nesta busca pel o aprender for am
dadas nfases a:
Psicologia da educao onde se vem
estudando os processos de aprender
e ensinar;
Pesqui sa pedaggi ca dando uma
nfase na pesquisa do professor que
at ua em sal a de aul a e no dos
professores de gabinete;
For mao de concei t os, onde a
aprendi zagem deve ser f ei t a nas
origens e prticas sociais dos alunos;
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 2 9
Preocupao com a contextualizao
do ensino, o que caracteriza hoj e a
rea da Etnomatemtica;
Significao aos conceitos.
Segundo Luci a Moyss (2000)
Vygot sky est pr esent e na Educao
Mat emt i ca e as pesqui sas r ecent es
mostr am que par a se ter um ensi no de
qualidade necessrio:
Contextulizar a Matemtica de modo
que o aluno perceba o significado das
operaes mentais que faz;
Rel acionar significados parti culares
com o sent i do ger al da si t uao
envolvi da;
Avanar na compr eenso dos
algoritmos envolvidos ou a envolver;
Possi bi l i dades de apl i cao dos
algoritmos em situaes prticas.
Assim, podemos pensar em Educao
Matemtica como um processo que envolve
estudantes de Matemtica em dois nveis:
o dito aluno com uma ansiedade de saber
e um professor com o desejo de ensinar.
Nesta dual i dade, i ntercesses entre os
papeis de ambos aparecem:
Ambos desej am r eal i zar
transformaes soci ai s que
melhorem a qualidade de vida das
pessoas;
Ambos desej am aprender a
aprender a fi m de enfrentar os
desafi os que o mundo moderno
evolutivo apresenta.
Um educador matemtico pois um
indivduo que no mais tem a pretenso
de transmitir um conhecimento pronto e
acabado e que tem alunos sua frente para
serem os receptores desta transmisso. Deve
ser o f aci l i t ador do pr ocesso ensi no-
apr endi zagem. Tem de buscar uma
at ual i zao const ant e a f i m de poder
acompanhar o tempo de seus al unos,
integrando-se em seu processo cognitivo,
afetivo e psico-motor.
3 - A f o r ma o d e
pr of essor es
No item anterior falava na questo da
di fi cul dade dos professores de mi nha
gerao em colocar em prtica as teorias
de aprendizagem, a didtica como cincia,
a estrutura do ensino. Esta dificuldade no
pode ser colocada no passado uma vez que
el a cont i nua a acont ecer ent r e os
prof essores que at uam nos Cur sos de
For mao de Pr of essor es de mui t as
universidades. H uma tendncia em se
cont i nuar a t er f ut ur os pr of essor es
cursando Cl culo, Geometr i a Anal tica,
Fsica, dentre outros cursos, juntamente
com est udant es de Engenhar i a e
Arqui t et ur a, por exempl o. Tambm
comum nossos futuros professores estarem
estudando a psicologia ou a didtica em
grupos de diferentes cursos.
Uma questo que de imediato coloco
a questo de um currculo especfico para
a FORMAO DE PROFESSORES DE
MAT EMTI CA, desvi ncul ado do
BACHARELADO DE MATEMTI CA,
bem como desvi ncul ado de OUTROS
CURSOS. I sto eu fao em funo do que
visualizo como primeira quesito que deva
existir ao estruturar um eficiente curso que
a el abor ao do PROJETO
PEDAGGI CO do curso. Na elaborao
de um proj et o pedaggi co o que de
i medi at o deve ser apr esent ado O
OBJETI VO DO CURSO.
Por estas colocaes que no vejo
como poderemos ter Cursos de Formao
de Professores de Matemtica eficientes e
compr omet i dos com a desej ada e
comprometida transformao do ensi no
ou de f or ma mai s abr angent e com a
tr ansfor mao soci al na busca de uma
qualidade de vida melhor para o pas e para
o mundo, se no forem estruturados desta
forma.
3 0 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
As questes matemticas que levantei
com as duas provocaes i ni ci ai s com
certeza s podem ser trabalhadas de forma
eficiente quando estivermos trabalhando
em torno de um objetivo comum e para
isto os cursos devem ser especficos, em
minha opinio, a fim de que os objetivos
na f or mao do pr of i ssi onal sej am
at i ngi dos. Tal vez sej a est a a gr ande
di f i cul dade ou desaf i o que as
universidades brasileiras devam enfrentar.
Mas muito mais do que as universidades,
os professores das uni ver si dades devem
enfrentar tais desafios. De um modo geral,
o professor que atua na Pr -Escol a, no
Ensino Fundamental e no Mdio apresenta
uma mai or di sposi o em r eal i zar
mudanas, esbar rando quase sempre nas
di f i cul dades f i nancei r as pel os bai xos
salrios, pela dificuldade de liberao de
suas atividades para participar de eventos
e pr i nci pal ment e pel a enor me car ga
horria que deve desempenhar para poder
sobreviver.
Embor a haj a mui ta resi stnci a nas
mudanas por par te destes professores,
entendo que a resistncia maior ainda est
no professor universitrio que no deseja
dirigir o carter da disciplina que leciona
para o curso no qual ela est inserida. Por
exemplo, as caractersticas de um curso de
clculo para a engenharia tem e devem ter
caractersticas diferentes de um curso para
a rea da biologia. E o que vemos? Um
mesmo curso, at porque os professores de
t ai s reas especf i cas, por l i mi t aes
pr pr i as, acabam no ut i l i zando a
fer ramenta que nos pedem para ensinar.
Entendo que nos Cursos de Formao
de Professores este prejuzo ainda mais
acentuado, uma vez que o futuro professor
tem o dever de conhecer o contedo, suas
aplicaes, a evoluo dos conceitos e sua
histria.
Como pode isto ser feito se ele estiver
estudando com futuros profissionais com
outros objetivos a atingir. Fica uma colcha
de retalhos e o que acaba acontecendo
de que alguns saem num processo de ao
continuada busca de al ternativas para
melhor desempenharem suas funes.
Tenho a possibilidade de coordenar
um Curso de Graduao em Matemtica-
Formao de Professores, desde 1990, em
regi me acadmi co ser i ado e com uma
grade curricular especfica para o curso,
onde todas as disciplinas tem por objetivo
a formao do professor. Passei por muitas
di f i cul dades com pr of i ssi onai s par a
atuarem no cur so, no apenas na rea
especf i ca. Di f i cul dades i ndo desde o
professor de Fsica, que de um modo geral
no um professor efetivo do quadro, ao
professor da educao e muitos da rea de
Matemtica mesmo. Aps uma dcada de
trabalho creio ter conseguido uma certa
est abi l i dade no processo, i ncl ui ndo a
professor de psicologia, didtica, filosofia,
interessados em trabalhar com o objetivo
da formao do professor de Matemtica.
Alm disso tenho a oportunidade de
t r abal har em ao cont i nuada com
pr of essor es que at uam no ensi no
fundamental e mdio em curso de ps-
graduao e o que me chama a ateno a
vontade que eles tm de rever sua prtica
pedaggi ca, um t ant o quant o
desatualizada, e que est ineficiente para a
continuidade de seu trabalho. So aqueles
abnegados que no se deixam acomodar,
muito embora com alguns anos de exerccio
profissional.
Com est es l t i mos se apr ende a
importncia da renovao na Matemtica,
muito embora, alguns digam que ela no
se modi f i ca. Por i sto, ent endo que os
cur rculos devam apresentar um aspecto
dinmico a fim de poderem acompanhar
as mudanas.
No concebo hoje um cur rculo de
Matemtica que no esteja contemplado
com:
Um proj eto pedaggi co bem
estruturado.
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 3 1
A existncia de um projeto de curso
o alicerce sobre o qual todo o cur rculo vai
se desenvol ver. Nel e dever est ar
expl icitado o objeti vo do curso dando o
perfil do profissional a ser formado, sem o
que no possvel realizar um trabalho com
qualidade.
Um corpo docente comprometido
com o curso.
De nada adianta a elaborao de um
projeto de curso e a definio de um perfil
de prof i ssi onal a ser f or mado se no
houver um compr omet i ment o/
envolvimento dos profissi onais que ir o
desenvol ver t al proj et o. Por i st o, no
acredito em projetos que sejam elaborados
em gabinetes, sem o envolvimento efetivo
daqueles que de fato o levaro a cabo.
Uma forte fundamentao didtico-
pedaggica.
O estudo dos fundamentos filosficos
e sociolgicos da educao so de extrema
i mpor t nci a par a um pr of essor de
Mat emt i ca que desej e est ar
comprometido com as transformaes em
andamento. A hi str ia da Ci nci a e sua
evol uo e no apenas a Hi st r i a da
Matemti ca daro uma vi so ao futuro
professor das condies necessrias que o
estudante dever possuir para construir o
seu conhecimento e auxiliar os seus alunos
a construrem o deles. O estudo da didtica
atual izada, vi ncul ada com os contedos
matemticos, as metodologias e a reflexo
sobre o ensinar e o aprender, ou seja, a
construo do conhecimento no pode ser
fraca dentro de um curso. essencial que
a didtica seja trabalhada por professores
que compr eendam e desenvol vam
pr ocessos mul t i di sci pl i nar es no
desenvolvimento da prtica docente.
A presena da psicologia cognitiva.
O est udo das t eor i as da
apr endi zagem- Pi aget e Vygosky; a
mediao - introduzir na psicologia o fator
hi st r i co-cul t ur al ,i nt er medi ando os
ci enti st as soci ai s dos pensamentos dos
tericos do marxismo; a internalizao -
na interao social e por intermdio do uso
de signos que se d o desenvolvimento das
funes psqui cas super iores; a zona de
desenvolvimento proximal - o importante
compreender a constr uo futur a da
estrutura das leis do desenvolvimento e do
processo de ensi no aprendi zagem; a
formao de conceitos, sendo um extenso
do processo de internalizao, confronta o
desenvol vi ment o dos concei t os
espontneos e os cientficos; significado e
senti do - expressando as rel aes entre
linguagem e pensamento; a criatividade -
que no est ligado a artes e sim confronta
as ati vi dades reproduti va as ativi dades
criativas, segundo Lucia Moyss (2000) so
aspectos do pensamento de Vygotsky que
julgo devam estar presentes na formao
do professor de matemtica.
Uma grande fundamentao dos
contedos matemticos.
Creio no necessitar me reportar ao
tema pois j fizemos uma anlise anterior.
Entendo que o professor de Matemtica
deve conhecer e muito a fundamentao
matemtica, incluindo a todo o processo
de evoluo e aplicao de cada rea do
conhecimento matemtico. Muitos so os
acadmicos que questionam a necessidade
de est udar reas de mat emt i ca mai s
aprofundadas num curso de formao de
professores. Tenho a compreenso de que
todas as reas devam ser estudadas. O que
necessita o professor que trabalhar com
tais reas poder estabelecer a conexo do
tema abordado com aqueles temas com que
o futuro professor ir trabalhar. Exemplos
podem ser dados nas diversas reas, como
o caso da componente de geometr i a
passando da euclidiana, analtica, topologia
e di f erenci al a fi m de poder j usti fi car
3 2 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
relaes com geometrias no euclidianas,
como qual caminho mais curto entre dois
pontos ou ento na componente da anlise
j ust i f i cando a exi st nci a de nmer os
transcendentes ou aplicaes geomtrica
de sr i es geomtr i cas, de fundamental
importncia para o estudante do ensino
fundamental e mdio, dando significado
aos contedos constantes dos cur rcul os
nestes nveis.
Linhas de pesquisa em educao
matemtica.
O professor de Matemtica de hoje
deve ser aquele que um pesquisador de
sua sal a de aul a. Neste senti do se f az
necessrio o desenvolvimento de atividades
que o exercitem para a prtica da pesquisa
de sala de aula e i sto deve acontecer a
par t i r do moment o que comea sua
formao e no apenas no final do curso
ou aps ingressar na atividade profissional.
Atividades de ensino - pesquisa e
extenso.
O cur rculo deve proporci onar uma
formao ao professor que lhe permita no
apenas desempenhar atividades de ensino
e si m que possa t ambm desenvol ver
atividades de pesquisa e acima de tudo as
atividades extensionistas, pois dever atuar
em mei os soci ai s di ver si f i cados,
procurando desenvolver ou envolver-se no
proj eto pedaggi co de sua escol a e da
comunidade em que est inserido. Sugiro
aqui que haja um di namismo na gr ade
cur r i cul ar, que o que ger al ment e
considerado como currculo, de forma que
sej a computada uma carga hor r i a de
ati vidades EXTRA-CURRI CULARES.
4 - Qu a d r o At u a l d o
Ensi no de Mat emt i c a no
Br asi l - PCN
Baixos ndices de desempenho dos
al uno: compr ovado no el evado
nmero de reprovaes em cursos e
concur sos;
El evadas taxas de r eteno
mostr ando que a Matemt i ca atua
como fi l tro soci al , sel ecionando os
al unos que ter o opor tuni dade ou
no de concluir este ciclo, e avanar;
Formao dos professores tanto ao
que se refere formao inicial quanto
continuada, pouco tem contribudo
para qualific-los para o exerccio da
docncia. Por no disporem de outros
r ecur sos par a desenvol ver em as
prticas da sala de aula, os professores
se apoi am em l i vr os di dt i cos,
ul t r apassados e de qual i dade
insatisfatria na maioria das vezes;
Propostas inovadoras implantadas
sem a formao pr ofi ssi onal
qual i fi cada na exi st nci a de
concepes pedaggicas inadequadas
e, ai nda, nas restr i es l i gadas s
condies de trabalho;
Abordagem de concei tos i di as e
mtodos sob a tica da resoluo de
probl emas, quando i ncor porada ao
programa, aparece de forma isolada,
desenvol vi da par al el o a al gum
contedo do programa, feito a partir
de listagem de problemas que exigem
conhecimentos bsico de tcnicas ou
for mas de resol uo memor i zadas
pelos alunos.
O Conhec i ment o Mat emt i c o
Principais caractersticas
aspecto indutivo
aspecto dedutivo
A Matemtica como sistema formal,
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 3 3
logicamente estruturado a partir de um
conj unt o de premi ssas e empregando
regras de raciocnio preestabelecidas, tem
sua fundao na ci vi l i zao grega, no
perodo que vai aproximadamente de 700
a.C. a 300 d.C., atingiu sua maturidade no
sculo XI X, com o surgimento da Teoria
dos Conjuntos e o desenvol vimento da
Lgica Matemtica. O chamado mtodo
axiomtico assume, na Matemtica, sua
expr esso mai s compl et a, e a
demonstrao tem sido a nica forma de
validao, na comunidade cientfica, dos
seus resultados.
A Matemti ca no , apesar di sso,
uma ci nci a pur ament e dedut i va. Na
verdade, a construo do saber matemtico
feita muito freqente de forma indutiva.
A par t i r de casos par t i cul ar es, as
r egul ar i dades so desvendadas e as
hi pteses ger ai s so f or mul adas. Esse
carter experimental da Matemtica ,
em geral, pouco destacado.
Ao longo de sua histria a Matemtica
conviveu sempre com a reflexo de natureza
f i l osf i ca, em suas ver t ent es da
epistemologia e da lgica. As concepes
at uai s i ndi cam que o conheci ment o
mat emt i co r evest e-se de um papel
i mpor t ant e no desenvol vi ment o da
capaci dade de resol ver probl emas, de
formular e testar hipteses, de induzir, de
generalizar, de inferir, de raciocinar dentro
de uma determinada lgica.
Alm disso, com o advento da era da
i nf or mao e da aut omao, e com
rapidez, antes impensada, na realizao dos
clculos numricos ou algbr icos, torna-
se cada vez mai s ampl o o espectro de
probl emas que podem ser abordados e
resol vi dos por mei o do conheci ment o
matemtico.
Ent ende-se hoj e que um saber
matemti co fl exvel , mal evel s i nter -
relaes entre seus vrios conceitos, entre
seus vr i os campos concei tuais, os seus
vrios modos de representao, foi sempre
o motor das inovaes e das superaes dos
obstculos ao seu desenvolvimento, desde
os mais simples at aqueles que significam
verdadeiras bar reiras epistemolgicas no
seu desenvolvimento.
As necessidades atuais de integrao
dos saberes demandam um conhecimento
mat emt i co t ambm per mevel aos
probl emas nos vr i os out ros campos
ci entficos.
Mat emt i c a e Const r u o da
Ci dadani a
Fal ar em f or mao bsi ca par a a
cidadania significa falar da insero das
pessoas no mundo do t r abal ho, das
relaes sociais e da cultura, no mbito da
sociedade brasileira. importante refletir
sobre a colocao que a Matemtica tem a
oferecer com vi stas real i zao de tal
insero.
Uma caracterstica contempornea
que na maioria das profisses, em funo
do uso das t ecnol ogi as, o t empo de
determinados mtodos de produo no
vai alm de cinco a sete anos. I sso faz com
que o profi ssi onal tenha que estar em
cont nuo pr ocesso de f or mao e,
por t ant o, a p r ender a a pr ender
fundamental.
A Mat emt i ca pode dar sua
contribuio ao desenvolver metodologias
que privilegiem a construo de estratgias,
a comprovao e justificativas de resultados,
a ar gument ao, que f avor eam a
criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho
coletivo, a capacidade de tomar decises
individualmente e em grupo, a autonomia
advinda do desenvolvimento da confiana
na pr pr i a capaci dade de conhecer e
enfrentar desafios.
i mpor t ant e sal i ent ar que a
compreenso e a tomada de decises diante
de questes polticas e sociais dependem
da l ei t ur a cr t i ca e i nt er pret aes de
i nf or maes compl exas, mui t as vezes
cont r adi t r i as, que i ncl uem dados
estatsticos, ndices divulgados pelos meios
de comunicao. Ou seja, para exercer a
3 4 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
cidadania necessrio saber calcular,
medi r, raciocinar, argumentar, tratar
informaes estatisticamente, etc.
Um cur r cul o de Matemti ca deve
procurar contr ibuir, de um lado, par a a
valorizao da pl uralidade soci ocultural,
impedi ndo o processo de submisso no
conf ronto com outr as cul tur as; ou, de
outro lado, cr i ar condi es para que o
aluno transcenda um modo de vida restrito
a um determinado espao social e se torne
ativo na transformao de seu ambiente.
Para que isto acontea importante que a
Mat emt i ca desempenhe, no seu
cur r cul o, equi l i br ada e
indissociavelmente, seu papel na formao
de capaci dades i nt el ect uai s, na
estruturao do pensamento, na agilizao
do raciocnio do aluno, na sua aplicao a
problemas, situaes de vida cotidiana e
ati vi dades no mundo do trabal ho e no
apoio a construo de conhecimentos em
outras reas cur riculares.
O Professor e o Saber Matemtico
Par a desempenhar seu papel de
medi ador ent r e o conheci ment o
matemtico e o aluno, o professor precisa
ter uma concepo de Matemtica como
cincia que no trata de verdades infalveis
e imutveis, mas como cincia dinmica,
sempre aberta a incor por ao de novos
conhecimentos.
O Aluno e o Saber Matemtico
As necessi dades cot i di anas fazem
com que os al unos desenvol vam
capacidades de natureza prtica para lidar
com a natureza Matemti ca, o que lhes
permite reconhecer problemas, buscar e
seleci onar i nfor maes, tomar decises.
Quando essa capacidade potencializada
pel a escol a, a aprendi zagem apresenta
melhor resultado.
Apesar dessa evi dnci a, t em-se
buscado, sem sucesso, uma aprendizagem
em Mat emt i ca, pel o cami nho da
r epr oduo de pr ocedi ment os e da
acumulao de informaes; nem mesmo
a explorao de materiais didticos tem
contribudo para uma aprendizagem mais
ef i caz, por ser real i zada em context os
pouco si gni fi cati vos e de for ma mui tas
vezes artificial.
f undament al no subest i mar o
potencial matemtico dos alunos.
A prtica mais freqente no ensino de
Matemtica ao longo do tempo tem sido
aquel a em que o professor apresenta os
cont edos or al ment e, par t i ndo de
defi ni es, exempl os, demonstrao de
propr iedades, seguidos de exercci os de
aprendizagem, fixao e aplicao, e que
pressupe que o al uno apr ende pel a
r epr oduo. Consi der a-se que uma
reproduo cor reta evi dnci a de que
ocor re aprendizagem.
relativamente recente a ateno ao
fato de que o aluno agente da construo
de seu conhecimento .
Na medida em que se redefine o papel
do al uno f r ent e ao saber, pr eci so
r edi mensi onar t ambm o papel do
professor que ensi na Matemti ca. Uma
f acet a do papel do prof essor a de
organizar a aprendizagem, alimentar os
processos de resoluo que surgem, com
vista a atingir os objetivos propostos. Deve
ser um facilitador do processo, no mais
aquele que expe o contedo aos alunos,
mas aquele que fornece as i nfor maes
necessrias, que o aluno no tem condies
de obter sozinho. Deve ser um mediador,
ao promover anal i se das propostas dos
alunos e sua comparao, ao disciplinar as
condies em que cada aluno pode intervir
par a expor sua sol uo, quest i onar,
contestar.
A interao entre alunos desempenha
papel fundamental no desenvol vi mento
das capacidades cognitivas, afetivas e de
insero social. Em geral explora-se mais
o aspecto afetivo dessas interaes e menos
sua pot enci al i dade em t er mos de
construo de conhecimento.
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 3 5
Alguns Caminhos
O recurso resoluo de problemas
O recurso Histria da Matemtica
O r ecur so s Tecnol ogi as
Computacionai s.
5 - Ref er nc i as
ABREU, Mar iza. Or gani z ao da Educao
Naci onal na Const i t ui o e na LDB. Rio Grande
do Sul: Uniju, 1999.
ALVES, Nilda e VILLARDI, Raquel. M l t i pl os
Ol har es da LDB. Rio de Janeir o: Dunya,
Editora,1997.
FERRETI, Cel so J., SILVA JR, Joo dos Reis,
OLIVEIRA, Maria Rita N.S. (orgs.) Tr abal ho,
For mao e Cur r cul o: par a onde vai a escol a?
So Paulo: Xam, 1999.
FREIRE, Paulo. Pedagogi a da aut onomi a: saber es
necessr i os pr t i ca educat i va. 5. ed. So
Paulo: Paz e Ter ra, 1997.
GIMENO SACRISTN, J. O cur r cul o: uma
r ef l exo sobr e a pr t i ca. 3.ed. Porto Alegre:
ArMed, 1998.
GIMENO SACRISTN, J., PREZ GMEZ, A. I.
Compr eender e t r ansf or mar o ensi no. 4.ed.
Porto Alegre: ArtMed, 1998.
MOYSS, Lucia. O desaf i o de saber ensi nar .
2.ed. Campinas-SP: Papir us, 1995.
MOYSS, Lucia. Apl i caes de Vy got sky
educao mat emt i ca. 2.ed. Campinas - SP:
Papir us, 1995.
MOREIRA, Antonio Flavio B. (org.) Cur r cul o:
Quest es At uai s. 4.ed. Campinas-SP: Papirus,
1997.
NVOA, Ant oni o. Os pr of essor es e a su a
f or mao. Lisboa: Dom Quixote, 1995.
PRC. Padr o ref er enci al de cur r cul o. M at emt i ca.
Secretaria da Educao do RS. Porto Alegre:
1998.
PCN. Par met r os cur r i cul ares naci onai s. Secretaria
de Educao Fundamental. MEC/ SEF, 1998.
174P.
VEIGA, Ilma P. Alencastro (org.) Pr oj et o pol t i co-
pedaggi co da escol a: uma const r uo possvel .
2.ed. Campinas-SP: Papir us, 1996.
Can oas v.4 n. 1 p. 37- 42 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Grupos de Discusso
For ma o de Pr of essor es de
Mat emt i c a
Hel ena Nor onha Cur y
Al aydes Sant Anna Bi anchi
Cr men Regi na Jar di m de Azambuj a
M ar i l ene Jaci nt ho M l l er
M ni ca Ber t oni dos Sant os
1 - I nt r odu o
A f or mao de pr of essor es de
Matemtica um tema que vem sendo
di scut i do por todas as I nst i t ui es de
Ensino Superior que oferecem cursos de
Li cenci at ur a em Mat emt i ca,
especialmente face s mudanas que vm
sendo desencadeadas a par t i r das
propostas das novas diretrizes cur riculares.
Para promover debates entre professores de
todos os nveis de ensi no representados
neste evento, especialmente os docentes de
nvel super i or, sobr e quem r ecai a
responsabi l i dade pel as ref or mul aes
cur riculares, elencamos alguns pontos que
podem iniciar a troca de idias:
2 - Excessiva valorizao
dos cont edos mat emt icos,
associada a uma concepo
absolut ist a dessa discipli na
Os cur sos de Mat emt i ca,
dependendo da poca em que f or am
criados, apresentavam estruturas diversas,
mas ainda hoje, para aqueles que no se
adaptar am s novas di retr i zes, o mai s
comum haver di sci pl i nas l i gadas
educao somente nos ltimos semestres.
A excessiva valorizao dos contedos de
Matemtica ligada idia de que esta a
r ai nha das ci nci as. Todo o mi t o da
Helena Noronha Cury Professora da Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul.
AlaydesSantAnna Bianchi Professor da Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul.
Crmen Regina Jardim de Azambuja Professora da Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul.
Marilene Jacinto Mller Professora do Departamento de Matemtica da Universidade Luterana do Brasi l e Professora da Pontifcia Universidade
Catlica do Rio Grande do Sul.
Mnica Bertoni dos Santos Professora da Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul.
3 8 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
Matemti ca como matr i a di fci l, como
domnio do conhecimento absoluto, todas
as f r ases que so at hoj e ci tadas nos
acrsticos de monografias, dissertaes e
teses, louvando a Matemtica, formam um
conjunto de idias que vm influenciando
os professores, formadores de professores.
Acreditamos que os docentes formam
idias sobre a natureza da Matemtica a
partir das experincias que tiveram como
alunos e professores, do conhecimento que
construram, das opinies de seus mestres,
ou seja, das influncias scio-culturais que
sofreram durante suas vidas, influncias
essas que se vm formando ao longo dos
sculos, passando de gerao a gerao, a
partir das idias de filsofos que refletiram
sobre a Matemtica. A essas idias somam-
se opi ni es sobr e o ensi no e a
aprendi zagem da Mat emt i ca, sobre o
papel dos professores, sobre o aluno como
aprendiz, idias essas nem sempre bem
justificadas. (Cury, 1994).
A prtica vai influenciar as concepes
em uma realimentao constante, a ponto
de o professor, em certo momento, no
mais identificar o que so crenas prvias
e o que se formou a partir de sua prtica,
pois h vrias idias se amalgamando.
Ent r e os est er et i pos que
encont r amos em i nvest i gaes sobr e
opinies dos docentes ou mesmo a partir
de conversas informais, podemos citar:
o professor tem que saber tudo;
o professor sempre tem razo, sua
maneira de resolver um problema
sempre a mais perfeita;
os conheci ment os sobr e ensi no-
aprendizagem so inerentes ao bom
prof essor, por t ant o no preci so
discutir sobre isso, o importante so
os conhecimentos matemticos;
os gr aus fi nai s em uma di sci pl i na
mat emt i ca devem se di st r i bui r
segundo uma curva normal e s ser
r espei t ado o pr of essor que f i zer
provas difceis.
Essas idias esto to arraigados no
imaginrio dos professores de Matemtica
que sofremos presso dos alunos para agir
conforme esse modelo. Assim, acreditamos
que um dos pontos a discutir, em cursos
de f or mao de pr of essor es, so as
concepes sobre a Matemtica, seu ensino
e aprendizagem.
3 - Di s t a n c i a me n t o
ent r e as r eas espec f i c a
e p e d a g g i c a e a
compar t i ment al i zao do
c onhec i ment o
Atualmente, muito importante saber
qual o panorama dos cursos de licenciatura
em Matemti ca, especi al mente porque
vr i as I ES est o fazendo mudanas de
cur rculo e tero que se adaptar resoluo
do Conselho Nacional de Educao, de 08
de mai o de 2001 (Br asi l , 2001), ai nda
pouco di scuti da. Assi m, i nteressante
buscar respostas a perguntas tais como:
qual a estrutura curricular dos cursos?
H disciplinas que faam as pontes entre
contedos matemticos e pedaggicos? H
l i gao entre uma di sci pl i na pur a e a
cor respondente metodologia do ensino,
nos di f erent es nvei s de ensi no? So
discutidos os problemas de aprendizagem
de uma disciplina de Matemtica pura na
pr pr i a di sci pl i na? E as pontes ent re
di sci pl i nas di ver sas, sej am pur as ou
apl i cadas? E as outr as di sci pl i nas, por
exemplo, Sociologia, Filosofia ou qualquer
outra de reas distintas, como se relacionam
com as de Matemtica?
Sabemos que, em cur sos de
graduao, disciplinas de cunho social e
humanstico muitas vezes so apresentadas
de f or ma t er i ca, sem que os al unos
t enham opor t uni dade de vi venci ar os
concei t os e debat -l os l uz de suas
experincias. Uma maneira de formar um
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 3 9
pr of essor cr t i co e consci ent e dos
problemas sociais que vai enfrentar na sua
prtica desenvolver, desde a graduao,
atividades de extenso atravs das quais os
alunos trabalhem em prol da melhoria das
condi es soci ai s da comuni dade. Um
exempl o o proj et o desenvol vi do no
Campus Aproximado da PUCRS, na Vila
Nossa Senhora de Ftima, em que alunos
bol si st as do cur so de Matemt i ca so
responsveis pelas aulas dessa disciplina
nos cur sos prof i ssi onal i zant es e pel a
real i zao de ofi ci nas par a as cr i anas
carentes (Santos, 2001).
Out r o f at or que causa al guns
problemas em um curso de formao de
professores o desconhecimento, por parte
dos docent es das di sci pl i nas di t as
pedaggicas (psicologia da aprendizagem
ou didtica, por exemplo), dos problemas
especficos da aprendizagem de contedos
matemticos em nvel superior, reduzindo
seu trabalho aprendizagem nas sri es
i ni ci ai s, aos nvei s de desenvol vi mento
cogni t i vo, s t eor i as, mas nunca
examinando uma situao real de ensino
superior. Com certeza importante discutir
a teoria, mas os futuros licenciados que se
titularem e forem lecionar em cursos de
formao de professores no tero debatido
os problemas especficos do terceiro grau.
4 - Ne c e s s i d a d e d e
p e s q u i s a s e a p o i o a o
pr of essor em ex er c c i o,
at r avs de pr ogr amas de
educ a o c ont i nuada
A pr pria especifi cidade dos cursos
de licenciatura exige uma escolha criteriosa
dos docentes que l vo trabal har, poi s
aqueles que tm apenas bacharelado, com
mestrado ou doutorado em Matemtica,
no t endo nenhuma exper i nci a de
docncia no ensino fundamental ou mdio,
t er o apenas os model os de seus
professores para seguir e esses, at pela
prpria escolha feita (mestres ou doutores
em mat emt i ca pur a ou apl i cada),
val or i zam, pr ovavel ment e, apenas o
conhecimento matemtico.
Alm disso, pela prpria formao que
tiveram, esses professores consideram que
o i mpor t ant e ensi nar Matemti ca,
repassar contedos com a preocupao
com os cronogramas e programas a serem
cumpr i dos. Assi m, no j ul gam possvel
partir do que esto desenvolvendo em suas
pesquisas.
Dessa forma, quando pensamos na
f or mao do pr of essor de ensi no
f undamental ou mdi o, i mpor t ant e
desenvol ver a ati tude de pesqui sa nos
futuros docentes, levando-os a investigar
suas prprias prticas e refletir sobre elas.
Acredi t ando no prof essor pesqui sador,
est amos, na PUCRS, desenvol vendo
projetos que permitem aos l icenci andos
vivenciar a realidade das salas de aula.
A proposta de trabalho conjunto entre
a Uni ver si dade e as escol as de ensi no
bsico est fundamentada na necessidade
de atuali zar e qual i fi car a formao de
pr of essor es, t ant o a i ni ci al como a
continuada. O projeto desenvolvido pela
Facul dade de Mat emt i ca, com a
par t i ci pao de bol si st as de I ni ci ao
Cientfica, tem em vista preencher lacunas
na const r uo do conheci ment o
matemtico dos alunos do ensino bsico,
oferecendo-lhes novas oportunidades de
aprendi zagem. Tambm possi bi l i ta ao
licenciando a compreenso de mltiplas
f acet as do pr ocesso de ensi no-
aprendizagem e a aquisio de habilidades
para sua futura vida profissional. A anlise
do trabalho desenvolvido pelos bolsistas,
bem como a importncia do mesmo para
a escola que os acolhe objeto de projeto
desenvol vi do no Col gi o Mar i a
Auxiliadora, de Canoas, RS, orientado por
Bianchi e Mller (2001).
Quanto formao continuada, outro
trabalho em prol da melhoria do ensino de
4 0 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
Matemtica no ensino bsico so as oficinas
pedaggicas. Na PUCRS, essas oficinas so
of er eci das a pr of essor es do ensi no
fundamental e mdio, das redes pblica e
pr i vada, e f azem par t e de um proj eto
desenvol vi do desde 1985, a par t i r de
convnio CAPES/PADCT/SPEC. Em 1988,
com a i nt egr ao da PUCRS r ede
ACOMECI M (Ao Conj unt a par a a
Mel hor i a do Ensi no de Ci nci as e
Matemtica), as oficinas passaram a contar,
tambm, com professores ligados ao Museu
de Cincia e Tecnologia. Nas atividades
nelas desenvolvidas, os participantes tm
a oportunidade de expor seus problemas,
discutir suas dvidas e trocar experincias,
mani pul ando mat er i ai s concr et os e
const r ui ndo o conheci ment o em um
trabalho de pesquisa em sala de aula.
Um dado importante da experincia
com as oficinas e que pode ser levado em
consi der ao nas di scusses sobr e a
formao do professor de Matemtica
inicial ou continuada a possibilidade de
trabalhar em equipe, com professores de
ensino fundamental ou mdio, pedagogos,
psiclogos, mestrandos e doutorandos em
educao ou psi col ogi a, al unos de
licenciatura em Matemtica ou Cincias.
As at i vi dades desenvol vi das,
fundamentadas na ao e na pesqui sa,
cont r i buem par a a f or mao dos
professores e so levadas s instituies de
or i gem dos mesmos, ger ando novos
engajamentos e experincias.
Para identificar as contribuies das
ofi cinas pedaggi cas de Matemtica da
PUCRS para a melhoria da prtica docente
dos professores, foi realizada uma pesquisa,
relatada em uma dissertao de mestrado
(Azambuja, 1999), cujos dados, obtidos a
partir de entrevistas, foram submetidos
anl i se de contedo. Os resul t ados da
i nvest i gao i ndi cam uma ef et i va
cont r i bui o das of i ci nas pr t i ca
pedaggica dos professores pela ampliao
do conheci ment o di sci pl i nar, do
conhecimento pedaggico dos contedos,
do conheci ment o pr t i co, al m da
oportunidade de reflexo conjunta sobre
tal prtica. Mostram ainda a importncia
da f or mao cont i nuada par a o
desenvol vi ment o pr of i ssi onal dos
professores em exerccio, responsveis por
qual quer mudana que se pretenda no
ensi no.
Tambm importante, para a criao
de ambientes de aprendizagem tais como
o das of i ci nas, que as aes sej am
desencadeadas em l abor at r i os de
matemtica, pela possibilidade de conhecer
todos os materiais disponveis, no s os
manipulativos, mas tambm textos, vdeos
e outros recursos colocados disposio
dos par ti ci pantes. Al unos de cur sos de
gr aduao em Mat emt i ca podem
trabalhar como monitores ou bolsistas em
tais laboratrios, em atividades de prtica
de ensi no comput adas nas 300 hor as
exigidas pela LDB e tambm apontadas nas
diretrizes cur riculares para os cursos de
formao de professores (Brasil, 2001).
5 - Us o d a s n ov a s
t ecnol ogi as educaci onai s
Par ece-nos que h uma cer t a
dificuldade no uso dos computadores, por
parte daqueles professores que valorizam
demai s a demonstr ao como sendo a
verdadeira Matemtica. Muitas vezes esses
docent es acr edi t am que o r ecur so
informtica vai fazer com que os alunos
apenas digitem comandos. No entanto,
possvel utilizar os microcomputadores de
uma f or ma cr i at i va, expl or ando as
deficincias dos software e solicitando aos
alunos que criem suas prprias solues.
Talvez este seja o maior problema para o
professor que se acostumou com aul as
absolutamente planejadas e apresentadas
em uma seqnci a r gi da: em sal as de
laboratri o de informtica, impossvel
esperar que todos os exemplos funcionem,
que os computadores no tenham panes,
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 4 1
que as respostas dos alunos sejam sempre
previsveis.
6 - Fal t a de opor t uni dade
de debat er t emas l i gados
s Ci nci as Humanas, em
geral
At ual ment e, com as exi gnci as de
ti tul ao par a os docentes, fei tas pel as
di rees das I ES, especi al mente por
presso da avaliao dos cursos pelo MEC
que pontua melhor os professores titulados
na r ea espec f i ca, os docent es das
licenciaturas no so muito estimulados a
fazer mestrado ou doutorado em educao
matemtica. Se o ps-graduado no teve
opor t uni dade de debat er assunt os
relaci onados com o processo de ensino-
aprendi zagem ou no tem interesse em
discutir temas voltados para a educao,
ent o el e se acomoda numa pr t i ca
tradicional e a universidade, em geral, no
se pergunta se foi adequada a escol ha
daquele profissional para aquele curso.
Mui t as vezes os pr of essor es
necessitam discutir questes que exigem
conhecimentos de outras reas, como o
caso da el abor ao de um pr oj et o
pedaggi co. Mas a falta de l ei tur as em
cincias humanas (englobando sociologia,
fi l osofi a, hi str i a, pol ti ca, educao)
grande e h certas posturas rgidas que
tornam di fci l o estabeleci mento de um
trabalho sistemtico.
7 - Av a l i a o da
aprendi zagem
Sabemos que, de uma maneira geral,
a aval i ao em matemti ca fei ta por
provas, i ndi vi duai s, em que se aval ia o
produto e no o processo. Essa questo,
no entanto, a mais delicada de abordar,
por que par ece que t odos os out r os
probl emas anter i ores aqui ci tados, bem
como todas as concepes e crenas sobre
Matemtica, seu ensino e aprendi zagem
entram juntas na questo da avaliao.
uma preocupao, por tanto, o ti po de
avaliao que empregado em disciplinas
dos cursos de formao de professores de
Matemtica, especialmente pelo fato de
que o modelo rgido, que no leva em conta
os er r os como f er r ament as par a a
apr endi zagem, sej a copi ado pel os
licenciandos, reproduzindo, em um crculo
vicioso cruel, a idia de que avaliar julgar,
condenar, punir (Cury, 2001, p.24).
A partir dos itens acima apontados e
das consideraes feitas, acreditamos que
poderamos, em cada curso de formao
de pr of essor es, cr i ar um gr upo de
discusso para aprofundar esses temas ou
out ros cor rel at os, de f or ma que cada
elemento do grupo possa apresentar suas
dvidas, relatar suas experincias, receber
as crticas e reformular sua prtica, em uma
construo social do fazer pedaggico.
Ref er nc i as
AZAMBUJA, Crmen R. J. Of i ci nas pedaggi cas
de mat emt i ca da PUCRS: cont r i bui es
pr t i ca de pr of essor es de mat emt i ca do ensi no
f undament al e mdi o. 1999. Di sser t ao
(Mestr ado em Educao) Facul dade de
Educao, Pontifcia Universidade Catlica
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
BRASIL. Minist r io da Educao. Consel ho
Nacional de Educao. Di r et r i zes Cur r i cul ar es
Naci onai s par a a For mao de Pr of essor es da
Educao Bsi ca, em nvel super i or, cur so de
l i cenci at ur a, de gr aduao pl ena. Braslia, DF,
08 de maio de 2001.
BIANCHI, Alaydes S.; MLLER, Marilene J.
Def i ci nci as de apr endi zagem em mat emt i ca:
uma realidade preocupante. Porto Alegre:
PUCRS, 2001. Projeto de pesquisa.
CURY, Hel ena Nor onha. As con cepes de
mat emt i ca dos pr of essor es e suas f or mas de
aval i ar os er r os dos al un os. 1994. Tese
4 2 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
(Doutorado em Educao) - Faculdade de
Educao, Uni ver sidade Feder al do Ri o
Grande do Sul, Porto Alegre.
CURY, Hel ena Nor onha. A f or mao dos
formadores de professores de matemtica:
quem somos, o que f azemos, o que
poderemos fazer? In: _____. (org.) For mao
de pr of essor es de mat emt i ca: uma v i so
mul t i f acet ada. Por t o Al egre: EDIPUCRS,
2001. pp. 11-28.
SANTOS, Mni ca B. dos. . Por t o Al egr e:
PUCRS, 2001. Projeto de pesquisa.
Can oas v.4 n. 1 p. 43- 46 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Grupos de Discusso
O Ensi no At ual de Geomet r i a:
Conc ep es e Tendnc i as
Jos Car l os Pi nt o Lei vas
1 - I nt r odu o
Segundo um ar t i go de Zal mar
Usiskin publicado no livro Aprendendo e
Ensi nando Geometr i a, pgina 35, h dois
problemas principai s hoje no ensino de
geometria no ensino mdio e fundamental,
que so: o fraco desempenho dos alunos
e o currculo ultrapassado. Como estas
questes analisadas nos EEUU me parecem
que so as mesmas em todos os lugares,
vou fazer algumas consideraes a respeito,
col ocar o que vej o como ensi no de
geometria atualizado e abrir a discusso
com o grupo.
Para comear eu questiono a questo
de se col ocar o f r acasso no f r aco
desempenho dos al unos. Par a mi m, a
questo maior, em se falando de fracasso,
dever i a ser cent r al i zada no f r aco
desempenho do professor, e ao colocar
desta forma estou incluindo a questo do
ensi no de geomet r i a no ensi no
universitrio, muito mais acentuado do que
no ensino fundamental e mdi o. Neste
sentido, no coloco a questo apenas nos
cur sos de for mao de professores mas
t ambm nos vr i os cur sos de ci nci as
exatas.
O conhecimento de geometria de um
est udant e que concl ui o ensi no
fundamental de um modo geral ir regular
e l i mi t ado. Por sua vez o pr of essor
desconhece, muitas e na maioria das vezes,
cont edos e tcni cas que l he per mi t a
proporci onar aos al unos redescobr i r os
conceitos geomtricos.
Como exemplo vou citar a questo de
razo e proporo, normalmente, estudada
na 6
a
sr i e, de f or ma quase que
exclusivamente aritmtica (quase, pois
apar ecem al guns exer cci os de
descobrir o x desconhecido...). Ao chegar
8
a
srie, o Teorema de Tales estudado e
tambm, no querendo generali zar, so
feitos exerccios de aplicao. Na verdade,
so exerccios de memorizao do teorema.
Quando se fala na li gao entre os dois
Jos CarlosPinto Leivas Mestre em Matemtica e Professor da Fundao Universidade Federal de Rio Grande.
4 4 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
temas, na verdade um s, a gent e se
entreolha e se questiona o porque dos
assuntos serem estudados de forma to
afastada e sem haver a devida cor relao.
Noto tambm que pouqussimos so os que
apl i cam o t eor ema par a r epr esent ar
geometri camente um r acional qual quer
sobre a reta.
Mas i st o nos conduz segunda
questo, que a do currculo. Em termos
de ensino fundamental, at certo ponto,
h uma or gani zao cur r i cul ar do
contedo de lgebra a ser desenvolvido e
na sobr a de tempo, ger al ment e mui to
escassa e quase sempre ao final da oitava
srie, se v o que se consegue fazer para
desenvolver geometria, pois a lembrado
que este um tema que cobr ado em
concursos, principalmente para os cursos
tcnicos do ensino mdio.
No ensino mdio a coisa no muda
muito. Em algum momento so estudados
os sl i dos geomtr i cos atr avs de suas
formulas para clculos de reas e volumes,
lembrando que isto cai no vestibular .
Quando o est udant e chega
Universidade, ou foge da rea de exatas,
ou enfrenta cursos de Engenharias ou de
Matemtica, dentre outros. Geral mente,
nestes ltimos comea a cursar Clculo e
Geometria Analtica desvinculados, sendo
que a nfase na Geometria Analtica na
quest o al gbr i ca e mui t o pouco na
geomtrica. I sto mui to percebi do por
quem ensina geometria diferencial ao final
de um Curso de Matemtica. No curso de
Geometria Analtica exercita-se bastante o
clculo de ngulos entre vetores. Porque
no se cal cul am ngul os ent r e
ci rcunfernci as mxi mas or togonai s de
uma esfer a, por exempl o, mostr ando a
existncia de tringulos em que a soma dos
ngulos internos no necessita dar 180
0
?
Qual noo de outr as geometr i as,
alm da euclidiana, informamos existir aos
nossos alunos?
Nos cur sos de f or mao de
professores pouca preocupao parece
existir na organizao seqencial de uma
componente curricular para a geometria,
envol vendo CONTEDO e
METODOLOGI A. Se assi m no o
fizermos como modificaremos aquilo que
const i t ui um f r acasso par a nossos
estudantes a GEOMETRI A?
No artigo citado no incio h quatro
dimenses principais da Geometria:
A Geomet r i a como vi sual i zao,
construo e medida de figuras;
A Geometria como estudo do mundo
real, fsico;
A Geomet r i a como vecul o par a
r epr esent ar out r os concei t os
matemticos;
A Geometria como um exemplo de
um sistema matemtico.
Nos par met r os r ef er enci ai s de
cur r cul o (PRC) par a o RS, o ensi no
fundamental fica estruturado da seguinte
forma:
Pensamento Aritmtico;
Pensamento Algbr ico - Geomtrico
e
Pensament o Est at st i co -
Pr obabi l st i co, dando uma nova
ordem no fazer matemtico.
Me par ece uma quest o mui t o
relevante tratar as questes algbricas e as
questes geomtricas juntas, inclusive as
ari tmti cas podem j surgir conectadas
com as geomtr i cas, como o caso da
t abuada. Est a quest o de t r at ar os
pensament os al gbr i cos e geomtr i cos
j untos me parece mui to rel evante par a
resgatar uma perda grande registrada pela
histria, a saber, a lgebra desenvolvida
para resolver os problemas geomtricos. O
que foi visto at o incio desta dcada foi
uma inverso total deste aspecto histrico.
Fel i zment e, h um nmero gr ande de
pessoas no Brasil e no mundo refletindo
sobre isto, e creio j estarmos revertendo a
situao.
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 4 5
2 - O ensi no de Geomet ri a
at ual i zado
Penso que no mundo dinmico em
que nos encont r amos, no podemos
cont i nuar ensi nando excl usi vament e
geometria euclidiana, descontextualizada,
em formas de entes primitivos, axiomas,
teoremas.
Devemos di scut i r sobr e al gumas
questes que devem convergi r par a o
ensino da geometria, como as expressas
abaixo.
Novas teorias como a de van Hiele;
Constr uti vi smo
Geometr i a de Movi ment os ou das
Transformaes
Manipulao de objetos
Problematizao
Geomet r i as No-Eucl i di anas e
Geometrias Finitas
Material Concreto
Novas tecnol ogi as computaci onai s
como o Cabri-Gomtre, o MatLab, o
Maple, o Geometricks, a calculadora
grfica, dentre outros.
Nas mudanas que se obser vam
at ual ment e no ensi no de Geomet r i a
atualmente, acredito que a tendncia do
fazer Geometria passa em primeiro lugar
pel o no for mal i smo da Geometr i a no
ensi no f undament al e mdi o, sendo
desejado que um estudante ao final destes
nveis compreenda a Geometria de forma
mais intuitiva e representativa, saiba fazer
clculos e interpretar as figuras planas e
espaci ai s, estabel ea rel aes e el abore
concl uses.
H uma t endnci a do no f azer
Geometr ia i soladamente, como algumas
escol as o f azem hoj e, t endo aul as de
Geometria e aulas de Matemtica, o que
exemplifica a m colocao nos diversos
cur rculos existentes. desejvel que ela
seja utilizada ou desenvolvida durante toda
a escol ar i dade, gr adat i vament e, em
conj unt o com os demai s cont edos,
dando-lhe significado e importncia.
As t ecnol ogi as comput aci onai s
r epr esent am o gr ande avano na
apr endi zagem geomt r i ca e por i st o
mesmo no pode deixar de ser levada em
considerao nos cursos de formao de
pr of essor es, i ndependent ement e da
discusso do acesso ao computador ainda
ser privilgio de minorias.
3 - Ref er nc i as
BARBOSA, Joo Lucas Mar ques. Geomet r i a
eucl i di ana pl ana. RJ: PAX.1985.
BARR, Stephen. Exper i ment s i n t ol pol ogy. USA:
Editora U.S.A .1989.
BASSANEZI, Rodnei Car l os e Biembengut ,
Mar i a Sal et t . M od el a gem n a
mat emagi cal ndi a. Blumenau, SC: Editora
da Univer sidade Regional de Blumenau.
1992.
BIEMBENGUT,Maria Salett e outros. Or nament os
e cr i at i vi dade: uma al t er nat i va par a ensi nar
geomet r i a pl ana. Bl umenau: Edi t or a da
FURB. 1996.
BOLD, Benjamin. Famous pr obl ems of geomet r y
and how t o sol ve t hem. NewYork-USA. Dover
Publ icat ions.1982.
CARVALHO, Paulo Cezar Pinto. I nt r oduo
Geomet r i a Espaci al . RJ: IMPA. 1993.
CATUNDA, Omar e outros. As t r ansf or maes
geomt r i cas e o ensi no da geomet r i a. Salvador:
Editora da Universidade Federal da Bahia.
1990.
CHAR, Br uce W. e . outros. M apl e v - l anguage
r ef er ence M anual . E.U.A: Edit ora Ver lag.
1991.
DESCARTES, Ren. The geomet r y of . NewYork-
USA: Dover publications.1954
DOWS, Moise. Tr ansf or mat i on geomet r y. SP:
Editora Edgard Blucher. 1974.
DINIZ, Maria I. S.V. e Smole, Ktia C.S. O
concei t o de ngul o e o ensi no de geomet r i a.
4 6 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
SP:Editora da USP. 1993.
DI ENES,Z.P. A p r en d i z a d o m od er n o d a
mat emt i ca. RJ: Editora Zahar. 1970.
DOWS, Moise. Geomet r i a moder na.(parte I). SP:
Editora Edgard Blucher. 1971.
___________ . Geomet r i a moder na.(parte II). SP:
Editora Edgard Blucher. 1971.
EFMOV,N.V. Geomet r a super i or . (Editorial Mir
de MOSC).1984.
KALEFF, Ana Maria M.R. Vendo e ent endendo -
Pol i edr os. RJ: EDUFF. 1998.
KNIJNI K, Gel sa e out r os. A pr en den d o e
ensi nando mat emt i ca com o geopl ano. Ijui:
Editora UNIJUI. 1996
LEDUR, Elsa Alice e outros. Geomet r i a pl ana
( m et od ol ogi a d e en si n o) . RS: Edi t or a
UNISINOS. 1984.
LAKATOS ,Imre. A Lgi ca do descobr i ment o
mat emt i co. RJ: Editora Zahar. 1978.
LIMA, Elon Lages. I somet r i as. RJ: IMPA. 1973.
LIMA, El on Lages. r eas e vol umes. RJ: Ao
LivroTcnico. 1973.
LINDQUIST, Mary Montgomer y e SHULTE,
Albert P. Apr endendo e ensi nando Geomet r i a.
SP: Editora Atual.1994
MACHADO, Nilson Jos, At i vi dades de geomet r i a.
(Col eo mat emt i ca: apr endendo e
ensinando). So Paulo: Atual. 1996.
MILLMAN, Richard S. e PARKER, George D.
El ement s of di f f er ent i al geomet r y. U.S.A-
Illinois: Editora da University Carbondale.
1972.
MORAES, Andr a M.R. e Wi t t man. Jogos
mat emt i cos (um i ncent i vo a r edescober t a da
mat emt i ca) RS: Edit ora da UNISINOS.
1992.
OCHI , Fusako Hor i e out r os. O u so d e
quadr i cul ados no ensi no da geomet r i a. SP:
Editora da USP. 1992.
POLYA,G. A ar t e de resol ver pr obl emas. RJ: Editora
Int ercincia. 1978.
PCN. Par met r os cur r i cul ar es naci onai s. Secretaria
de Educao Fundamental. Braslia. MEC/
SEF, 1998. 174P.
PRC. Padr o ref erenci al de cur r cul o. M at emt i ca.
Secr et ar i a da Educao do RS. Por t o
Alegre.1998
ROCHA, Luiz Fer nando Car valho. I nt r oduo
geomet r i a hi per bl i ca pl ana. RJ:IMPA. 1987.
RYAN, Patrick J. Eucl i dean and non- eucl i dean
geomet r y na anal yt i c appr oach. E.U.A.: Editora
L.C.C. 1991.
SANTAL, Luis A . Geomet r as no eucl i di anas.
Argentina. Editora Universidade de Buenos
Aires. 1976.
SCHIMITZ, Carmen Ceclia e outros. Geomet r i a
de 1
a
. 4
a
. Sr i e. So Leopoldo: Editora da
UNISINOS. 1994.
SOMMERVILLE,D.M.Y. The el ement s of non-
eucl i dean geomet r y. New York: U.S.A . 1914
WAGNER, Eduardo. Const r ues geomt r i cas. RJ:
Editora IMPA. 1993.
Can oas v.4 n. 1 p. 47- 56 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Grupos de Discusso
Agr essi vi dade no Cont ex t o
Esc ol ar
Ar no Bayer
Val t er Kuchenbecker
Jaquel i ne Ti chy
Ni l ce Br egal da Schnei der
Raquel Gl api nski de Souza
1 - I nt r odu o
A si t uao de r i sco soci al que os
docent es enf r ent am di ar i ament e no
exerccios de sua profisso, vem ocupando
mais espao na mdia atualmente e assusta
a comuni dade onde est es i nci dent es
acontecem, um probl ema soci al , que
at i nge as escol as, e est a por sua vez,
desprovida de condies que possam fazer
frente a esta situao de desintegrao de
valores, acaba expondo seus profissionais
mesma agressividade que ocorre nas ruas.
Preocupados com a vi ol nci a contr a o
docente e a interferncia no processo de
ensino e aprendizagem, buscamos levantar
dados atravs de pesquisa realizada nas
escolas do municpio de Canoas, com o
objetivo de proporcionarmos subsdio aos
profi ssi onai s da rea, par a um mel hor
entendimento, vi sto que o probl ema se
apresenta em todos os nveis e camadas
soci ais.
A pesqui sa que estamos real i zando t em
como tema Docncia em situao de risco
social, e est sendo realizada no municpio
de Canoas h dois anos.
O municpio conta com 131 escolas,
este trabalho foi desenvolvido em 20 escolas
da rede pbli ca e pr i vada, onde foram
aplicado 244 questionrios a professores,
orientadores, diretores e funcionrios.
Arno Bayer professor do Curso de Matemtica e Coordenador da Ps-Graduao em Ensino de Cinciase Matemtica PPGECIM ULBRA. 92420-
280, Canoas, RS, Brasil. Fone (051) 477.9278. E-mail: bayer@ulbra.br
Valter Kuchenbecker professor da Universidade Luterana do Brasil e Diretor da Editora da ULBRA. Professor-pesquisador bolsista da FAPERGS.
Valterk@ulbra.br
Jaqueline Tichy estudante graduanda da Universidade Luterana do Brasil, bolsista de Iniciao Cientfica.
Nilce Bregalda Schneider estudante graduanda da Universidade Luterana do Brasil, bolsista de Iniciao Cientfica.
Raquel Glapinski de Souza estudante graduanda da Universidade Luterana do Brasil, bolsista de I niciao Cientfica.
4 8 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
2 - Docnci a em si t uao
de r i sco soci al
O pr esent e t r abal ho t em como
objetivo investigar a situao da violncia
contr a o professor nas escol as da rede
pblica e privada do Municpio de Canoas/
RS.
Trata-se de uma pesquisa institucional
que est sendo desenvolvida, com o apoio
da FAPERGS e do Consulado da Espanha,
em parceria com a Universidade Pontifcia
de Sal amanca, Espanha. O gr upo de
pesquisadores est composto de quatro
dout or es, doi s da ULBRA e doi s de
Salamanca, mais quatro bolsistas.
O ar t i go apr esent a os resul t ados
parci ai s obt i dos na pesqui sa f ei ta em
Canoas. Parciais porque o resultado final
dever ser completado com a pesquisa feita
em Salamanca.
A violncia est em todo lugar, basta
abrir um jornal, ligar a TV ou acessar a
I nt er net par a nos dar mos cont a da
violncia que ronda em nossa sociedade.
A cada dia que passa o assunto violncia
na escola ocupa mai s e mai s espao na
mdi a e assusta a comuni dade onde os
crimes acontecem.
Especi al i st as como Jl i o Gr oppa
Aqui no, pr of essor de psi col ogi a
educacional da USP (Universidade de So
Paulo), falando sobre a violncia na escola
diz que o aluno gosta da escola, mas no
da sala de aula.
No entendimento do Secretri o da
Segur ana do Est ado de So Paul o a
segurana na escola passa mais por outros
canais do que pela polcia, uma questo
do educador, diz o secretrio.
J a Secretr i a da Educao, Rose
Neubauer, do mesmo Est ado, pensa
diferente:
O pr obl ema da vi ol nci a no um pr obl ema
da escol a. u m pr obl ema que estamos
enf r en tan do na soci edade e que acaba
ati ngi ndo as escol as tambm. uma soci edade
que est mai s doente e mai s pr obl emti ca.
Fal ta coeso soci al . U m conj unto de val ores
i mpor tantes est se desi ntegr ando, como o
senti do de sol i dar i edade, a i denti fi cao com
a comuni dade e o respei to mtuo. Por i sso, o
j ovem se sente i sol ado e no como uma par te
i ntegr ante da soci edade em que vi ve. Assi m,
o pr obl ema da v i ol n ci a n o pode ser
resol vi do pel o gover no de manei r a i sol ada.
preci so chamar a ateno da soci edade ci vi l
como um todo, envol ver a comuni dade.
Uma pesqui sa do Si ndi cat o de
Especialistas de Educao do Magistrio
Oficial do Estado de So Paulo (Udemo)
most r ou que 76% de 429 col gi os
entrevi stados for am cenr i o de al gum
episdio violento em 2001. O medo e a
intimidao so chancelados por diretores
e docentes. Em uma noite de setembro,
uma pr of essor a sai u com a cabea
sangr ando da sal a de aul a na Escol a
Estadual Professor Domingos Peixoto da
Silva, na grande So Paulo. Alunos de uma
turma noturna haviam colocado uma lata
de lixo repleta de cacos de vidro sobre a
porta da sala, posicionada para despencar
no pr i mei ro que cr uzasse o batente. A
agresso no foi parar na Justia porque a
direo desencorajou a vtima. Em geral,
diretores no gostam de ver o nome da
escola envolvida em casos assim.
No difcil identificar e transcrever
inmeros exemplos como o relato acima.
Manchet es como Escol a f on t e de
i nsegur ana; Aprendi zado de chumbo; Cresce
vi ol nci a nas escol as e tantas outras ocupam
diariamente jornais deste imenso pas.
Cresce a cada dia que passa a violncia
urbana e o sentimento de insegurana nas
escolas. De forma que o assunto violncia
na escola j faz parte das preocupaes das
pessoas.
A mdia, por sua vez, veicula de forma
dramtica reportagens sobre atos violentos,
dando a est as i nf or maes el evada e
excessiva importncia.
As manifestaes vi olentas no meio
escol ar no so pecul i ar i dades nossas.
Outros pases tambm se defrontam com
o mesmo problema, como comprovado
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 4 9
pel as pesqui sas e pel os not i ci r i os
internacionais.
Sobr e as poss vei s causas dest a
vi ol nci a poder amos ar r ol ar vr i as
pesquisas, como por exemplo:
Segundo Beatriz Didonet Nery (2001),
os jovens vivem hoje a desesperana em
r el ao s pr omessas de f ut ur o que
antigamente estavam contidas na proposta
da escol a. Ocupam boa parcel a das
estatsticas os casos de morte, aparecendo
o consumo de dr ogas como causa
principal. Estas informaes em geral no
aparecem com clareza nas pesquisas feitas
no meio escolar. No entanto, segundo o
relato desta pesquisadora, em conversas
mai s r eser vadas com pr of essor es, a
denncia de trfico e uso de drogas aparece
com f r eqnci a, cont r ar i ando o que
aparece nas pesquisas.
Confor me pesqui sa, j comentada,
feita pela Udemo, sugerem-se como causas
mai s comuns par a a vi ol nci a escolar a
vi olncia na televiso, ci nema ou vdeo-
games; a pobreza e o desemprego; falta de
super vi so dos pai s; di sponibi li dade de
armas; uso de drogas, etc.
A criana quando entra na escola j
vem com uma carga de vida que ela traz
da prpria famlia e do meio em que ela
vive, e a partir deste conhecimento que
ela j tem que ela vai agir e reagir dentro
da escola. A escola deve orientar as crianas
para uma vida saudvel em sociedade. I sto
no tarefa fcil, pois a criana possui uma
tendncia a imitar os outros e achar tudo
muito bonito e bom. Por exemplo, quando
assi ste um desenho vi ol ento onde uns
matam os outros, se golpeiam, se chutam,
el a vai chegar na escola e br i ncar com
outros col egas do mesmo j eito que el a
assistiu na TV, onde ela o mocinho e o
col ega o i ni mi go que t em que ser
eliminado.
Outras causas so a misria, a pobreza,
a desigualdade social, a corrupo e a
sociedade competitiva em que vivemos.
neste meio que a criana aprende a viver e
sobreviver. Um menino de sete anos sabe
que o pai est desempregado, que no tem
o que comer. Como esta criana encara o
mundo, onde aquele que tem mais pode
mandar naqueles que tem menos, onde ela
v que uns roubam mi l hes e no so
presos, onde as pessoas tiram a vida umas
das outras e nada acontece, onde pessoas
no tm o que comer, ser que isto comove
as cri anas? Esta dur a real idade muitas
vezes nos leva a uma acomodao, achando
que tudo isto normal quando, na verdade,
no normal e no deveria ser assim.
A Professora Marlia Sposito (1999),
em um frum realizado em Porto Alegre
sobre violncia na escola diz: O banheiro
da escola muitas vezes o espao que o
j ovem tem par a se expressar. , e i sto
mesmo, pois, ns no achamos que o aluno
bom o quietando , o que no diz nada
e s obedece. As pr pr i as exper incias
realizadas nesta rea de violncia na escola
most r am que a vi ol nci a di mi nui nas
escolas que implantam grupos de teatro,
dana, corais, atividades esportivas e outras
que faam com que o aluno expresse o que
ele pensa e que desenvolva o seu potencial.
Muitas vezes a violncia juvenil que ocor re
nas escolas gerada da ausncia de sentido,
o jovem precisa de uma causa, algo para
buscar, e a escola muitas vezes no d este
incentivo para o jovem, no faz com que
ele busque um objetivo para sua vida. A
escola muitas vezes diz que as coisas so
assi m e nunca vo mudar, el a no
impulsiona o seu aluno a ir em frente a
buscar novos horizontes. Apresenta tudo
muito pronto, no deixa o aluno criar ou
muitas vezes mata o entusiasmo do aluno
e faz com que ele no se sinta capaz.
Gr ande parte dos atos de viol ncia
ocor re nas escolas pblicas em zonas de
gr ande mi sr i a, onde o n vel de
desemprego alto. A falta de perspectiva
no f ut uro gr ande entre os j ovens, a
formao de gangues contnua e o trfico
de drogas intenso.
Vi vemos uma r eal i dade onde os
5 0 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
papis se inverteram. No so mais os pais
que mandam nos filhos, mas sim os filhos
que mandam nos pais. Pois, se um filho,
gr i ta, br i ga e desrespei ta os seus pai s,
porque ele iria no fazer o mesmo ou pior
com o seu professor, afinal o aluno acha
que o professor tem obrigao de estar ali
e aturar tudo o que o aluno diz ou faz, pois
ele pago para isto. Esta situao ocor re
porque a profisso de professor muito
desvalorizada por parte da sociedade. O
pr of essor se cal a f ace a si t uaes de
violncia por medo, por falta de apoio da
escola e at para no perder o seu emprego.
I sto no ajuda a melhorar esta situao,
pelo contrrio, s piora. Se um professor
sofre algum tipo de violncia ele no est
s esquecendo o seu papel de educador
como tambm est deixando de se valorizar
como ser humano e assi m perdendo
totalmente o seu valor.
Uma das mai or es vi ol nci as que
ocor re no meio escolar a pedaggica: o
aluno finge que aprende e o professor finge
que ensina, isto contribui para a violncia,
pois o aluno quer aprender, mas tem que
ser motivado para isto. El e quer que o
professor reaj a e no se omi t a ao que
acontece ao seu redor, poi s a pal avr a
educao tem um parmetro muito maior
do que segui r um cur r cul o. Educao
quer dizer ensinar as pessoas, educar, fazer
com que elas aprendam. A escola tem que
se adaptar realidade que est a fora. No
d para fingir, no ver ou passar por cima.
As manifestaes de violncia esto claras
para toda a sociedade, e os professores e
di retores mui tas vezes dizem: no, isto
no ocor r e na mi nha escol a . Os
governadores fingem que esta realidade no
to preocupante, mas at quando crianas
ter o que mor rer par a que o gover no
resolva fazer alguma coisa?
Os pais, ao se omitirem, tornam-se os
principais culpados dos atos de violncia
realizados pelos seus filhos e tm que ser
punidos por isto.
Em 1995, a SMED (Secr et ar i a
Muni ci pal de Educao e Despor t o)
Porto Alegre estabeleceu um convnio com
a Universidade Federal do Rio Grande do
Sul I nsti tuto de Fi l osofi a e Ci nci as
Humanas, at r avs do prof essor Jos
Vicente Tavares dos Santos, no sentido de
const r ui r o pr oj et o de pesqui sa
denominado Vi olnci a na Escola . O
obj et i vo cent r al dest e pr oj et o er a a
r econst r uo dos at os vi ol ent os no
contexto escolar das escolas municipais de
Porto Alegre, a fim de reconhecer as causas,
compreend-las e procurar minimiz-las.
No di a 8 de agost o de 2001, na
Cmara dos Vereadores de Porto Alegre,
ocor reu o Frum Municipal de Preveno
Violncia no meio Escolar. Fato este que
refora, alm dos motivos j citados, a nossa
preocupao em estudar e pesqui sar a
violncia no contexto escolar.
Preocupados com as interferncias da
vi ol nci a no pr ocesso de ensi no e
aprendi zagem, nos i ntegr amos a uma
equi pe da Uni ver si dade Pont i f ci a de
Sal amanca Espanha, que est
pesqui sando e anal i sando a mesma
problemtica na provncia de Salamanca,
a fim de dar subsdios aos professores que
atuam na sala de aula.
Di ant e dest e quadro al ar mant e e
crescente da violncia nas escolas, partiu-
se para uma investigao com o objetivo
de buscar uma melhor compreenso do
probl ema e vi abi l i zar al ter nat i vas de
possvei s sol ues. El abor ou-se um
questionrio comum para ser aplicado em
Salamanca e no Municpio de Canoas.
O Municpio de Canoas foi mapeado,
onde foram identificadas as escolas, para
serem pesqui sadas. Os cr i t r i os par a
escolha da amostr a foram os seguintes:
poder aquisitivo, nvel cultural, localizao,
nmero de professores e alunos. Tendo-se
ainda o cuidado de envolver escolas das
trs redes de ensino de cada regio, com a
preocupao de observar nesta eleio o
critrio da classe social, para que a opinio
obtida fosse representativa da populao
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 5 1
envolvida.
Das 131 escol as exi st ent es no
Municpio de Canoas, foram pesquisadas
20 escol as, sendo apl i cados 244
questi onr i os a professores, diretores e
ori entadores. As 20 escolas sel ecionadas
envol vi am a rede pbl i ca (muni ci pal e
estadual) e privada do ensino fundamental
e mdio do municpio de Canoas.
O muni cpi o foi di vi di do em duas
r eas, uma par a cada pr of essor
pesquisador. O grupo de pesquisa, antes
da apl i cao pr t i ca dos questi onr i os
obt eve da Secr et ar i a Muni ci pal de
Educao de Canoas e da 27
(Coordenadoria Regional de Educao de
Canoas), uma autorizao para ter acesso
aos docentes das escolas, visitando-as e
explicando o real motivo da pesquisa.
Os questi onr i os for am entregues
pessoalmente pelos pesquisadores para a
direo da escola, que os encaminhou aos
prof essores. Al guns i nst r ument os, no
entanto, foram aplicados diretamente pelo
pesquisador.
Ao anal i sar mos as r espost as dos
pr of essor es obt i vemos os segui nt es
resultados.
Perguntamos aos professores Com
que freqncia aparecem em suas aulas as
seguintes situaes de indisciplina .
Nas si t uaes de i ndi sci pl i na
menci onadas nesta questo a que com
mai s f r eqnci a apar eceu f oi a
desobedincia ao professor. A atribuio de
valores numricos 1 nunca, 2 s vezes,
3 freqentemente e 4 sempre, s opes
ofereci das aos professores, nos permi tiu
calcular, classificar e avaliar pela mdia as
respostas dadas pelos docentes. Usando o
recurso da mdia, podemos afirmar que a
situao de indisciplina, desobedincia ao
pr of essor, est ent r e s vezes e
f r eqent ement e na opi ni o dos
professores.
As agresses verbais entre os alunos
apar ecem em n vel mai s el evado,
excedendo ao valor mdio do ` as vezes ,
predominando a zombaria e o falar mal
de al gum . A escol a vi ve numa l ut a
desigual. Ela tem a tarefa de educar e,
neste processo, um contnuo desfazer e
minimizar os estmulos exacerbados por
i magens i nci tador as que aparecem na
televiso.
1 , 8 0
1 , 8 5
1 , 9 0
1 , 9 5
2 , 0 0
2 , 0 5
2 , 1 0
2 , 1 5
D
e
s
o
b
e
d
i
n
c
i
a
a
o
P
r
o
f
e
s
s
o
r
A
l
v
o
r
o
o
s
n
a
c
l
a
s
s
e
o
u
e
s
c
o
l
a
A
u
s
n
c
i
a
e
s
c
o
l
a
r
F
a
l
t
a
d
e
R
e
s
p
e
i
t
o
D
e
s
q
u
a
l
i
f
i
c
a
o
S i t u a e s d e I n d i s c i p l i n a
5 2 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
Na opinio de Olivier, o esporte de
combate deveria ser resituado no contexto
institucional. Transformar a briga em jogo.
Jogo com r egr as onde a cr i ana ou
adolescente pudesse expressar seu mpeto
em condies seguras e definidas.
As agresses fsicas indi retas, como
esconder coisas, roubar coisas e quebrar
coi sas, aparecer am numa i nt ensi dade
pequena, predomi nando a at i t ude de
esconder coi sas. Pouco apar eceu, na
percepo do professor, a atitude quebrar
coisas, o nvel mdio ficou em 1,51.
Segundo a teoria desenvolvida pelo
jurista italiano Enrico Fer ri (I n: Trindade,
p.71), o homem no nasce delinqente e
sim se torna delinqente ao longo da vida
porque o meio social, o meio ambiente, os
fatores externos convergem no sentido de
tornar a pessoa violenta. A escola tem a
grande responsabi li dade de ser o mei o
capaz de proporcionar os fatores externos
e faz-los convergir em seus adolescentes,
de modo a no estimular a violncia. Para
Drkheim (I n: Trindade p.71), a violncia
decor re da anomi a, i sto , ausnci a de
normas. Quando no h normas, quando
no h limites, a probabilidade da violncia
aumenta.
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Zombaria Falar mal de
algum
Ofensas Insultos Ameaas
Agresses Verbais entre alunos
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
Esconder coisas Roubar coisas Quebrar coisas
Agresses Fsicas Indiretas entre alunos
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 5 3
A estatstica policial mostra o quanto
de violncia ocor re no contexto escolar.
Temos dados que mostram agresses entre
alunos, aluno contra professor. Agresses
est r ut ur a f si ca da escol a e/ ou
equipamentos. Os registros na Polcia Civil
conf i r mam est a si t uao de
i nt r anqi l i dade, as nossas escol as e o
cont ext o escol ar so al vos de mui t as
agresses.
37
32
43
Roubos pedestres/escolares Arrombamentos Furtos simples
Fazendo uma anl i se compar ati va
entre os dados levantados na polcia e dados
rel at ados na i mprensa a respei t o das
agr esses no mei o escol ar com as
informaes coletadas entre os professores,
parece que muito do que ocor re no meio
escolar j no mais chama ateno.
Os pr of essor es no se sent em
agredidos, pois o nvel mdio das respostas
colhi das entre os professores foi 1,17,
muito prximo do nunca , cujo ndice
igual a um.
Os professores das nossas escol as
acham que o clima de convivncia entre os
alunos bom.
No respondeu
Excelente
Bom
Regular
Ruim
Fonte: Secretar i a da Segur ana Pbl i ca RS
5 4 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
O professor ao se posicionar quanto a
sua atuao diante das agresses ocorridas
na escola salientou que sua ao seria a de
fal ar em par ti cul ar com o al uno como
pr imeir a al ter nativa, aparecendo como
ndice mdio igual a 3,5. Numa escala onde
o maior ndice seria 4, a ao de menor
ndice mdio foi o de ignorar o acontecido.
Para prevenir a indisciplina no meio
escolar, deve-se dar responsabi lidade ao
aluno, 90% dos professores optaram por
esta alternativa. Seguindo as sugestes,
em segundo plano, apareceu a conversa
com os familiares e, em terceiro plano, o
di l ogo, em l t i mo os prof essores se
posicionaram em ignorar o acontecido.
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
D
a
r
r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
d
a
d
e
a
o
a
l
u
n
o
C
o
n
v
e
r
s
a
s
c
o
m
f
a
m
i
l
i
a
r
e
s
D
i
l
o
g
o
E
s
t
a
r
p
r
x
i
m
o
d
o
a
l
u
n
o
C
u
m
p
r
i
r
N
o
r
m
a
s
A
t
i
v
i
d
a
d
e
s
j
u
v
e
n
i
s
A
m
b
i
e
n
t
e
d
e
r
e
s
p
e
i
t
o
m
u
t
u
o
C
r
i
t
r
i
o
s
e
n
t
r
e
p
r
o
f
e
s
s
o
r
e
s
C
e
n
t
r
o
s
d
e
O
r
i
e
n
t
a
o
P
a
r
t
i
c
i
p
a
o
e
s
c
o
l
a
r
R
e
c
u
r
s
o
s
H
u
m
a
n
o
s
A
p
o
i
o
d
a
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
o
F
o
r
m
a
o
d
o
P
r
o
f
e
s
s
o
r
R
e
f
o
r
m
a
r
a
O
r
g
a
n
i
z
a
o
d
a
e
s
c
o
l
a
M
u
d
a
r
o
m
o
d
e
l
o
d
e
s
o
c
i
e
d
a
d
e
T
u
t
o
r
i
a
s
Sugestes para prevenir indisciplina e agresses
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
F
a
l
a
r
e
m
P
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
o
m
a
l
u
n
o
F
a
l
a
r
s
o
b
r
e
o
t
e
m
a
e
m
a
u
l
a
F
a
l
a
c
o
m
a
f
a
m
l
i
a
C
o
m
u
n
i
c
a
a
o
D
i
r
e
t
o
r
E
n
c
a
m
i
n
h
a
a
c
o
o
r
d
e
n
a
o
P
r
o
p
e
p
a
u
t
a
n
o
C
C
l
a
s
s
e
L
a
v
r
o
o
c
o
r
r
n
c
i
a
d
i
s
c
i
p
l
i
n
a
r
E
x
c
l
u
i
r
d
a
c
l
a
s
s
e
i
m
p
l
i
c
a
d
o
s
T
r
o
c
a
r
o
a
l
u
n
o
d
e
t
u
r
m
a
D
e
n
u
n
c
i
o
n
o
J
u
i
z
a
d
o
I
g
n
o
r
o
o
a
c
o
n
t
e
c
i
d
o
Atuao do Professor diante de agresso
P
r
o
p
e
p
a
u
t
a
n
o
C
o
n
s
e
l
h
o
d
e
C
l
a
s
s
e
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 5 5
Da mesma f or ma os pr of essor es
opinaram que para prevenir a indisciplina
e agresses na escola, a melhor alternativa
ter a colaborao da famlia, depois, em
ordem decrescente, dar melhor orientao
aos al unos. Em l t i mo nvel , t er mai s
vigilncia nos recreios.
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Colaborao
da famlia e
da escola
Melhor
orientao
aos alunos
Apoio
escolar
Controle de
entrada e
sada
Interveno
do servio
social
Vigilncia
nos recreios
Indisciplina e Agresses
O grfico anterior aparentemente est
invertido, porque foi sugerido na questo
que fosse atribudo 1 ao melhor e 6 ao que
considerar a pior alternativa. Logo a opo
que apareceu com a menor mdia a que
foi considerada a melhor.
As causas da condut a do al uno
agressor, na opinio dos professores, em
pr i mei r o pl ano est o os pr obl emas
familiares, seguido da violncia familiar,
por ltimo a sociedade.
Os resultados demonstram uma
cautela no posicionamento dos professores
em relao violncia. I sso se deve talvez
a si t uao de cor responsabi l i dade do
professor com a escola e com a sociedade.
Declarar o alto ndice de violncia assinar
uma parcela de culpa no processo ensino-
aprendizagem.
Ref er nc i as
ABRAMOVAY, Miriam e Rua, Maria das Graas.
Vi ol nci as nas escol as. Brasilia: UNESCO,
2000.
DIMENSTEIN, Gilberto- A Epi demi a da Vi ol nci a.
Folha de So Paulo- 22/ 09/ 96. 1996.
DRKHEIM apud Jorge Trindade in A Vi ol nci a
na Escol a. Canoas: ULBRA, 2000.
FERRI, Enrico apud Jorge Trindade in A Vi ol nci a
na Escol a. Canoas: ULBRA, 2000.
OHSACO, T. Vi ol ence at school . Gl obal i ssues and
i nt er vent i ons. Ed: UNESCO, 1998.
OLIVIER, Jean-Claude. Das Br i gas aos Jogos com
Regr as: enf r ent ando a i ndi sci pl i na na escol a.
Porto Alegre: Artmed, 2000.
REZENDE, Marcelo. Pai xo de Apr ender . n 14.
Porto Alegre: SMED,2001.
SILVA, Ainda Monteiro. A Vi ol nci a na Escol a:
5 6 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
a per cepo dos al unos e pr of essor es- mi meo.
SILVA, Maurcio da. Vi ol nci a nas Escol as Caos
na Soci edade. So Paulo: Evirt, 1999.
TRINDADE, Jorge. A violncia na escola: o papel
das instituies. In A vi ol nci a na escol a.
Org. Arr iet a, Gr icel da Azevedo. Canoas:
ULBRA. 2001.
Can oas v.4 n. 1 p. 57- 63 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Grupos de Discusso
Os Pr of essor es de Mat emt i c a
Di ant e da Aval i a o
Vander l ei Si l va Fl i x
1 - I nt r odu o
O tema proposto para refletirmos
um pouco sobr e os professores de
matemtica diante da avaliao. Este tema
est presente, entre outros, nos trabalhos
de: D Ambr osi o, Ubi r at an (1985);
Escamil la (1995); Flix (1999); National
Counci l of Teacher s of Mat hemat i cs
(NCTM), Ni ss (1993), (Ri co; 1997),
Robitaille (1989), Suydam (1974). Trillo,
Felipe e outros (1997):
A aval i ao, ao l ongo da hi str i a,
passou por vrios conceitos, o que nos leva
a afirmar que no existe um s, e que ele
pode ser t ant o l i mi t ado como ampl o,
dependendo da sua estrutura, de seu meio,
de ser tradicional ou renovador; sempre
com reflexos no cur rculo, metodologia e
experincia de ensino aprendizagem. Do
mesmo modo, os diferentes conceitos de
avaliao se fazem sentir nas influncias
nos cent r os escol ar es, em sua
administrao e relao professor/aluno.
Escami l l a (1995), encont rou duas
grandes formas de conceber a avaliao:
(...) uma de aspecto mai s ampl o,
complexo e renovador, outra estreita, mais
tradicional e tambm mais simples, (...) .
O primeiro vis passa pela qualidade
dos servios da avaliao, procurando essa
qualidade em vrios setores, tais como:
1) t endnci as admi ni st r at i vo
organizacionais;
2) componentes cur riculares;
3) relao professor/aluno
As t endnci as admi ni st r at i vo-
organizacionais referem-se:
1) organi zao da escol a, di ante de
novos par adi gmas e pr opost as
cor rel aci onadas, f azendo par t e a
gesto democrtica no centro escolar,
relao de poder e processo decisrio/
participativo, papel de desempenho
da direo e demais rgos da escola
etc.
2) a component es cur r i cul ares, com
obj eti vos bem defi ni dos, i ncl ui ndo
cont edos, met odol ogi a, processo
ensi no-apr endi zagem, r ecur sos
disponveis e avaliao.
Vanderlei Silva Flix Doutor em Ciencias da Educao: Departamento de Didtica e Organizao Escol ar. Faculdade de Filosofia e Cincias da
Educao. Universidade de Santiago de Compostela. Espanha e Professor Adjunto da Faculdade de Matemtica da Universidade Luterana do Brasil
ULBRA. e-mail: vfelix@terra.com.br
5 8 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
3) relao professor/aluno, como algo
muito importante no processo ensino-
aprendizagem.
O segundo vi s, o t r adi ci onal ,
predominante em muitos setores sociais e
em muitos centros escolares . Escamilla
(1995), observa a repercusso que os servios
educativos tm sobre os alunos.
Esse aspecto l i mi tado da avali ao
educativa centra-se mais nos resultados do
que no processo (Escamilla;1995), levando
a uma avaliao parcial, em funo do objeto
a aval i ar - o al uno e seu progresso no
ambiente de ensino-aprendizagerm. Neste
caso, a partir dessa vi so l imitada, sem
pretenso, jamais poderemos pensar que
i sso possa repercut i r num ensi no de
qualidade.
Est e vi s concei t ual da aval i ao
educativa de modelo tradicional continua
predomi nando na pr ti ca, em mui t os
centros escolares, principalmente em termos
de planejamento curricular e avaliao.
Prez Gmez destaca que a concepo
de avali ao mais atual produzida em
vrias aberturas, tais como:
Abertura conceitual, para dar suporte
avaliao, resultados no previstos
e acontecimentos imprevisveis;
Abertura de enfoque, para dar lugar a
obteno dos dados, tanto de processos
como de produtos;
Abertura metodolgica. A primitiva e
i nf l exvel est r at gi a f or mal se
t r ansf or ma em pr ocedi ment o
informal;
Aber tur a ti co-pol ti ca. A avali ao
proporciona infor mao a todos os
par ti ci pant es e recol he opi ni es e
i nt er pretaes de todos os gr upos
envolvidos no proj eto educativo, da
aval i ao burocr t i ca aval i ao
democr ti ca (Prez Gmez;1985:
431).
Esta mltipla abertura proposta por
Prez Gmez atualiza e oferece uma nova
perspectiva da transformao de prtica
educativa em termos de avaliao. Serve de
referncia para os novos desafios no campo
da avaliao, na medida em que prev a
possi bi l i dade de acont eci ment os no
previ svei s, que est const ant ement e
r et omando os dados, i ncl ui ndo
procedi ment os no for mai s e i ndo na
di reo de uma escol a r enovada e
democrtica.
A av al i ao dev er ser u m pr ocesso
car acter i zado por pr i ncpi os de conti nui dade,
si stemati ci dade, fl exi bi l i dade e par ti ci pao
em todos os setores i mpl i cados ( Escami l l a;
1995: 22).
Nesta conti nui dade i ncor por am-se
juzos de valor, para dar nfase ao processo
educativo.
A av al i ao con si st e em u m pr ocesso
si stemti co de obteno de dados, i ncor por ado
ao si stema ger al de atuao educati va, que
per mi te obter i nfor maes vl i das e vi vei s
par a for mar j uzo de val or sobre uma si tuao.
Estes j uzos, por sua vez, se util i zam na tomada
de deci so conseqente, com o obj eti vo de
mel hor ar a ati vi dade educati va val or i zada
(Casanova; 1992:31).
A aval i ao est si tuada em l ugar
central, entre planos cur riculares e planos
educacionais.
Para Shavelson :
... exi ste uma r el ao si mtr i ca entr e a
av al i ao e o en si n o. I sto , u ma boa
av al i ao, pr oduz uma boa ati vi dade de
ensi no, e um bom ensi no, pr ovoca uma boa
aval i ao (...). N o di fci l , hoj e, encontr ar
uma base de acor do par a defi ni r a aval i ao
como um pr ocesso de obteno e previ so de
evi dnci as sobre o funci onamento e a evol uo
da vi da da aul a, baseando-se nas quai s se
t omam deci ses sobr e a possi bi l i dade,
efeti vi dade e val or educati vo do cur r cul o,
al m de medi r a aval i ao i mpl i ca entender,
val or i zar (Prez Gmez;1985:431).
Conf or me o Joi nt Commi t ee,
Avaliao uma investigao sistemtica
da validade e mrito de um objeto (Blanco
Prieto;1994: 40).
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 5 9
2 - Aval i a o: r el a o
ent r e i nf or me c ont ex t ual
e nor mat i vo
No Brasil existe uma grande distncia
ent re a met odol ogi a adot ada pel os
professores e seus mtodos quando esto
avaliando. Essas distores atingem todos
os nveis de ensino, e todas as regies da
federao.
O tema avaliao, pela importncia
que tem, dever opor tuni zar debates
constantes, principalmente para os cursos
de formao para o magistrio das sries
i ni ci ai s, com a f i nal i dade de evi t ar
abordagens de procedimentos avaliativos
generalistas e pouco objetivos, por parte
dos professores que em ltima anlise so
os que aval i am em sal a de aul a
(Foina;1996: 25).
A avaliao escolar, tanto no centro
escolar como na sala de aula, apresenta,
uma prtica autoritria, punitiva e voltada
par a a reproduo do conheci ment o
(Boas; 1996: 47). Em decor r nci a,
encont r am-se el evados ndi ces de
repetnci a, reprovao e evaso, tendo
como foco pr inci pal o pri meiro gr au.
Como as prticas avaliativas perpassam
t odo o t r abal ho pedaggi co, pode-se
concl ui r ser em el as um dos f at or es
r esponsvei s pel o f r acasso escol ar
(Boas;1996: 48).
Fr ent e r eal i dade das escol as
br asi l ei r as no t ocant e aval i ao,
reforada a necessi dade da preparao/
qualificao no s do corpo docente, mas
de todos os profissi onai s da educao -
or ientadores educaci onais, supervi sores,
diretores pedaggicos, administradores e
out r os, poi s t odos, di r et a ou
i ndi r et ament e, est ar o i nf l ui ndo na
avaliao dos alunos (Foina, 1996 e Boas,
1996).
Conforme Dambrosio (1986:94), a
avaliao como a pr aticamos, a maior
aber r ao de um si stema educacional .
Suger indo aval iao constr utiva , onde
esta conduz ao aproveitamento pleno do
potencial de cada indivduo, permitindo-
l he um ensi no i nt egr ado vol t ado a
problemas e interesses do aluno.
A forma, extremamente limitada, pela
qual a aval i ao r eal i zada pel os
pr of essores, ger al ment e rest r i t a s
habilidades de elaborao e aplicao de
testes, parece provocar o n grdi o ou
ponto de estrangulamento do processo de
reprovao i nstal ado na pedagogi a da
repetnci a (Andr ade;1996:209). Est a
imagem est profundamente arraigada na
cultura escolar brasileira.
A per si st nci a dos professores em
restringirem suas prticas avaliativas a
simples realizao de testes ou exames e
fal ta de vi abi l i dade e val i dade destas,
ocor rem na mai or i a dos casos (Beni to:
1992). Os tpicos a serem selecionados
pelo professor devem ser revestidos de
coerncia, tornando-se, neste caso, fator
importante no processo educativo.
Deve haver cor r el ao ent r e o
momento presente com todo o processo
anterior, evitando-se:
( . . . ) i n con gr u n ci as, qu e v o desde o
i nadmi ssvel , que r esul tar i a que adotasse
como estr atgi a de aval i ao um exame
memor sti co ti po pr ov a obj eti v a aps ter
tr abal hado um cur so todo a enf ati zar os
processos de compreenso (Tr i l l o, 1994: 73).
Essas incongruncias so a realidade
do sistema de avaliao em nosso pais. No
vestibular adotado como estratgi a de
avaliao, para o ingresso na universidade,
exame memorsti co tipo prova obj etiva,
cri tri o di ferente do usado no ensino
fundamental, por exemplo, onde tentado
trabalhar ou desenvol ver o processo de
compreenso.
A prova formal, que um instrumento
utilizado pela maioria dos professores,
no reflete o conhecimento real do aluno
(Esteves;1996: 307).
Por outro lado Silva aponta um outro
el ement o, ao af i r mar que o est i l o
convenci onal das perguntas das provas
6 0 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
induz o aluno a conceber que o que mais
importa no processo ensino aprendizagem
o que aparece atr avs das provas: o
contedo. Nesse panorama, o modo para
adqui ri r conhecimento o de obter
i nf or mao verdadei r a adi ci onal . Os
pr ocessos de compr eenso no so
focalizados (Silva, 1996:87).
Trillo (1994:74), com base em Elliot
(1990), prope a di ferenci ao dos
distintos tipos de tarefas de maior ou
menor competncia cognitiva explicando
que:
as tar ef as de memr i as consi st em em
desen v ol v er a capaci dade de r ecor dar
i nfor mao na for ma que foi apresentada, o
obj eti vo das tarefas de compreenso consi ste
em reconstr ui r ou constr ui r o senti do a par ti r
da i nfor mao apresentada .
Os professores devem discutir/refletir
sobre o que realmente querem que os
alunos aprendam, para poster iormente
agirem de forma coerente na hora de avali-
los (Trillo, 1994: 74).
As tcnicas para o desenvolvimento
da compreenso poder i am ser mel hor
utilizadas, porm grande parte do tempo
consumido com o processo de avaliao.
O tempo que envolve professor/aluno em
testes, provas, exerccios, exames e outros,
desconect ado da r eal i dade,
comprometendo a carga horria por ser
exageradamente grande.
O excessivo nmero de provas, testes,
ou mesmo exames que realizam os alunos,
tornam reduzidas as atividades reflexivas
do professor com a sua cl asse. E, desse
modo, os professores, no tirando proveito
da avaliao para sua crtica/reflexiva sobre
os trabalhos objetos de avaliao, acabam
compr omet endo t odo o si st ema de
aprendizagem.
Em termos pr ti cos da avaliao, o
informe Cockroft (1985) por exemplo, faz
uma ampl a r evi so da aval i ao em
Matemti ca, pr i nci pal mente no ensi no
secundrio, de seu planejamento sobre a
avaliao em matemtica, introduzindo-lhe
novas t cni cas e i nst r ument os com o
objeti vo de obter i nfor maes sobre o
desenvolvimento da Matemtica na sala de
aula.
Por out r o l ado , Ni ss(1993) di z
claramente que as funes e efeitos dos
modos atuais de avaliao no esto claros;
os modos e prti cas da aval iao usual
i ncl uem i nt er esses em conf l i t os e
f i nal i dades di ver gent es que no se
ent endem e no se desej am.
Particularmente difcil levar a cabo, ao
mesmo t empo, modos de aval i ar que
permi tam:
valorizar de maneira vlida e confivel
conhecimento das insti tui es, das
capaci dades e as dest r ezas
rel aci onadas com a compreenso e
domni o da Mat emt i ca em seus
aspectos essenciais;
pr opor ci onar assi st nci a a cada
aprendiz individual mente mediante
assessoramento e melhora facilitando-
l he a aqui si o da compreenso e
domnio da Matemtica.
As respostas a este dilema envolvendo
a aval i ao e o cur r cul o, ci t ados
ant er i or ment e vi er am a par t i r do
documento sobre model os cur r i cul ares
el abor ado pel o Nat i onal Counci l of
Teacher s of Mat hemat i cs (NCTM)
compl ement ado com o est udo
monogrfico sobre avaliao: modelos para
a avaliao da Matemtica escolar editado
em 1995.
O fator motivador do NCTM, como
assinala Rico (1997) foi a ambiciosa reforma
cur r i cul ar da Matemt i ca nos Estados
Uni dos, si t uando-se sei s model os de
aval i ao: da Mat emt i ca, da
aprendizagem, da equidade, da abertura,
das inferncias e da coerncia.
Para situar a utilizao destes modelos,
Rico apresenta quatro categorias gerais de
cunho educativo, nas quais se recolhem,
de forma genrica, informaes sobre o
desempenho do aluno. So elas:
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 6 1
* Observar o progresso do aluno
* Tomar deciso relativa instruo
* Avaliar o progresso do aluno
* Aval i ar os pl anos cur r i cul ar es
(1997:16).
O mesmo autor ressalta a idia da
prtica desses modelos:
Par a desenvol ver a capaci dade
matemti ca em todos os est udantes, a
avaliao deve se apoiar na aprendizagem
mat emt i ca contnua de cada um dos
alunos (Rico; 1997:16).
As t r ansf or maes f undament ai s
suger i das pel o NCTM, r el at i vas aos
modelos para a avali ao, recomendam
avanar em algumas prticas e a recuar
ou abandonar outras.
Conforme resume Rico (1997: 16-17),
fundamentado no NCTM:
recomendado avanar:
* Na avaliao da capacidade matemtica
gl obal dos est udant es,
proporci onando a estes ml t i pl as
oportunidades para demonstr-la;
* Na comparao do progresso do aluno
com os critrios estabelecidos;
* No apoio e na confiana na valorizao
dada pelos professores;
* Na concepo da avaliao como um
pr ocesso pbl i co par t i ci pat i vo e
di nmi co;
* No desenvol vi mento de uma vi so
compar t i l hada do que deve ser
avaliado e como faz-lo;
* No uso dos resultados da avaliao para
assegurar que todos os estudantes tm
a oportunidades, de desenvolver seu
potenci al;
* Na coer nci a da aval i ao com o
currculo e a instruo;
* No uso de ml t i pl as f ont es de
evidncias;
* Na vi so dos est udant es como
participantes ativos no processo de
avaliao;
* Na considerao da avaliao como
um processo contnuo e recursivo;
* Na consi der ao de tudo que se
rel aci one com a aprendizagem em
Matemtica, sej am consi derados ou
levem-se em conta os resultados da
avaliao.
Tambm se recomenda que sej am
abandonadas as segui nt es pr t i cas
avaliativas:
* A aval i ao soment e do
conhecimento do al uno sobre eixos
especficos e destrezas isoladas;
* comparao da atuao de uns alunos
com os outros;
* Os planos do sistemas de avaliao que
no confia no juzo dos professores;
* A consi der ao do pr ocesso de
avali ao como secreto, exclusivo e
fi xo;
* A restrio do aluno a uma s forma
de demonstr ar seus conhecimentos
matemticos;
* O uso da avaliao como filtro para
seleci onar uns estudantes e excluir
out r os das opor t uni dades de
aprender Matemtica;
* O desenvol vi mento i ndi vi dual da
avaliao;
* O tratamento da avaliao como um
parte independente do currculo ou
da instruo;
* A realizao de inferncias baseando-
se somente em fontes de evidncias
restritas ou nicas;
* A viso do aluno como objetos da
avaliao;
* A considerao da avaliao como algo
espordico e conclusivo;
* A consi der ao de poucos pontos
6 2 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
quantificveis para gerar os resultados
da avaliao (Rico;1997:16-17).
O mesmo autor chama a ateno para
a carga i deol gi ca que sobressai nas
concepes e conheci ment os dos
pr of essor es de Mat emt i ca sobr e a
aval iao e a maneira de gestionar suas
funes.
Consideramos que a minimizao ou
superao dessas questes somente poder
surgir a partir de uma ampla reviso de
concei t os por par t e da comuni dade
docent e: pl anej ando sol ues em
pr of undi dade; buscando e t est ando
ensaios a respeito do assunto atravs da
obser vao da r eal i dade empr i ca e
especialistas.
O resultado dessas pesquisas impe
uma prof unda refl exo par a buscar as
causas das anomalias apresentadas tanto
no campo da avaliao como nas crenas
dos professores com relao natureza da
mat emt i ca e sua pr t i ca aval i at i va
declarada.
Esse pensamento sobre as causas em
par ti cul ar deve i r i nvar i avel mente na
direo da busca de solues.
Sentimo-nos no dever e em condies
de pontuar algumas das principais causas
justicadoras do resultado da pesquisa, cujos
f at or es condi ci onam a pr t i ca dos
docentes das escolas pblicas:
Fal t a de apoi o di dt i co par a
desenvol ver a aval i ao e a
Matemti ca;
Falta de motivao para o exerccio da
profisso, devido principal mente s
questes salariais e falta de um plano
de car reira coerente;
As causas so compl exas, t odavi a
poder -se i a t r abal har em busca das
solues, como por exemplo:
Plano de car reira urgente e reajuste
emer genci al par a pr of essor es e
funcionrios de escola;
Reduo da jornada de trabalho,
possibili tando aos professores mais
tempo de preparao de suas aulas;
Melhores condies de trabalho (por
exemplo, com computadores) para os
professores elaborarem suas provas ou
textos;
As escol as no possuem estrutur as
fi scas fi nancei r as e humanas par a
suprir as necessidades dos alunos.
Autor i zao para par tici pao em
congressos seminrios, palestras etc;
A volta de Jornadas Pedaggica (ciclo
de pal est r as sobre as di sci pl i nas
especficas e da avaliao ou eventos
similares);
Aulas de recuperao para alunos com
deficincias de embasamento;
Plano curricular compatvel, discutido
com a comunidade escolar;
Critrios de avaliao transparentes,
divulgados pelo setor pedaggico ou
professores.
Melhor reconhecimento por parte da
sociedade do trabalho desenvolvido
pelos professores, cujos status e salrio
foi dimi nuindo medida em que a
demanda pel o ensi no f oi
aumentando.
Mel hor adequao no cur so de
Licenciatura entre formao tcnica
e a formao didtica e humana dos
professores.
As solues listadas, se implantadas,
cer t ament e poder o di mi nui r as
distores educacionais existentes.
3 - Ref er nc i as
COCKCROFT, W.H. Las M at emt i cas si Cuent an.
Ministerio de Educacin y Ciencia. Espana.
GREFOL, 1985.
DAMBROSIO, Ubiratan. Soci o- Cul t ur al Bases f or
M a t h em a t i cs Ed u ca t i on . Campi nas:
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 6 3
UNICAMP. 103p, 1985.
FLIX, Vanderl ei S. Educao mat emt i ca no
ensi no mdi o: enf oque t er i co e pr t i co da
aval i ao pr at i cada pel os pr of essor es de
mat emt i ca da r ede pbl i ca de ensi no da r egi o
met r opol i t ana de Por t o Al egr e RS Br asi l . Tese
de doutorado. Departamento de Didtica e
Organizao Escolar. Faculdade de Filosofia
e Cincias da Educao. Universidade de
Santiago de Compostela. Espanha. 518 p.
1999.
FLIX, Vanderlei S. Concepo epistemolgica
da Mat emt i ca: anl i se evol ut i va das
principais correntes. Act a Sci ent i ae, ULBRA,
Canoas. n.1,mar./ jun. p.53-64,1999.
FLIX, Vanderlei S. A Matemtica no ensino
mdio aspectos t eor icos e pr ticos. Act a
Sci ent i ae, ULBRA, Canoas. n.2, jul ./ dez.
p.75, 1999.
I CME- 8, 8
t h
I n t er n a t i on a l Con gr ess on
M at hemat i cs Educat i on. Sevilla, Espaa, 14
al 21 de julio de 1996, 787p.
JOI NT COMMI TEE on St andar ds f or
Educat i onal Eval uat i on. The pr ogr ams,
pr oj ect s and mat er i al s. New York: MacGraw-
Hill, 1994.
NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF
MATHEMATICS. Cur r i cul um and eval uat i on
st andar ds f or school mat hemat i cs. Reston, VA:
NCTM, 1989.
NISS, Mogens. Assessment i n mat h emat i cs
Educat i on and i t s ef f ect s: An i nt r oduct i on i n:
i nvest i gat i ons i nt o Assessment i n mat hemat i cs
Educat i on An I CM I St udy. London/ Boston/
Dordrecht . Kluwer Academic Publ isher s,
1993.
PERRENOUD, Philippe. Aval i ao Regul ao
das Apr en di z agens en t r e du as l gi cas.
Traduo de Patrcia Chittoni Ramos Porto
Alegre: ARTMED, 1999.
RICO, L.. y equipo. Conoci mi ent os y cr eenci as de
l os pr of esor es de mat emat i cas sobr e eval uaci on.
Marzo de 1995. Granada, 1995.
TRILLO, Felipe. Aprendizaje de matemticas
desde a perspectiva del pensamiento del
alumno. in: UNO Revi st a de Di dct i ca de l as
mat emt i cas n
o
.13 Editora GRA, Barcelona.
pp. 103-113, 1997.
Can oas v.4 n. 1 p. 65 - 70 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Oficinas
Cur i osi dades Mat emt i c as
Fbi o Kr use
1 - I nt r odu o
A falta de motivao e interesse dos
al unos pel a Mat emt i ca um dos
principais problemas que fazem com que
o rendimento escolar nessa disciplina seja
desastroso nos trs nveis de ensino. I sto
ocor re porque, na gr ande mai or i a das
vezes, as aulas so montonas, sem relaes
com o cotidiano do aluno nem com outras
r eas do conheci ment o, e nada
desafiadoras. Conforme Dante (1991), um
dos pr i nci pai s obj et i vos do ensi no da
Mat emt i ca f azer o al uno pensar
produtivamente e, para isso, nada melhor
que apresentar-lhe situaes problemas que
o envolvem, o desafi em e o moti vem a
querer resolv-las.
H vri os anos tenho desenvolvido
atividades em sala de aula com o objetivo
de mostrar aos alunos que a disciplina de
Mat emt i ca uma ci nci a repl et a de
maravilhas e curiosidades que nos ajudam
a observar e entender melhor o mundo no
qual vivemos. Alm disso, interessante
fazer com que o al uno descubr a que a
Matemtica fez, faz e sempre far parte da
vida de todas as civilizaes, uma vez que
pr at i cament e t udo o que t ocamos ou
vemos est relacionado, de uma forma ou
de outra, com ela.
Par a t entar mudar este quadro de
marasmo e desnimo freqente nas aulas,
resolvi trazer atividades que despertassem
o interesse dos alunos, tais como mgicas,
br i ncadei r as e cur i osi dades que
envolvessem o contedo de Matemtica.
Esses momentos tor nar am-se especi ai s
para os alunos e er am aguardados com
grande expectativa. Cada vez que tnhamos
dois perodos conjugados (algo em torno
de 1 hora e 40 minutos), fazamos alguma
atividade diferente daquelas que os alunos
est avam acost umados. Er a o que
chamvamos de recrei o Mat emti co .
Porm, a idia no era apenas descontrair
a aula mas mostrar aos alunos inmeras
rel aes na qual a Mat emt i ca estava
Fbio Kruse Mestre em Matemtica Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor do Curso de Matemtica da Universidade
Luterana do Brasil- ULBRA e do Centro Universitrio FEEVALE.
6 6 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
inserida. Fazamos adivinhaes, mgicas
e, em cada br i ncadei r a, ver i fi cvamos
como e por que funcionava a atividade e,
para tanto, conhecimentos Matemticos
eram utilizados para justificar curiosidade
desenvolvida.
Apresento a seguir duas das atividades
desenvol vi das com os al unos e como
podemos aprovei tar a curi osi dade par a
retomarmos contedos j trabalhados.
2 - Quadr ados Mgi c os
Os quadrados mgicos j eram usados
pelos chineses h muito tempo atrs como
di ver so e passat empo. Chama-se de
quadrado mgico de ordem n aquele que
f or mado por nmer os nat ur ai s
consecutivos de 1 a n
2
, de modo que em
todas a l i nhas, colunas e diagnonai s se
tenha a nesna soma, chamada de constante
mgica.
Exempl o:
QQuadrado mgico de 3 ordem
CConstante mgica = 15
Pri meir amente, preci svamos saber
como obter o quadrado mgico, ou seja,
descobrir a regra de formao do mesmo.
Par a constr ui r um quadr ado mgi co de
mdulo mpar, ou seja, com um nmero
mpar de quadradinhos em cada l inha,
podemos proceder da seguinte maneira:
I niciamos com o nmero 1 colocado
no centro (meio) da 1 linha, ou seja:
O movi ment o a ser f ei t o par a
chegarmos prxima casa, onde ser
escrito o prximo nmero, sempre
o mesmo: uma casa para cima e uma
para a direita. Com esse movimento
poder acontecer o seguinte:
a. cair fora do quadrado mgico, ou seja,
no prolongamento de uma linha ou
col una. Nesse caso, escrevemos o
nmero na extremi dade oposta da
l inha ou col una. I sso i r acontecer
com os nmeros 2, 3, 8 e 9. Vamos
escrever os nmeros 2 e 3 !
Como o n 2 caiu no prolongamento
da 3 coluna, escrevemo-lo na extremidade
oposta dessa coluna.
O n 3 cai u for a do quadr ado, no
prolongamento da 2 linha; logo, deve ser
1
1 8 6
5 3 7
9 4 2
1
3
2
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 6 7
escrito na extremidade oposto dessa linha.
b. cair sobre uma casa j ocupada.
Nesse caso vol t a-se ao l t i mo n
escrito e escrevemos o prximo n abaixo
dele. I sso acontecer com o n 4. Vejamos:
O n 4 deveria ser colocado na casa
onde se encontr a o n 1. Como j est
ocupada, volta-se casa do n 3 e escreve-
se o n 4 abaixo dele.
c. cair no prolongamento da diagonal.
Nesse caso, a regra a mesma do item
b, ou seja, volta-se ao ltimo n escrito
e escreve-se o prximo n abaixo dele.
I sso acontecer com o nmero 7.
Concl ui ndo as r egr as, vamos
completar o quadrado mgico.
Com os nmeros 5 e 6 no haver
problema algum, ou seja, a casa estar
vazia.
O nmero 7 caiu no prolongamento
da diagonal. Logo, volta-se ao nmero
6 e escreve-se o nmero 7 abaixo dele.
O nmero 8 caiu no prolongamento
da 1 linha; logo, deve ser escrito na
extremidade oposta dessa linha.
O nmero 9 caiu no prolongamento
da 2 coluna; logo, deve ser escrito na
extrmidade oposta dessa coluna.
Essa regra vale, mas no nica, para
const r uo de quadr ados mgi cos de
mdulo mpar, ou seja, com um nmero
mpar de casas em cada l i nha. Tent e
const r ui r os quadr ados mgi cos de
mdul o 5 e mdul o 7. Confi r a com os
quadrados abaixo.
Constante mgica = 65
1
3
4 2
1 8 6
5 3 7
9 4 2
24 17 1
5 23 7
6 4 13
12 10 19
18 11 25
8 15
14 16
20 22
21 3
2 9
6 8 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
Agor a os alunos devem observar os
quadrados e escrever todas as propriedades
constatadas. Os al unos provavel mente
concluiro que:
O l t i mo nmero a ser col ocado
sempre cai na metade da ltima linha;
Para saber qual o nmero que ir no
cent ro do quadr ado mgi co, basta
f azer a mdi a ar i t mt i ca ent r e o
primeiro e o ltimo nmero colocado;
Uma das diagonais e constituda por
nmeros consecutivos, ou seja, uma
pr ogr esso ar i t mt i ca de r azo
uni tri a;
Para saber qual a soma dos nmeros
de uma l inha, col una ou di agonal ,
basta multiplicar o nmero que est
no centro do quadrado mgico pelo
nmero de casas que ele tem em uma
l i nha, ou sej a, pel a or dem do
quadr ado.
Exemplo: 13 x 5 = 65 ; 25 x 7 = 175
A col una cent r al f or ma uma
progresso aritmtica cuja razo o
nmero de l i nhas + 1, ou sej a, a
ordem do quadrado
n, mais 1 ( r = n
+ 1).
Exempl os:
Quadrado mgico mdulo 3 : P.A (1,
5, 9) razo = 3 + 1
r = 4
Quadrado mgico mdulo 5 : P.A (1,
7, 13, 19, 25) razo = 5 + 1
r = 6
Quadrado mgico mdulo 7 : P.A (1,
9, 17, 25, 33, 41, 49) razo = 7 + 1
r
= 8
A soma dos nmeros que esto nos 4
cantos do quadrado mgico igual ao
qudr upl o do nmero que est no
centro (nmero central).
A mdia dos nmeros que esto nas
extremidades de cada diagonal resulta
no nmero que est no centro do
quadrado mgico.
Na li nha e na coluna centrais, bem
como nas di agonai s, a soma dos
extremos igual soma dos nmeros
eqidistantes dos extremos e igual ao
dobro do nmero central.
Aps estas e, possi vel mente, outr as
observaes, pergunta-se aos alunos:
2.1 Se um quadr ado mgi c o
t em or dem mpar n, c omo
obt er o t er mo c ent r al ?
Resposta:
1
2
2
+ n
Observe que 1 o 1 termo da P.A e
n
2
, o ltimo.
39 30 48
47 38 7
6 46 8
14 5 16
15 13 24
1 10
9 18
17 26
25
34
33 42
19
27
35
36
44
28
29
37
45
4
23 21 32
31 22 40
41
43
49 2
3
11
12
20
Constante mgica (soma de cada linha,
coluna e diagonal) = 175
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 6 9
2.2 Como ac har a c onst ant e
m g i c a d e u m q u a d r a d o
mgi c o de or dem mpar n ?
Resposta:
( ). 1
2
2
+ n n
Compare a resposta acima com a soma
dos termos de uma progresso aritmtica:
S
a a n
n
n
=
+ ( ).
1
2
3 - Desc ober t a da Car t a
Esc ondi da
Esta uma brincadeira que pode ser
feita com todos os alunos da turma. Pegue
um baralho e pea para que cada aluno
retire uma carta do mesmo. Em seguida,
escreva no quadro a seguinte conveno:
Val. Da. Rei s
Carta: 2 3 4 9 10 11 12 13 14
Valor do naipe:
Paus: 1
Copas: 2
Ouros: 3
Espadas: 4
O pr of essor dar as segui nt es
instrues aos alunos:
Multiplicar por 2 o valor da carta
Somar 3 ao resultado
Multiplicar a soma obtida por 5
Somar o valor do naipe da carta
Par a descobr i r a car ta do al uno, o
professor pedi r a ele o resultado fi nal
obtido e subtrair 15 unidades. O algarismo
das unidades indicar o naipe da carta e
o(s) algarismo(s) anteriores revelaro o valor
da carta.
Exemplo: Car ta sel eci onada pel o
aluno: dama de ouros
Seguindo as instrues, temos:
valor da carta: 12 valor do naipe: 3
12 . 2 = 24
24 + 3 = 27
27 . 5 = 135
135 + 3 = 138
resultado final
Subtraindo 15 unidades, obtemos:
1 3 8
- 1 5
12 3
3 : valor do naipe
+
12 : valor da carta
A l gebra nos demonstra o motivo
pelo qual precisamos subtrair 15 unidades
para chegarmos carta selecionada pelo
al uno (val or e nai pe). Consi deremos a
seguinte conveno:
Valor da carta : a
Valor do naipe : b
Seguindo as instrues, obtemos:
2a
2a + 3
5.(2a + 3) = 10a + 15
10a + b + 15
Subtraindo 15 unidades do resultado
anterior, obtemos: 10a + b = ab , onde b
indica o valor do naipe e a o valor da carta.
Perguntas:
3.1 possvel que um aluno chegue ao
resultado 74? Por qu ?
3.2Qual a carta de um aluno que obteve
como resultado 137 ?
3.3Se a carta de um aluno for um 8 de
7 0 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
ouros, qual ser o resultado obtido por
ele?
Para finalizar, pode-se observar que
mui t os al unos comear am a t er uma
postur a di ferente frente Matemti ca,
gostando das aul as, dedicando-se mais,
mostr ando um maior i nteresse, levando
para dentro de casa as brincadeiras feitas
em sala de aula e, felizmente, melhorando
seus rendimentos.
4 - Ref er nc i as
CHEMALE, E. H. e KRUSE, F. Cu r i osi dades
M at emt i cas. Novo Hamburgo: Feeval e,
1999.
DANTE, L. R. Algumas reflexes sobre educao
matemtica. Temas & Debat es - SBEM, n 3,
p.43-50 , 1991.
IMENES, L. M. Vi vendo a mat emt i ca: br i ncando
com nmer os. So Paulo: Scipione, 1987.
GARDNER, M. En t er t ai ni n g mat h emat i cal
puzzl es. New York: Dover, 1996.
CLARKE, B. Puzzl es f or pl easur e. Cambridge:
Cambridge University, 1994.
TAHAN, M. M at emt i ca di ver t i da e cur i osa. 6
ed. Rio de Janeiro: Record, 1995.
Can oas v.4 n. 1 p. 71 - 74 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Oficinas
Apr endendo Mat emt i c a nos
Ci cl os I ni c i ai s
Luz dos PCNs
Gl adi s Bl ument hal
1 - Desenvol vi ment o da
of i c i na
O ensino da Matemtica no Brasil, nos
ci cl os i ni ci ai s, tem passado por mui tas
modificaes ao longo das ltimas dcadas,
conseqncia das diferentes reformas de
ensino. E o fracasso escolar, em especial,
na Matemti ca conti nua. El a cont i nua
sendo considerada o filtro crtico (Sells,
apud Bl ument hal , 1983) do si st ema
educacional.
Os Par met r os Cur r i cul ar es
Naci onais, em fase de implantao nas
nossas escol as, t r azem pr i ncpi os
i mpor t ant es que podem, se bem
implementados, contribuir para o avano
e mel hor i a do ensi no da Mat emti ca.
Enfatizam o ensinar a pensar, a interao
social, afetiva e cognitiva em sala de aula,
os trabalhos em pequenos grupos, as inter-
relaes entre os contedos aritmticos,
algbricos e geomtricos, as intraconexes
entre as diferentes reas do conhecimento,
entre outros.
Os ci cl os i ni ci ai s so fundamentai s
para desenvolver no aluno a confiana em
si mesmo como um ser que pensa, que tem
vontade de saber e conhecer cada vez mais.
A curiosidade infantil, inerente a essa faixa
etria, a sua criatividade e o gosto pela
Matemtica devem ser estimulados. Dada
a importncia do trabalho realizado nos
Ci cl os I ni ci ai s, t or na-se necessr i o
apr of undar o est udo dos cont edos
matemticos nos Cursos de Formao de
Pr of essor es, associ ado ao est udo da
Psicologia da Aprendizagem Matemtica.
As i di as bsi cas cont i das nos
Par metros Cur r i cul ares Naci onais, em
Matemtica refletem, muito mais do que
uma mer a mudana de contedos, uma
mudana de f i l osof i a de en si n o e de
aprendi zagem, como no poderia deixar de
ser. Apont am par a a necessi dade de
mudanas urgentes no s no o que
Mestre em Educao pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora Assistente, aposentada, da Faculdade de Educao da UFRGS. E-mail:
blumntal@portoweb.com.br
R.Prof.Fitzgerald,169. Porto Alegre/RS. 90470-160. Brasil. F: (0xx51) 3331-3767.
7 2 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
ensinar, mas, principalmente, no como
ensinar e avaliar e no como organizar as
situaes de ensino e de aprendi zagem
(Blumenthal, 2000).
O papel da Matemtica no Ensino
Fundamental como meio facilitador para
a estr utur ao e o desenvolvi mento do
pensament o do(a) al uno(a) e par a a
f or mao bsi ca de sua ci dadani a
dest acado: ... i mpor t ant e que a
Matemtica desempenhe, equi li brada e
indissociavelmente, seu papel na formao
de capaci dades i nt el ect uai s, na
estruturao do pensamento, na agilizao
do raciocnio dedutivo do aluno, na sua
aplicao a problemas, situaes da vida
cot i di ana e at i vi dades do mundo do
t r abal ho e no apoi o const r uo de
conheci ment os em out r as r eas
cur riculares. E mais adiante: Falar em
formao bsica para a cidadania significa
falar da insero das pessoas no mundo
do tr abal ho, das rel aes soci ai s e da
cul t ur a, no mbi t o da soci edade
br asi l ei r a(MEC/SEF, 1997, p. 29). Ao
referir-se pluralidade das etnias existentes
no Br asi l, di ver si dade e ri queza de
conheci mento matemti co que nosso(a)
aluno(a) j traz para a sala de aula, enfatiza-
se nos PCNs que o ensino da Matemtica,
a par da valorizao da pluralidade scio-
cultural do(a) educando(a), pode colaborar
para a transcendncia do seu espao social
e par a sua par t i ci pao at i va na
transformao do seu meio.
Os contedos matemticos nos Ciclos
I ni ci ai s, como em t odo o Ensi no
Fundamental passam a ser organizados e
tr abal hados em bl ocos, evi denci ando a
importncia de se organizar as situaes
de ensi no-apr endi zagem de modo a
pr i vi l egi ar as rel aes entre cont edos
aritmticos, algbricos e geomtricos, bem
como as interconexes da Matemtica com
as demai s reas do conheci ment o. Os
blocos so os seguintes :
Nmeros e operaes (Aritmtica e
lgebra)
Espao e formas (Geometria)
Gr andezas e medi das (Ar i t mt i ca,
lgebra e Geometria)
Tr at ament o da i nf or mao
(Est at st i ca, Combi nat r i a e
Probabilidade)
As intraconexes favorecem uma viso
mais integrada, menos compartimentada
da Matemtica. Al gumas orientaes de
cunho di dt i co so col ocadas ao()
professor(a), atravs de exemplos prticos,
most r ando que possvel i nt er l i gar
Ari tmti ca com a l gebra ou Ar itmtica
com a lgebra e a Geometria, numa mesma
ati vi dade. (MEC/SEF, 1997, p. 97-133;
MEC/SEF, 1998, p. 95-142). Na oficina
t er emos opor t uni dade de vi venci ar
algumas atividades.
Por outro lado, as interconexes tm
nos Temas Tr ansver sai s - tica, Sade,
Meio Ambi ente, Pl ur al i dade Cul tur al e
Ori entao Sexual - uma infini dade de
possibilidades de se concretizarem. Para
isso, torna-se necessrio que o professor
trabalhe cada vez mai s com col egas de
outras disciplinas, integrando uma equipe
interdisciplinar. A interao social, afetiva
e cognitiva entre os alunos permitir que
os projetos desenvolvidos se tornem mais
interessantes e possam estar mais voltados
a problemas da realidade.
O desenvolvimento de projetos, em
que a Matemtica pode explorar problemas
e entrar com subsdios para a compreenso
dos temas envolvidos tem trazido, alm da
angstia diante do novo, satisfao e alegria
ao() professor(a) diante dos resultados
obtidos, segundo seus relatos. A confiana
na prpria capacidade e na dos outros para
construi r conhecimentos matemticos, o
respeito forma de pensar dos colegas so
al guns t emas i nt er essant es a ser em
t r abal hados, ao se pensar no como
desenvolver o tema transversal tica, por
exemplo. Para os temas transversais como
Mei o Ambi ent e e Sade h i di as
matemti cas mui to adequadas e tei s:
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 7 3
mdias, reas, volumes, proporcionalidade
e funo entre outras tantas. A questo do
raci onamento de energi a el trica, neste
moment o t o i mpor t ant e par a os
brasileiros, o horrio de vero, a falta de
gua, as quest es rel aci onadas com a
higiene e a sade pblica, apenas para citar
al guns, podem ser font e de i nmer as
atividades que envolvam matemtica. O(a)
professor(a) saber, certamente, adequar
sua realidade, projetos interessantes. Para
isso, preciso se permitir trilhar caminhos
novos e tolerar possveis er ros e mudanas
de rumo.
Os obj et i vos par a o Ensi no
Fundamental de acordo com os PCNs, e
aqui trazidos de modo resumido, visam a
levar o aluno a compreender e transformar
o mundo sua volta, estabelecer relaes
qual i t at i vas e quant i t at i vas, r esol ver
si t uaes-pr obl ema, comuni car -se
mat emat i cament e, est abel ecer as
i nt r aconexes mat emt i cas e as
i nt erconexes com as demai s reas do
conheci ment o, desenvol ver sua
autoconfiana no seu fazer matemtico e
interagir adequadamente com seus pares.
A Mat emt i ca pode col abor ar par a o
desenvolvimento de novas competncias,
novos conheci ment os, par a o
desenvolvimento de diferentes tecnologias
e li nguagens que o mundo gl obal i zado
exige das pessoas. Para tal, o ensino de
Matemti ca prestar sua contri bui o
medi da que f or em expl or adas
metodologias que priorizem a criao de
estratgias, a comprovao, a justificativa,
a argument ao, o espr i t o cr t i co, e
f avor eam a cr i at i vi dade, o t r abal ho
coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia
advinda do desenvolvimento da confiana
na pr pr i a capaci dade de conhecer e
enfrentar desafios .(MEC/SEF, 1997, p.
31).
Os cont edos nos PCNs no so
ent endi dos como uma l i st agem de
contedos. Enfatiza-se a necessidade de
entender a palavra contedo basicamente em
trs dimenses: conceitos, procedimentos
e ati tudes. Val or i za-se, por tanto, mui to
mais a compreenso das idias matemticas
e o modo como est as ser o buscadas
(podendo esse modo de busca ser
estendido e aplicado para as demais reas
do conheci ment o) do que a sua
sistematizao, muitas das vezes vazia de
si gni f i cado. Ent ende-se os cont edos
como um mei o par a se desenvol ver
atitudes positivas diante do saber em geral
e do saber matemtico, em particular. O
gosto pel a Mat emti ca e o i ncent i vo a
procedi ment os de busca expl or at r i a,
desenvolvendo uma atitude investigativa
diante de situaes-probl ema propostas
pelo(a) professor(a) so alguns exemplos
dessa compreenso mais ampla do que
ensi nar e apr ender em
Matemtica.(Blumenthal, 2000).
At r avs da i mpl ement ao dos
Par metros Cur r i cul ares Naci onai s em
Matemtica busca-se tambm:
El i mi nar o ensi no mecni co da
Matemti ca;
Priorizar a resoluo de problemas em
vez de exerccios;
Usar o contedo como mei o par a
desenvol ver i di as mat emt i cas
f undament ai s (proporci onal i dade,
equi val nci a, i gual dade, i ncl uso,
funo, entre outras);
Enf ati zar o ensi no da Geomet r i a,
pr at i cament e abandonado ou
relegado a um segundo plano, nos dias
de hoje;
I nt roduzi r noes de Est at st i ca e
Probabilidade e estimativa desde os
Ciclos I niciais;
Organizar os contedos em espiral e
no linearmente, desprivilegiando a
idia de pr-requisitos como condio
nica para a organizao dos mesmos;
Usar a histria da Matemtica como
auxiliar na compreenso de conceitos
7 4 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
matemticos;
Revi gor ar o cl cul o ment al , em
detrimento da Matemtica do papel
e lpis ;
Usar recursos didticos, como jogos
e r ecur sos t ecnol gi cos, como
calculadoras e computadores durante
todo o Fundamental , i ncl usi ve nos
Ciclos I niciais;
Enfati zar em cl asse o tr abal ho em
pequenos grupos;
Dar especi al at eno aos
procedimentos e s atitudes a serem
t r abal hadas, al m dos cont edos
propr i ament e di t os, como j f oi
mencionado acima e
Ent ender a aval i ao como um
pr ocesso cont nuo no f azer
pedaggico.
Muitos pases j passaram por essas
reformulaes, com maior ou menor grau
de sucesso. Nos PCN s h avanos
i mpor t ant es. El es so par met r os,
delineadores e no determinadores da ao
pedaggica. Devem ser entendidos como
norteadores do fazer matemti co e no
como uma listagem de contedos, sejam
mnimos ou mximos.
O mai s i mpor t ant e, no nosso
entender, a mudana da postur a do
professor(a) em sala de aula. s vezes ter
que fazer as pazes com a Matemtica, ou
seja, super ar suas prpri as dificuldades
pessoai s par a com a Mat emt i ca.
Concomi t ant ement e, ao se per mi t i r
exper i ment ar modos i novador es de
trabalhar determinados contedos antigos
ou novos, dever admitir que pode errar
(sim, o professor tambm er ra!) e que sua
classe seu laboratrio. Portanto, espao
de descober tas e de redescober tas, de
realinhamentos, de angstia e de prazer no
caminho do saber.
Fi ca evi dent e a necessi dade do()
professor(a) passar por vivncias pessoais
de aprendizagem matemti ca nas quai s
possa conscientizar o seu prprio pensar
(a chamada meta-cognio). Vivncias que
sej am pr azerosas. O esp r i t o dos PCNs
poder , t al vez, assi m, ser mel hor
compreendi do, per mi t i ndo que novas
abordagens sejam introduzidas e outras,
sejam mantidas ou modificadas.
Nesta oficina destacaremos as idias
bsicas dos PCNs para os Ciclos I niciais
aqui apr esent adas, as di scut i r emos,
vi venci aremos al gumas ati vi dades que
sero analisadas pelo grupo e trocaremos
exper i nci as advi ndas da pr t i ca
pedaggica dos participantes do grupo.
Ref er nc i as
BLUMENTHAL, GLADIS R.W. Anl i se das
d i f er en as r el aci on a da s com o sex o n o
Desempenh o em mat emt i ca no con cu r so
vest i bul ar uni f i cado e na escol ha pr of i ssi onal
do est udant e. Por t o Al egre, Facul dade de
Educao da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, 1983. 105 p. Dissertao
de Mestrado.
_________________________. Os PCNs e o
ensino fundamental em matemtica: um
avano ou um r et r ocesso? In: Educao
M at emt i ca em Revi st a RS, n2, 2000, Ano
II, p. 17-20.
PARMETROS Cur riculares Nacionais (1 a 4
srie): matemtica / Secretaria de Educao
Fundament al . Br asl ia: MEC/ SEF, 1997.
142 p.
PARMETROS Cur r i cul ar es Naci onai s :
mat emt i ca / Secr et ar i a de Educao
Fundament al . Br asl ia: MEC/ SEF, 1998.
146 p.
Can oas v.4 n. 1 p. 75 - 79 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Oficinas
Rec ur sos Gr f i c os do Sof t war e
MuPAD no Est udo de Fun es
M ar i l ai ne de Fr aga Sant 'Ana
Al exandr e Gat el l i
Ana Lci a M aci el
1 - I nt r odu o
Dentre os cont edos mat emti cos
abordados no Ensino Mdi o, as funes
tm importncia fundamental no que se
refere model agem mat emt i ca e ao
chamado pr-clculo. Freqentemente os
alunos que ingressam na Universidade em
cursos das reas de exatas ou engenharias
apresent am mui t as def i ci nci as nest e
assunto. Esta , com cer teza, uma das
razes do alto ndi ce de reprovao em
disciplinas como Clculo I .
Por outro lado, dispomos atualmente
de vrias ferramentas computacionais que
podem servir de auxlio na motivao do
al uno par a o est udo de f unes e
vi sual i zao das mesmas at r avs de
recursos grficos.
Uma destas fer ramentas o software
MuPAD, que of er ece bons r ecur sos
computacionais alm de ter uma ver so
Light que pode ser usada sem custos para
fins educacionais.
O objetivo desta oficina abordar o
assunto "funes", uti l i zando o MuPAD
tanto para modelagem de fenmenos como
para a visualizao grfica.
A Met odol ogi a ut i l i zada a
modelagem de situaes cotidianas atravs
de funes e a utilizao do software para
a aval i ao dos dados e est udo do
compor tament o gr f i co, enfat i zando a
comparao entre grficos de diferentes
funes de uma mesma famlia de curvas.
2 - Obj et i vos
Abordar alguns exemplos que trazem
tona os conceitos de funes, bem
como a utilidade das mesmas;
Most r ar aos pr of essor es de
matemtica que o contedo de sua
disciplina pode ser abordado atravs
de exemplos prticos da vida real e
com o auxlio do computador, que est
Marilaine de Fraga SantAna doutora em matemtica e professora do Curso de Matemtica da ULBRA
Alexandre Gatelli acadmico do Curso de Matemtica da ULBRA
Ana Lcia Maciel acadmica do Curso de Matemtica da ULBRA
7 6 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
cada vez mais em uso na sociedade
atual;
I ntroduzir o software MuPAD Li ght
(da Uni ver si dade de Pader bor n,
Alemanha), que muito poderoso em
recursos matemticos de quase todas
as categorias, desde lgebra numrica
si mpl es at o cl cul o di ferenci al e
i ntegr al e o uso de gr fi cos . Este
software de uso gratuito para fins
educacionais e de pesquisa. Todos os
alunos da oficina recebero uma folha
com os exemplos e um resumo dos
comandos do MuPAD a ser em
utilizados.
3 - At i vi dades
Atividades destinadas a trabalhar os
exemplos a serem dados utilizando-se o
computador e o software MuPAD sero
propostas aos alunos da oficina. Aps a
introduo terica de cada exemplo a ser
trabalhado as seguintes atividades sero
dadas, para serem executadas pelos alunos:
Def i ni r as f unes dadas em cada
"exemplo" no software MuPAD;
Mont ar no cader no as t abel as de
valores para as funes definidas no
MuPAD em cada exemplo usando-se
o software para calcular tais valores;
Montar no computador os gr fi cos
das funes defini das no software e
atr ibui r vri as caracter sticas a elas
como l i nhas de gr ade, r tul os nos
eixos, valores a serem marcados nos
eixos e intervalo de domnio para a
plotagem.
Variar alguns parmetros das funes
de modo a obter grficos semelhantes
funo original. Para cada valor atribudo
a um nico parmetro que ser escolhido
para variar na funo original, dever-se-
defini r uma nova funo no MuPAD de
modo que, ao fim do processo, tenhamos
f aml i as de quat r o ou mai s f unes
semelhantes para plotar curvas de nvel.
4 - Ex empl os a Ser em
Tr a b a l h a d o s n a s
At i vi dades
4.1 Sal t o Ol mpi c o c om Var a
Ao longo dos anos iniciais dos Jogos
Olmpicos, a marca vencedora do salto com
var a t eve um cr esci ment o dado
aproximadamente pela Tabela 1. Como a
marca vencedora cresceu com regularidade
20 centmetros a cada quatro anos, v-se
que a al tur a do sal to vencedor uma
f uno l i near do t empo ao l ongo do
perodo de 1900 a 1912. A marca inicial
de 3,33 m e cresce o equivalente a 5.
Ser abordado pela oficina apenas a
lgebra bsica de funes e a montagem
dos gr fi cos das mesmas.cm todo ano;
assim, se y a altura em metros e t o
nmero de anos desde 1900, podemos
escrever
( ) t t f y 05 , 0 33 , 3 + = =
O coeficiente 0,05 nos informa a taxa
em que a altura cresce, e chamada de
inclinao da reta ( ) t t f 05 , 0 33 , 3 + =
TABELA 1 Recordes do salto com
vara olmpico (aproximado)
Ano 1900 1904 1908 1912
Altura (m) 3,33 3,53 3,73 3,93
A inclinao a razo
05 , 0
4
2 , 0
= = =
horizontal incremento
vertical incremento
Inclinao
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 7 7
Onde 0,2 a variao na altura, em
metros, ao longo de 4 anos. O clculo da
inclinao (inclinao vertical / inclinao
horizontal) usando quaisquer outros dois
pontos da reta resulta no mesmo valor.
este fato de que a inclinao ou taxa de
variao igual em toda parte que faz
com que o grfico seja uma reta. Para uma
( ) t t f 05 , 0 33 , 3 + =
funo que no linear, a taxa de variao
ir mudar de ponto a ponto.
Como ( ) t f y = cresce com t, dizemos
que f uma funo crescente. E quanto
constante 3,33? El a representa a marca
i ni ci al em 1900, quando
0 = t
Geometr i camente, o 3,33 o pont o de
i nter seo com o eixo vertical.
Voc pode estar se perguntando se a
tendnci a li near permanece aps 1912.
No de surpreender que ela no tenha se
mantido exatamente.
A frmula
prev que a marca vencedora dos Jogos
Olmpicos de 1988 seria de 7,73 metros,
que consideravelmente maior do que o
valor real de 6,06 metros. De fato, a marca
tem crescido em quase toda a sesso das
Olimpadas, mas no a uma taxa constante.
Por conseguinte, fica claro que perigoso
ext r apol ar mui t o al m dos dados
conheci dos. Voc tambm deve observar
que os dados da Tabela 1.4 so di scretos,
pois so fornecidos somente em pontos
especf i cos (a cada quat r o anos).
Entretanto, ns temos tratado a varivel t
como se fosse con t nu a, poi s a funo
t y 05 , 0 33 , 3 + = faz sentido para todos os
valores de t.
4.2 Tom Musi c al
O t om de uma not a musi cal
determinado pela freqncia da vibrao
que a gerou. O D mdio no piano, por
exemplo, corresponde a uma freqncia de
263 hertz (ciclos por segundo). Uma nota
uma oitava acima do D mdio vibra em
526 hertz, e uma nota duas oitavas acima
TABELA 2 Tom das notas acima do D mdio
Nmero n de oitavas
acima do D mdio
Nmero de hertz
( ) n f V =
0 263
1 526
2 1052
3 2104
4 4208
TABELA 3 Tom das notas abaixo do D mdio
n
n
V 2 263 =
-3
( ) 875 , 32 2 / 1 263 2 263
3 3
= =
-2
( ) 75 , 65 2 / 1 263 2 263
2 2
= =
-1
( ) 5 , 131 2 / 1 263 2 263
1
= =
0
263 2 263
0
=
Observe que
2
263
526
= e 2
526
1052
= e 2
1052
2104
=
( )
( )
( )
3
2
1
2 263 2 1052 2104 3
2 263 2 526 1052 2
2 263 2 263 526 1
= = =
= = =
= = =
f
f
f
Em geral,
( )
n
n f V 2 263 = =
A base 2 representa o fato de que,
quando se sobe uma oitava, a freqncia
da vibrao dobra. De fato, nossos ouvidos
i dentificam uma nota como sendo uma
oitava acima, justamente porque ela vibra
duas vezes mais rpido. Para os valores
negativos de n, na Tabela 3, essa funo
representa as oitavas abaixo do D mdio.
As notas em um piano so representadas
por valores de n entre 3 e 4, e o ouvido
humano percebe valores de n entre 4 e 7
do D mdio vibra em 1052 hertz. (Veja a
Tabela 2).
7 8 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
como audveis.
Apesar de
( )
n
n f V 2 263 = =
azer
sentido, em termos musicais, somente para
alguns valores de n, os valores da funo
( )
x
x f 2 263 =
podem ser calculados para
todo x real, e seu grfico tem a forma tpica
de uma exponencial, como pode ser visto
na Fi gur a 1. El e cncavo par a ci ma,
subindo cada vez mais r pido a medida
que x aumenta.
FI GURA 1 Tom em nmero de oitavas acima do D mdio
4 . 3 Ac mu l o d a
Quant i dade de Dr oga
Suponha que queremos model ar a
quant i dade de dr oga no or gani smo.
I magine que a quantidade inicial zero,
mas que a mesma comea a cr escer,
vagarosamente, vi a i nj eo i ntravenosa
contnua. medida que a quantidade da
droga no organi smo aumenta, tambm
cresce a taxa na qual o corpo elimina a
droga, de modo que, eventual mente, a
quantidade de droga tende a nivelar-se em
um val or de satur ao S. O gr fi co da
quanti dade ver sus tempo ser parecido
com o da Figura 2.
FI GURA 2 Acmulo da quantidade de droga no organismo
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 7 9
Observe que a quantidade, Q, comea
em zero e cresce na direo de S. Dizemos
que a r et a r epresent ando o nvel de
saturao uma assntota horizontal, pois
o grfico se aproxima cada vez mais dela,
na medida em que o tempo avana. Como
a quantidade de droga aumenta a uma taxa
que di mi nui na medi da em que a
quantidade se aproxima de S, o seu grfico
torto para baixo; e da, ele cncavo para
baixo.
Suponha que queiramos montar um
modelo matemtico par a essa si tuao,
isto , queremos encontrar uma frmula
que expresse a quantidade Q em funo
do tempo t. Obter um modelo matemtico
implica, muitas vezes, observar um grfico
e decidir que tipo de funo tem aquela
forma. O grfico da Figura 4 se parece com
uma funo de decaimento exponencial,
de cabea para baixo. O que real mente
decai a di f er ena ent r e o nvel de
saturao, S, e a quantidade de droga, Q,
no sangue. Suponha que a diferena entre
o nvel de satur ao e a quantidade de
droga no corpo seja dada pela frmula
com t em horas. Como a diferena
Q S e o valor inicial dessa diferena
S S = 0
( )
t
S Q S 3 , 0 =
Resolvendo para Q em funo de t,
obtemos
( )
( ) ( ) ( ). 3 , 0 1
3 , 0
t
t
S t f Q
S S Q
= =
=
( ) ( )
t
inicial Diferena Diferena 3 , 0 =
Observe que o grfico dessa funo
uma exponencial de cabea para baixo.
medida que t aumenta, diminui, de modo
que Q se aproxima de S. Usando para
denotar "tende para", podemos dizer que
quando. I sso mostra que
( ) ( ) ( ) S S S Q
t
= = 0 1 3 , 0 1
quando
t
confirmando que o grfico de
( ) ( )
t
S Q 3 , 0 1 =
tem uma assntota horizontal em
S Q = .
Ref er nc i as
ANTON, Howard. Cl cul o Um Novo Hor i zont e.
Vol. 1. 6 ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.
HUGHES-HALLETT, Deborah. M. GLEASON,
Andrew. et al. Cl cul o. Vol.1. Rio de Janeiro:
LTC, 1997.
STEWART, James. Cl cul o. Vol. 1. 4 ed. So
Paulo: Pioneira-Thomson Lear ning, 2001.
Can oas v.4 n. 1 p. 81 - 83 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Oficinas
Tr i gonomet r i a: Um enf oque
pr t i c o
M ar i sa Kr ause Fer r o
Este t r abal ho t em por obj et i vos a
compreenso e a construo do pr prio
conhecimento e conhecer a evoluo e a
apl i cao da tr i gonometr i a atr avs dos
tempos utilizando as mesmas tcnicas dos
seus ment ores par a a const r uo dos
concei t os t r i gonomt r i cos e sua
aplicabilidade no cotidiano.
Os aspectos enfocados na evoluo
histrica iniciam com a fundao da cidade
de Alexandria, por volta de 322 a.C, e sua
ext r aor di nr i a ef l or escnci a de
empreendimentos intelectuais da histria
da humanidade, vislumbrando as grandes
obr as da matemt i ca; O Al maj est o, O
Siddhanta e a introduo do raio unitrio
na tr i gonometr i a hi ndu pel o r abe Al -
Bat t ani . Abor dando t ambm as
contribuies de Arquimedes de Saracusa,
Aristarco de Samos, Hero de Alexandria,
Erasttenes, Ptolomeu, Hiparco, Pitgoras
e concl ui ndo no scul o XI I com a
traduo dos textos do rabe para o latim.
As et apas do desenvol vi ment o
abrangem a construo dos conceitos de
razo trigonomtrica, situaes problema,
t r i gonomet r i a no t r i ngul o retngul o,
problemas clssicos da trigonometria e suas
apl i caes pr t i cas. Par a i sso ut i l i za e
conf ecci ona r ecur sos mat er i ai s na
det er mi nao de val ores das f unes
trigonomtricas e suas relaes.
Const r uo do mat er i al pr t i co e
utilizao na determinao dos valores das
funes trigonomtricas.
Construo do ciclo trigonomtrico.
Mar car numa f ol ha de papel
mi l i met r ado um si st ema de ei xos
coordenados, convencionando de eixo x,
o eixo horizontal e o eixo y, o eixo vertical.
Chamaremos de origem o ponto 0 de
interseco dos eixos, e com a ponta seca
do compasso apoi ada na or i gem
traaremos uma circunferncia de 10 cm
de raio, aps dividiremos a circunferncia
em 24 par t es i guai s, f azendo
cor responder cada set or ci rcul ar a um
ngulo de 15 graus. Chamaremos de ponto
A, o ponto de interseco da circunferncia
com o eixo x e de B o ponto de interseco
com o eixo y, convencionamos chamar de
grau 0, o ngulo nulo determinando entre
o raio AO e o eixo x e partir desse ngulo
det er mi nar emos os demai s ngul os,
Marisa Krause Ferro Professora do Curso de Matemtica da Universidade Luterana do Brasil; Especializao em Educao Especial; Doutoranda em
Educao.
8 2 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
seguindo a orientao do sentido contrrio
aos dos ponteiros do relgio (sentido anti-
horrio).
A ci r cunf er nci a assi m di vi di da
determinou ngulos de 15
0
, 30
0
, 45
0
,
60
0
,
75
0
, 90
0
, 105
0
, 120
0
, 135
0
, 150
0
, 165
0
, 180
0
,
195
0
, 210
0
, 225
0
, 240
0
, 265
0
, 270
0
, 285
0
,
300
0
, 315
0
, 330
0
, 345
0
e 360
0
. A segui r
construiremos uma tabela par determinar
os val ores das f unes seno, co-seno,
t angent e, secant e, co-secant e
cor respondent e aos ngul os cent r ai s
determinados anteriormente.
Para determinar os valores da funo
co-seno, faremos a projeo ortogonal dos
respectivos raios 15
0
, 30
0
, 45
0
,
60
0
, 75
0
, 90
0
,
105
0
, 120
0
, 135
0
, 150
0
, 165
0
, 180
0
, 195
0
,
210
0
, 225
0
, 240
0
, 265
0
, 270
0
, 285
0
, 300
0
,
315
0
, 330
0
, 345
0
e 360
0
. sobre o eixo x e
mediremos o seu comprimento de projeo
sobre o eixo x. Antes de anotar mos na
tabel a, onde dever o const ar todos os
valores dos respectivos ngulos e funes,
devemos observar que, na trigonometria o
r ai o consi der ado uni t r i o e o r ai o
ut i l i zado na const r uo 10, ent o
devemos di vi di r t odos os val or es
encont r ados por 10. O mesmo
procedimento ser util izado nas demais
funes. Para determinarmos os valores das
funo seno, faremos a projeo ortogonal
dos respectivos raios 15
0
, 30
0
, 45
0
,
60
0
, 75
0
,
90
0
, 105
0
, 120
0
, 135
0
, 150
0
, 165
0
, 180
0
, 195
0
,
210
0
, 225
0
, 240
0
, 265
0
, 270
0
, 285
0
, 300
0
,
315
0
, 330
0
, 345
0
e 360
0
. sobre o eixo y e
mediremos o seu comprimento de projeo
sobre o eixo y.
Par a determinarmos os val ores das
funo tangente, traaremos uma reta T
tangente e circunferncia no ponto A e
faremos o prolongamento dos raios 15
0
,
30
0
, 45
0
,
60
0
, 75
0
, 90
0
, 105
0
, 120
0
, 135
0
,
150
0
, 165
0
, 180
0
, 195
0
, 210
0
, 225
0
, 240
0
,
265
0
, 270
0
, 285
0
, 300
0
, 315
0
, 330
0
, 345
0
e
360
0
at encontrar a reta T mediremos os
valores da funo tangente dos respectivos
ngulos sobre a reta T, desde o ponto A at
o ponto de interseco com o respectivo
raio.
Par a deter mi nar mos os val ores da
funo co-tangente traaremos uma reta
S circunferncia no ponto B. e faremos
o prolongamento dos raios 15
0
, 30
0
, 45
0
,
60
0
, 75
0
, 90
0
, 105
0
, 120
0
, 135
0
, 150
0
, 165
0
,
180
0
, 195
0
, 210
0
, 225
0
, 240
0
, 265
0
, 270
0
,
285
0
, 300
0
, 315
0
, 330
0
, 345
0
e 360
0
at
encontrar a reta S mediremos os valores da
funo co-tangente a partir do ponto B at
o ponto de encontro com o raio.
Par a deter mi nar mos os val ores da
funo secante, traaremos retas tangentes
circunferncia nos pontos extremos dos
raios15
0
, 30
0
, 45
0
,
60
0
, 75
0
, 90
0
, 105
0
, 120
0
,
135
0
, 150
0
, 165
0
, 180
0
, 195
0
, 210
0
, 225
0
,
240
0
, 265
0
, 270
0
, 285
0
, 300
0
, 315
0
, 330
0
,
345
0
e 360
0
, onde os mesmos so
per pendi cul ares aos seus t angent es e
prolongaremos os mesmos at o eixo x. O
valor da funo secante dos respecti vos
ngulos ser medido a partir do ponto 0
or i gem do si st ema at o pont o de
inteerseco da reta tangente ao raio como
eixo x.
Par a deter mi nar mos os val ores da
funo co-secante dos ngulos15
0
, 30
0
, 45
0
,
60
0
, 75
0
, 90
0
, 105
0
, 120
0
, 135
0
, 150
0
, 165
0
,
180
0
, 195
0
, 210
0
, 225
0
, 240
0
, 265
0
, 270
0
,
285
0
, 300
0
, 315
0
, 330
0
, 345
0
e 360
0
,
prolongaremos a reta tangente ao raio at
encontrar o eixo y e faremos a medida dos
valores de co-secante do respectivo ngulo
par t i r do pont o 0 at o pont o de
interseco com a reta tangente ao raio.
Aps compl et ar a t abel a com os
r espect i vos val or es dadas f unes
tr igonomtricas podemos estabelecer as
relaes que a ela so pertinentes.
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 8 3
Ref er nc i as
FERRO, M. K.; SILVEIRA, M. R. Trigonometria:
um enf oque pr t ico. Osr io VI EGEM -
Encont r o Gacho de Educao M at emt i ca,
1999.
GUELLI, O. Cont ando a Hi st r i a da M at emt i ca.
Dando Cor da na Tr i gonomet r i a. SP: tica.
1997.
HOGEEN, L. M ar av i l has da M at emt i ca
I nf l unci as e Funes da M at emt i ca nos
Conheci ment os Humanos. Porto Alegre: Editora
Globo, 1970.
MACHADO, A. M at emt i ca - Temas e M et as.
Tr i gonomet r i a e Pr ogr esses Ar i t mt i cas. SP:
Atual, 1986.
Can oas v.4 n. 1 p. 85 - 89 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Oficinas
Nmer os I r r ac i onai s,
Tr ansc endent es e Al gbr i c os:
a ex i st nc i a e a densi dade dos
nmer os
Cydar a Cavedon Ri pol l
Edi t e Tauf er
Gi ovanni da Si l va Nunes
Jai me Br uck Ri pol l
Jayme Andr ade Net o
Jean Car l o Pech Gar ci a
Neda Gonal ves
Rodr i go Dal l a Vecchi a
Ver a Regi na Baw er
Cydara Cavedon Ripoll - Professora adjunta dasUFRGS
Edite Taufer -Estudante do curso de Licenciatura em Matemtica - PUC-RS
Giovanni da Silva Nunes Mestre em Matemtica e professor da ULBRA
Jaime Bruck Ripoll - Professor adjunto dasUFRGS
Jayme Andrade Neto - Estudante do curso de Matemtica Pura - UFRGS
Jean Carlo Pech Garcia - Estudante do curso de Matemtica Pura - UFRGS
Neda Gonalves- Professora adjunta da PUC-RS
Rodrigo Dalla Vecchia - Estudante do Curso de Licenciatura em Matemtica - ULBRA
Vera Regina Bawer - Professora adjunta da PUC-RS
I nt r odu o
Est a of i ci na surgi u em vi r tude de
at i vi dades de i ni ci ao ci ent f i ca. Esta
atividade, em matemtica pura, consiste no
estudo, por parte dos alunos de diversos
cont edos mat emt i cos a n vel de
graduao; contedos estes que no so
abordados nos cur sos de gr aduao em
Matemtica. Nosso projeto est integrado
a: Uni ver si dade Lut er ana do Br asi l -
ULBRA, Uni ver si dade Feder al do Ri o
Gr ande do Sul - UFRGS, e pont i f i ca
Universidade Catlica do Rio Grande do
Sul - PUC-RS. So real izados encontros
semanais entre todos os i ntegr antes do
projeto, sendo que o local do encontro
alter ado entre as uni ver si dades citadas.
8 6 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
Nestes encontros os alunos apresentam,
consecut i vament e, semi nr i os sobre o
assunto estudado bem como solues de
exercci os previ ament e propost os. Na
ULBRA est es semi nr i os ocor rem no
Laboratrio de Matemtica.
Trataremos neste artigo de algumas
curiosidades e alguns fatos histricos que
envol vem nmeros ir racionai s, nmeros
al gbr i cos e nmeros t r anscendentes.
Demonstraremos (ou apenas mostraremos)
de forma superficial alguns fatos que nos
pareceram interessantes e que muitas vezes
contradizem a nossa intuio.
1 - Os nmeros ir racionais
Os nmer os mai s si mpl es so os
inteiros positivos: 1, 2 ,3, etc. usados para
cont ar. Est es so chamados nmer os
nat ur ai s e so conheci dos h vr i os
milnios. As necessidades bsicas do dia-
a-dia levaram introduo de fraes como
1/2, 2/3, 5/4, et c. Est es nmeros so
chamados racionais.
Podemos pensar nos nmer os
naturais como representados por pontos
de uma reta. Cada ponto separ ado do
ant er i or por uma uni dade de
compr i ment o como, por exempl o, o
nmero de centmetros ao longo de uma
f i t a mt r i ca. Podemos r epresent ar os
nmeros racionais na mesma reta e pensar
nel es como medi ndo f r aes de
compr i ment o. Mui t o tempo depoi s da
descober t a destes nmeros, os hi ndus
inventaram o nmero 0 e, no incio dos
tempos moder nos al gebr i st as i tal i anos
i nvent ar am nmeros negat i vos. Est es
tambm podem ser representados em uma
reta.
A descoberta de que as fraes no so
suf i ci ent es par a as necessi dades da
Geometria foi feita pelos gregos h mais
de 2500 anos. Eles observaram, para sua
sur pr esa e const er nao, que o
comprimento da diagonal de um quadrado
de lado unitrio no pode ser expresso por
um nmer o r aci onal . Hoj e em di a
expressa-se este fato di zendo que r ai z
quadr ada de 2 ( que de acordo com o
teorema de Pitgoras, o comprimento da
diagonal de um tal quadrado) um nmero
irracional. I sto significa, geometricamente,
no exi st i r uma uni dade comum de
compri mento, uma ti ra, por mais cur ta
que sej a, que possa ser col ocada um
nmero inteiro de vezes sobre o lado e a
di agonal de um quadr ado. Em out r as
pal avr as, no exi st e uni dade de
comprimento, no importa quo pequena,
da qual o l ado e a di agonal de um
quadrado sejam mltiplos inteiros. Para os
gregos esta foi uma descoberta embaraosa
poi s em mui tas de suas demonstr aes
geomtricas eles supunham que dois de
seus segment os quai squer sempr e
admitiam uma unidade de comprimento
em comum.
Outro exemplo de nmero ir racional
o nmero pi.
Vrios nmeros ir racionais aparecem
quando tentamos cal cular os valores de
algumas funes bsicas em Matemtica.
Por exemplo, o clculo dos valores de uma
funo tr igonomtr i ca, digamos sen(x),
par x igual a 60
o
, nos l eva ao numero
i r r aci onal r ai z de 3 di vi di do por doi s;
analogamente, o clculo do valor da funo
logartmi ca log(x) , mesmo par a valores
racionais de x, quase sempre nos leva a
nmeros irracionais. Apesar de os nmeros
que figuram em tabelas de logaritmos e
f unes t r i gonomt r i cas ser em
ostensivamente racionais, na realidade so
apenas apr oxi maes r aci onai s dos
verdadeiros valores que, com raras excees
so irracionais.
Fi ca cl ar o, ent o, que nmer os
irracionais ocorrem naturalmente de vrias
maneiras na Matemtica Elementar.
Os nmer os r eai s so t odos os
nmeros racionais e ir racionais e formam
o si st ema de nmer os cent r al da
Matemtica. Como vi mos exi stem duas
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 8 7
espcies de nmeros reais: os racionais e
os ir raci onais. Porm, existe uma outr a
separ ao, mui t o mai s r ecent e, dos
nmeros reai s, em duas categor i as: os
nmer os al gbr i cos e os nmer os
tr anscendentes. Um nmero real se diz
al gbr i co se sat i sf i zer uma equao
al gbr i ca com coefi ci entes i nteiros. Por
exempl o, r ai z quadr ada de doi s um
nmero algbrico porque satisfaz a equao
xis el evado ao quadr ado menos dois
i gual a zero . Se um nmero no f or
algbrico, ele ser transcendente. Com esta
def i ni o, no f i ca cl aro que exi st am
nmeros transcendentes, isto , nmeros
no algbricos. Em 1851, o matemtico
francs Liouville estabeleceu a existncia
de nmer os t r anscendent es. El e f ez
exibindo certos nmeros que provou serem
no algbricos.
Mai s tarde, ai nda no scul o XI X,
pr ovou-se que pi um nmer o
t r anscendent e. Um out ro avano, no
scul o XI X , foi fei to por Cant or, em
contraste com o de Liouville, no exibir um
nmero transcendente de forma explcita,
tem a vantagem de demonstrar que, em
cer to sent i do, h mui t o mai s nmeros
transcendentes do que algbricos. Uma tal
afirmao requer a comparao de classes
infinitas, pois existem infi nitos nmeros
tr anscendentes. Estas i di as fogem um
pouco do tema central e por isso no sero
tratadas.
2 - O nmer o pi
O nmero pi um nmero ir racional!
Esta afirmao que aparentemente parece
simples, na verdade, demorou sculos para
ser demonstrada. Este nmero, apesar de
ser conheci do mui tos scul os antes de
Cr i st o, causou mui t a cont r ovr si a e
discusso. Um dos primeiros matemticos
a achar uma manei r a de cal cul -l o foi
Arquimedes (212-287 a.C), que inscreveu
e circunscreveu um polgono de 96 lados
em uma circunferncia concluindo que pi
um nmero que est entre 223/71 e 22/7.
Aps Ar qui medes, vr i os out r os
matemti cos conseguir am aproximaes
para o pi ( alguns melhores e outros piores
aproxi maes ). Par a se t er uma i di a
desses fei tos, Ludol f Van Ceul en (Sec
XVI I ) pedi u que fosse gr avado em sua
lpide morturia seu maior feito, calcular
o pi com 35 casas decimais. Apenas no ano
de 1766 demonstrou-se que pi ir racional
usando ar t i f ci os de cl cul o pel o
matemti co j ohann Heinri cch Lamber t.
No ano de 1882 Lindemann demonstrou
que o pi transcendente. Hoje em di a
devi do ao comput ador o pi pode ser
aproximado at bilhes de casas depois da
vrgula.
3 - Tr s Pr o b l e ma s
Famosos
A teor i a dos nmeros al gbr i cos e
t r anscendent es possi bi l i t ou aos
mat emt i cos resol ver t r s probl emas
geomt r i cos, bem conheci dos, que
pr ovi am da ant i gui dade. Est es t r s
problemas, conhecidos sob os nomes de
dupl i cao do cubo , t r i seco do
ngul o e quadr at ur a do crcul o ,
consi st em em ef et uar as segui nt es
const r ues, usando apenas r gua e
compasso:
1 Duplicar o cubo significa construir um
cubo de vol ume igual ao dobro do
volume de um cubo dado. Apesar de
o cubo ser uma figura da geometria
do espao, o problema , realmente,
da geomet r i a pl ana, poi s, se
t omar mos como uni dade de
comprimento a aresta do cubo sendo
1, o problema se reduz construo
de um segmento de compr i mento
r ai z cbi ca de doi s , porque este
seria o comprimento da aresta de um
cubo cujo volume fosse o dobro do
volume do cubo dado.
8 8 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
2 Tr i sect ar um ngul o si gni f i ca
descobr i r um pr ocesso, usando
apenas rgua e compasso, para dividir
qualquer angulo em trs partes iguais.
Existem ngulos especiais, como por
exemplo os de 45
o
e 90
o
, que podem
ser trisectados com o uso apenas de
r gua e compasso; mas, o assi m
chamado ngulo geral no pode ser
dividido em trs ngulos iguais com
os instrumentos permitidos.
3 Quadr at ur a do crcul o si gni f i ca
construir um quadrado cuja rea seja
i gual de um crcul o dado ou, de
modo equi val ent e, const r ui r um
crculo de rea igual de um quadrado
dado.
Sabe-se agora que tais construes so
i mpossvei s; i sto , el as no podem ser
efetuadas pelos mtodos de construo da
Geomet r i a Eucl i di ana, usando apenas
rgua e compasso. importante salientar
que um mal-entendido ocor re em especial
no caso do probl ema da t r i seco do
ngul o. possvel t r i sect ar qual quer
ngulo se for permitido fazer marcas na
rgua. Deste modo, s pode-se falar da
impossibilidade da triseco de um ngulo
em geral, entendendo que os processos de
constr uo per mi tem apenas o uso do
compasso e de uma rgua sem marcas.
Neste trabalho s sero dadas algumas
noes da i mpossi bi l i dade dest as
constr ues.
Para iniciar ser enunciado ( e
no demostrado) o seguinte teorema da
Geometria Euclidiana Plana.
Teor ema Sobr e Const r ues
Geomt r i cas. Comeando com um
segment o de compr i ment o uni t r i o,
qual quer compr i ment o que possa ser
construdo com rgua e compasso um
algbrico de grau 1, ou 2, ou 4, ou 8, ...,
isto , um nmero algbrico de grau igual
a uma potncia de 2.
Comecemos com a dupl i cao do
cubo. Como vi mos, ao enunci ar o
pr obl ema, t r at a-se de const r ui r um
segmento de comprimento raiz cbica
de dois a partir de um segmento unitrio.
Mas este satisfaz a equao xis elevado
ao cubo menos dois igual a zero . I sto
sugere que este nmero algbrico de grau
3 e pel o t eor ema de const r ues
geomtricas enunciado acima ele no ser
construtvel. Da conclumos ser impossvel
duplicar o cubo.
Consideremos, a seguir, o problema da
triseco do ngulo. Para demonstrar que
a triseco impossvel, basta mostrar que
um certo ngulo no pode ser trisectado
com o uso somente de rgua e compasso.
O ngulo especfico que vamos considerar
o de 60
o
. Trisectar um ngulo de 60
o
significa construir um ngulo de 20
o
. Para
ver isso consideremos um tringulo de base
1, cujos ngulos da base sejam 60
o
e 90
o
.
Temos, assim, um tringulo ABC, com base
AB = 1, ngulo BAC = 60
o
, ngulo ABC
= 90
o
. No lado BC escolhamos o ponto D
t al que o ngul o BAD = 20
o
. Da
trigonometria elementar sabemos que
AD = AD/1 = AD/AB = sec 20
o
. Portanto,
a triseco de um ngulo de 60
o
se resume
na construo de um segmento igual a sec
20
o
; que, por sua vez, equivale a construir
um segmento de compr i mento cos 20
o
porque cos 20
o
e sec 20
o
so recprocos um
do outro e sabe-se que se um segmento for
construtvel, o segmento de comprimento
recproco tambm o ser . Sabemos por
construo( este fato ser demonstrado no
semi nr i o e apenas acei t o nest a
apresentao) que cos 20
o
raiz de uma
equao de grau 3 e no satisfaz nenhuma
outra equao de grau 1 ou 2. Assim, pelo
teorema enunciado, impossvel trisectar
o ngulo de 60
o
com rgua e compasso.
Finalmente, consideremos o problema
da quadratura do crculo. Dado um crculo
qualquer, podemos consi derar seu r ai o
como unidade de comprimento. Com essa
uni dade, a rea do cr cul o ser pi
unidades de rea. Um quadrado de mesmo
tamanho teria lado de comprimento raiz
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 8 9
de pi . Portanto o problema da quadratura
do cr cul o consi st e em const r ui r um
segmento de comprimento raiz de pi a
partir de um comprimento unitrio dado.
Na teoria das construes geomtricas
bem conhecido que se pode construir um
segmento de comprimento a elevado ao
quadr ado a par t i r de segment os de
comprimentos 1 e a . Portanto se fosse
possvel const r ui r um segment o de
comprimento raiz de pi tambm seria
possvel const r ui r um segment o de
comprimento pi . Mas sabemos que pi
um nmero tr anscendente e por tanto
no al gbr i co. O t eor ema sobr e
construes geomtricas diz ser impossvel
a const r uo de um segment o de
comprimento pi e portanto a quadratura
do crculo impossvel.
Ex er c c i os pr opost os
1 Demonst r ar que r ai z de doi s
irracional .
2 Demonst r ar que r ai z de sei s
irracional .
3 Generalizar a idia de 1.
4 Demonstre que log 2 ir racional.
5 Escr eva a equao al gbr i ca que
representa o nmero raiz quarta de
xis elevado ao cubo .
6 Tendo como conheci da as
pr opr i edades das equaes
polinomiais, demonstre que cos 20
o
irracional.
7 Usando a conheci da l ei dos
cossenos mostre uma manei r a de
calcular por aproximao o nmero
pi .
Ref er nc i as
FIGUEIREDO, Djairo G. de. Nmer os I r r aci onai s
e Tr anscendent es. Sociedade Br asil eir a de
Matemtica, Rio de Janeiro, 1985.
KRYSZIG, Er win. M at emt i ca Super i or 4. , Rio
de Janeiro, Livro Tcnico e Cientfico Editora
S., 1978.
LIMA, El on Lages. Anl i se Real Vol u me 1 .
Associ ao I nst i t ut o Naci onal de
Matemtica Pura e Aplicada, Rio de Janeiro,
2001.
NIVEN, Ivan. Nmer os: Raci onai s e I r r aci onai s.
Sociedade Brasileira de Matemtica, Rio de
Janeiro, 1984.
Can oas v.4 n. 1 p. 91 - 96 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Oficinas
Est at st i c a no Ensi no
Fundament al e Mdi o
Si mone Echevest e
M i chel e Gomes de vi l a
I nt r odu o
A Estatstica o conjunto de mtodos
utilizados para obter, organizar, e analisar
dados, viabilizando uma descrio clara e
obj et i va de di ver sos f enmenos da
nat ur eza. As f er r ament as e t cni cas
estatsticas aplicam-se em todas as reas do
conhecimento humano, tornando mui to
fcil encontrar exemplos de sua aplicao.
Anteriormente, esta cincia era trabalhada
apenas em alguns cur sos tcni cos e no
ensi no super i or. Hoj e, obser vada a
importnci a e a relevncia do aluno ser
capaz de analisar informaes bem como
interpretar dados estatsticos, a estatstica
vem sendo desenvolvida com os alunos no
Ensino Fundamental e Mdio.
1 - A I mpor t nc i a da
Est at st i c a na Esc ol a
A col eta, organi zao e i nter pretao de dados
uma necessi dade no pr ocessamento de
i nfor maes que aparecem em j or nai s, revi stas
e pesqui sas el ei tor ai s, entre outr as. Desde
pequenas, as cr i anas devem estar envol vi das
em ati vi dades de col etar, organi zar e descrever
dados, poi s dur an te a r eal i zao desse
tr abal ho vr i as habi l i dades so desenvol vi das
como, por exempl o: expl or ao, i nvesti gao,
conj ectur a e comuni cao. M ai s que i sso,
uti l i zar gr fi cos tambm uma manei r a de
tr abal har com tr ansfer nci as de l i nguagem,
ot i mi zan do, dessa f or ma, a r el ao
matemti ca/l ngua. (Smool e, 2000)
Simone Echeveste Mestre em Marketing, Bacharel em Estatstica. Professora do Curso de Matemtica da ULBRA. echevest@terra.com.br
Michele Gomes de vila aluna do Curso de Matemtica da ULBRA.
9 2 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
O ensino da Estatstica emergiu mais
f or t emente no Ensi no Fundament al e
Mdi o a par t i r da det er mi nao dos
Parmetros Cur riculares Nacionais (1997).
Os obj et i vos da Mat emt i ca par a o
pr i mei ro e o segundo ci cl o dest acam
f or t ement e o desenvol vi ment o de
contedos de Estatstica.
Pr i mei r o Ci c l o:
1. I dentificar o uso de tabelas e grficos
para facilitar a leitura e interpretao
de i nfor maes e constr ui r for mas
pessoais de registro para comunicar
as informaes coletadas;
2. I nterpretar e elaborar listas, tabelas
simples, de dupla entrada e grficos
de barra para comunicar a informao
obtida;
3. Produzir textos escritos a partir da
interpretao de grficos e tabelas
Segundo Ci c l o:
1. Recol her dados e i nf or maes,
elaborar formas para organiz-los e
expr ess-l os, i nt er pr et ar dados
apresentados sob forma de tabelas e
grfi cos e valori zar essa li nguagem
como forma de comunicao;
2. Utilizar diferentes registros grficos -
desenhos, esquemas, escr i t as
numr i cas - como r ecur so par a
expressar idias, ajudar a descobrir
f or mas de resol uo e comuni car
estratgias e resultados;
3. I dent i f i car car act er st i cas de
acont eci ment os pr evi svei s ou
al eat r i os a par t i r de si t uaes
pr obl emas, ut i l i zando r ecur sos
estatsticos e probabilsticos.
Par a Bl ument hal (2000), os
Par met r os Cur r i cul ar es Naci onai s
destacam que o ensino de matemtica deve
levar o aluno a compreender e transformar
o mundo sua vol t a, est abel ecendo
r el aes qual i t at i vas e quant i t at i vas,
r esol vendo si t uaes-pr obl ema,
comuni cando-se mat emat i cament e e,
principalmente, realizando interconexes
com as demais reas de conhecimento.
Neste contexto, muito importante
que o professor de Mat emti ca est ej a
preparado para desenvolver em suas aulas
os principais conceitos de estatstica, que
capaci te o al uno a li dar com os dados
(informaes), procurando fazer com que
estas informaes, anali sadas de for ma
cor reta, sejam elementos fundamentais na
tomada de deci so. A rel evncia destes
contedos justi fi cada na for mao de
al unos mais crticos, capazes de decidir
logicamente e eficazmente em suas vidas.
Por out ro l ado, exi st e uma f or t e
car nci a de recur sos pedaggi cos que
auxiliem os professores de matemtica em
suas aulas, e esta necessidade fica mais
acentuada quando se observa que muitos
pr of essor es, que so f or mados em
mat emt i ca, possuem l i mi t adas
experincias em Estatstica.
2 - Co n h e c i me n t o s
Bsi c os de Est at st i c a
2.1 Apr esent a o de dados
Os dados obt i dos em um est udo
estatstico podem ser representados atravs
de tabelas e/ou grfi cos. As tabelas e os
gr f i cos so extremament e t ei s par a
si nt eti zar os val ores que uma ou mai s
var iveis podem assumir, estes recur sos
permitem ao pesquisador demonstrar os
resul tados obtidos de uma forma mui to
mais clara e organizada.
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 9 3
Exempl o:
Tabela 1. No momento atual o que
voc acha mais preocupante?
Fato N Internautas %
A ameaa do vrus Antraz 2918 20.13
A guerra dos EUA 2334 16.10
A alta do dlar 1712 11.81
A recesso mundial 3868 26.68
O futebol brasileiro 3664 25.28
Total 14496 100
Fonte: Provedor Terra - 22/10/01
Grfico 1. No momento atual o que
voc acha mais preocupante?
0
5
10
15
20
25
30
%
A ameaa
do vrus
Antraz
A guerra
dos EUA
A alta do
dlar
A recesso
mundial
O futebol
brasileiro
2.2 Medi das de t endnc i a
c ent r al
As medidas de tendncia central, so
val ores numr i cos que represent am o
cent ro de um conj unt o de dados. O
objetivo destas medidas resumir, atravs
de um nico valor, todas as informaes
contidas em um grupo de dados de uma
mesma varivel.
2.2.1 Mdi a Ar i t mt i c a
a medida de tendncia central mais
utilizada, sendo obtida pelo quociente da
diviso da soma dos valores da varivel pelo
nmero de elementos do grupo de dados.
n
x
x
n
i
i
=
=
1
onde:
2.2.2 Medi ana
A M edi ana de um conjunto de valores,
ordenados por ordem de grandeza, o
valor situado de tal forma no conjunto que
o separa em dois subconjuntos de mesmo
nmero de elementos, ou seja, o valor
que ocupa a posi o cent r al em um
conjunto de dados.
A posi o da M edi ana destacada
pela seguinte expresso:
2
n
PMd =
Se o nmer o de el ementos da
amostra for mpar, a M edi an a ser
exatamente o val or que se encontra na
posio calcula. J se tivermos um nmero
para de observaes, o valor da M edi ana
ser a mdia dos dois valores centrais da
distribuio.
2.2.3 Moda
o val or que r epr esent a mai or
freqncia no conjunto de dados, ou seja,
o que mais se repete.
Em relao M oda, um conjunto de
dados pode ser:
U ni modal - quando um nico valor se
repete;
Bi modal - quando doi s val ores se
repet em com a mai or f requenci a
obser vada;
M u l t i modal - quando t r s ou mai s
val or es se r epet em com a mai or
frequencia
observada.
2.3 Medi das de Var i abi l i dade
As medi das de var i abi l i dade ou
di sper so, medem a var i abi l i dade dos
estudada amostra da tamanho / valores de quantidade -
varivel da valores os
amostra uma de aritmtica mdia da smbolo
n
x
x
i
9 4 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
elementos em relao sua mdia. muito
importante para o pesquisador saber qual
a representatividade da mdia calculada
para o conjunto de dados, ou seja, saber
qual a variabilidade destes dados, se estes
so homognenos, ou no. To importante
quanto representar um conjunto de dados
atravs da mdia, estudar a disperso dos
dados em torno da mesma. As medidas de
variabilidade mais utilizadas so a varincia
e o desvio-padro.
2.3.1 Var i nc i a
A var incia cal cul ada a partir do
quadrado dos desvios em torno da mdia,
t r ansf or mando, assi m, a var i vel em
quest o em um val or ao quadr ado,
t or nando-se um i nconveni ent e no
momento da interpretao.
Por esta razo, foi desenvolvida outra
medi da: o desvi o-padr o, que
r epr esent ado pel a r az quadr ada da
var incia. Esta oper ao matemtica faz
com que a varivel de estudo retorne para
a sua unidade de medida.
( )
1
1
2
2
=
=
n
x x
s
n
i
i
estudada amostra da tamanho / valores de quantidade -
varivel da valores os
amostra uma de aritmtica mdia
n
x
x
i
2.3.2 Desvi o-Padr o
2
s Varincia s = =
3 - At i v i d a d e s d e
Est at s t i c a em sal a de
aul a
Abaixo sero apresentadas al gumas
at i vi dades que obj et i vam o
desenvolvimento de alguns contedos de
est at st i ca com al unos do ensi no
fundamental e mdio.
Internacional Grmio
A segui r, o professor sol i ci tar aos
al unos que col em suas cami setas uma
acima da outra no espao destinado a seu
time.
ATIVI DADE 1
Contedo: Grfico de Colunas
Nvel: Ensino Fundamental e Mdio
Material: Papel colorido, cola, caneta
hidrocor, 1 cartolina
O pr of essor dever i ni ci al ment e
propor aos alunos a construo atravs de
papel colorido, caneta hidrocor e cola a
camiseta de seu time preferido (o professor
deve determinar um tamanho padro, ou
ainda poder fornecer aos alunos moldes
dest e t amanho par a que no haj am
di f er enas ent r e os t amanhos das
camisetas).
A questo de pesquisa ser verificar
qual o ti me com um mai or nmero de
torcedores na sala de aula ( interessante
que o professor lance este desafio sempre
questionando os alunos sobre o resultado
que eles acham que ocor rer - isto faz com
que a cur i osi dade os i ncent i ve na
construo do grfico). Aps a elaborao
das camisetas, o professor desenhar na
cartolina uma linha horizontal, e colocar
nesta linha o nome dos times que surgiram.
Figura 1. Desenho do eixo horizontal
do grfico
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 9 5
Aps a colagem ser feita, o professor
juntamente com os alunos far a contagem
do nmero de torcedores para cada time,
traando uma linha vertical e marcando a
freqncia de alunos para cada time. Feita
esta atividade, o professor sol i ci tar ao
al uno que desenhe em seu cader no
(tambm poder o ser uti l i zadas fol has
quadr iculadas) o gr fico substituindo as
camisetas por colunas, obtendo-se assim,
um grfico de colunas. Como fechamento
da ati vi dade i nteressante o professor
trabalhar com seus alunos as noes do
plano cartesiano e o que cada um dos eixos
representa.
Out r as Sugest es: Est e t i po de
t r abal ho pode ser desenvol vi do com
diversos temas. Aqui foi proposto o estudo
da varivel Time de Futebol Preferido. O
professor poder realizar o mesmo tipo de
at i vi dade par a out r as var i vei s como:
animal de estimao que possui, tipo de
r esi dnci a em que mor a (casa ou
apar t ament o), cor do cabel o, ms do
aniversrio, etc.
At i vi dade 2
Contedo: Tabelas
Nvel: Ensino Fundamental e Mdio
Nesta atividade, o professor pergunta
aos alunos se estes conhecem bem seus
colegas, ou seja, o time preferido, o prato
de comida que mais gosta, o programa de
televiso que mais assiste, a cor preferida,
etc. Com isto, o professor prope que a
turma elabore um questionrio contendo
as perguntas que gostariam de fazer para
seus colegas. Aps toda a turma preencher
o questionrio, o professor lista as respostas
que surgiram no quadro e sugere que os
dados sejam apresentados de uma forma
mais organizada, como por exemplo, em
t abel as. Nest e moment o o pr of essor
estabelece o padro das tabelas e j pode
juntamente com esta construo trabalhar
o conceito de porcentagem.
Sexo Freqncia Percentual
Masculino ............... 59 123 361 49,7
Feminino ................ 59 879 345 50,3
Total ....................... 119 002 706 100,0
Fonte: IBGE (1983)
Tabela 1.1
Populao residente no Brasil, segundo o sexo,
de acordo com o censo demogrfico de 1980
TRAOS RETILNEOS
COLUNAS
LINHAS
CASAS
ESPAO DOS CABEALHOS
ESPAOS EXTERNOS
Figura 2. Colocao das camisetas em
forma de colunas no grfico
Internacional Grmio
4
3
9 6 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
At i vi dade 3
Contedo: Mdia, Mediana e Moda
Nvel: Ensino Mdio
Material: Balana, Fita mtrica
Nesta atividade dever ser proposto
aos alunos um estudo sobre o seu peso e
sua altura. O professor inicialmente pesa e
mede a altura de todos os alunos (os dados
de cada al uno devem ser anotados no
quadro). Com estes dados obser vados e
organizados (em tabelas ou l istagens de
valores) o professor ressalta a importncia
de representar todas as alturas e pesos com
uma ni ca medi da. Aqui , devem ser
desenvolvidos os contedos referentes s
medi das de t endnci a cent r al e,
post er i or ment e as medi das de
variabilidade.
Ref er nc i as
CARVALHO, D.L. M et odol ogi a do Ensi no de
M at emt i ca. So Paulo: Cortez, 1994
DAMBRSIO, U. Educao M at emt i ca - da
t eor i a pr t i ca. Campinas: Papir us, 1996.
FERNANDEZ, D.X.W. & FERNANDEZ. D. O
pr azer de apr ender pr obabi l i dade at r avs de
j ogos: descobr i ndo a di st r i bui o Bi nomi al .
Conferncia Internacional de Experincias
e Per spect ivas do Ensino da Est at st ica,
Florianpolis, 1999.
FEIJOO, A. A Pesqui sa e a Est at st i ca na Psi col ogi a
e na Educao. Rio de Janeir o: Bert r and
Brasil, 1996.
LOPES, C.A.E. A pr obabi l i dade e a Est at st i ca no
ensi no f undament al : uma anl i se cur r i cul ar .
Campi nas, Di sser t ao de Mest r ado,
Faculdade de Educao - UNICAMP, 1998.
OLIVEIRA, T. Est at st i ca Apl i cada Educao.
Rio de Janeiro: Livros Tcnicos e Cientficos
Editora S.A., 1974.
ROCHA, I.A. A Compet nci a M at emt i ca no
domni o da est at st i ca no 1 ci cl o. Educao e
Matemtica, Maro, 2000.
SECRETARIA DA EDUCAO FUNDAMENTAL.
Par met r os Cur r i cul ar es Naci onai s.
Braslia: MEC/ SEF, 1997.
SMOOTHEY, M. At i v i d a d es e j ogos com
Est at st i ca. So Paulo: Scipione, 1998.
BLUMENTHAL, Gl adis. Os PCN s e o ensi no
f undament al em mat emt i ca: um avano ou
um r et r ocesso? Educao Matemtica em
Revista, N 2, 2000.
BRATTON, George. The r ol e of Technol ogy i n
I n t r od u ct or y St a t i st i cs Cl a sses. The
Mathematics Teacher, Vol 92, Novembro,
1999.
FAINGUELERNT, Estela. Educao M at emt i ca:
r epr esent ao e const r uo em geomet r i a. So
Paulo: Artes Mdicas, 1999.
LELLIS, Marcelo. & IMENES, Luiz Mrcio. A
Mat emt i ca e o novo ensi no mdi o.
Educao M at emt i ca em Revi st a, N 9, Ano
8, 2000.
OTTAVIANI, Mar i a Gabr i el l a. Pr omover l a
Enseanza de l a Est at dst i ca: La Funci n del
I ASE y su Cooper aci n com l os Pases em vas
de Desar r ol l o. Depar timento di St at ist ica,
Pr obabi l i t a e St at i st i che Appl i cat e.
Universitadi Roma LaSapienza . 1999.
ROCHA, Isabel. A competncia matemtica no
domnio da estatstica no 1 ciclo. Educao
M at emt i ca, N 57, Maro/ Abril, 2000.
SHAUGHNESSY, Michael. & ZAWOJEWSKI,
Judith. Secondary Students Performance on
Dat a and Chance in t he 1996 NAEP. The
M at hemat i cs Teacher , Vol 92, Novembro,
1999.
SMOLE, Kt ia. A M at emt i ca na Educao
I nf ant i l : a t eor i a das i nt el i gnci as ml t i pl as
n a pr t i ca escol ar . Por t o Al egre: Ar t es
Mdicas, 2000.
Can oas v.4 n. 1 p. 97 - 100 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Oficinas
Desaf i os e Possi bi l i dades em
Mat emt i c a no Ensi no
Fundament al
M ar i a Beat r i z M enezes Cast i l hos
M ar i l ene Jaci nt ho M l l er
M r ci a Car i ne Vi ei r a Godoy
De s e nv o l v i m e n t o d a
of i c i na
Os Par met r os Cur r i cul ar es
Naci onai s i ndi cam como obj et i vos do
Ensi no Fundament al , dent r e out r as
habilidades e competncias, que os alunos
sejam capazes de:
posi ci onar -se de manei r a cr t i ca,
r esponsvel e const r ut i va nas
diferentes situaes;
ut i l i zar as di ferentes l i nguagens
verbal, musical, matemtica, grfica
plstica e corporal como meio para
produzir, expressar e comunicar suas
idias;
saber uti l i zar di ferentes fontes de
i nformao e recur sos tecnol gi cos
par a adqui r i r e const r ui r
conhecimentos;
questionar a realidade formulando-se
problemas e tratando de resolv-los,
uti l i zando par a i sso o pensamento
l gi co, a cr i ati vi dade, a i ntui o, a
capaci dade de anl i se cr t i ca,
sel eci onando pr ocedi ment os e
verificando sua adequao.
Mais especificamente, no ltimo ciclo
do Ensi no Fundament al , o ensi no de
Matemtica deve visar ao desenvolvimento
do pensament o numr i co, al gbr i co e
geomtrico, por meio da expl orao de
situaes de aprendizagem que levem o
aluno a:
ampliar e consolidar os significados
dos nmeros racionais, a partir dos
diferentes usos em contextos sociais e
matemticos e reconhecer que existem
nmeros que no so racionais;
observar regularidades e estabelecer
Maria Beatriz Menezes Castilhos Professora da Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul.
Marilene Jacinto Mller Professora da Universidade Luterana do Brasil e da Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul.
Mrcia Carine Vieira Godoy Licencianda da Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul
9 8 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
l ei s mat emti cas que expressem a
r el ao de dependnci a ent r e
variveis;
produzir e analisar transformaes/
r edues de f i gur as geomt r i cas
planas, identificando seus elementos
variantes e invariantes, desenvolvendo
o concei t o de congr unci a e
semelhana;
ampl i ar e apr of undar noes
geomt r i cas como i nci dnci a,
par al el i smo, per pendi cul ar i smo e
ngul o par a est abel ecer rel aes,
i ncl usi ve as mt r i cas, em f i gur as
bidimensionais e tridimensionais.
Essas di ret r i zes devem nor t ear a
formao do professor de Matemtica e a
pr t i ca pr of i ssi onal do mesmo, aps
ingressar no magistrio.
Um prof essor de l gebr a, anl i se,
clculo, etc, que faz a relao do que ele
ensi na em sua di sci pl i na, que
aparentemente to abstrata, com aquilo
que fundamenta o que o futuro professor
vai trabalhar com seus alunos, est fazendo
com que seu ensino tenha significado, o
que, sem dvida, uma condio para a
elaborao do conhecimento
Fazer a ponte do contedo que
tr abal hado nos Cursos de Li cenci atur a
com aquilo que vai ser ensinado na escola
o grande salto de qualidade desejado para
o ensino de Matemtica em todos os nveis.
Melhorar a qualidade do ensino passa,
tambm, pela atualizao permanente dos
pr of essor es. At ual ment e no mai s
possvel vi ver apenas com os
conheci mentos da formao inici al e da
experincia profissional. Grande parte dos
educador es quer e necessi t a
apr i mor ament o const ant e. Per renoud
(2000, p. 163) salienta que a urgncia
fazer os professores entrarem no circuito
da for mao contnua e sugere vr i as
for mas para facil itar a continui dade da
formao docente.
De f at o, sem o quest i onament o
desencadeado a partir da socializao de
exper i nci as e sem o supor t e do
conheci mento de novas tecnol ogi as, de
metodologias variadas e de teorias sobre
ensi no-aprendi zagem adqui r i do com a
participao em cursos e encontros, no
tarefa fcil , para o professor, organi zar
ati vi dades que sej am si gni f i cat i vas no
ensino-aprendizagem, de forma que desafie
o aluno a pensar, estimule a criatividade e
a busca de sol ues par a os probl emas
propostos, desenvolva o censo cr ti co e
investigativo e desperte a curiosidade e o
prazer de aprender.
A escola e o sistema educacional, como
um todo, desempenham o i mpor tante
papel de proporcionar e facilitar a formao
continuada dos professores.
Vasconcellos (1996, p. 13) afirma: O
problema metodolgico no problema de
uma escol a, cur so ou pr of essor ; ao
contrrio, um problema que perpassa
todo o sistema educacional, uma vez que
longa a tr adio de um ensino passivo,
desvinculado da vida. Em outros tempos,
at era suportvel; hoje, com as crescentes
t r ansf or maes do mundo
contemporneo, h um questi onamento
profundo e uma rej eio por parte das
novas geraes. O mundo mudou! A escola
tem que mudar!
A escola tem que dar espao para a
criatividade, a explorao e a descoberta,
vi sando capaci t ar os al unos par a
enfrentarem os novos tempos, alm de estar
em per manente estado de al er ta par a
adaptar seu ensino tanto em contedos
quanto em metodologias.
O uso das t ecnol ogi as da
comuni cao par t e i nt egr ant e da
formao de professores e, em particular,
de professores de Matemtica. A presena
de computadores, cal culadoras, vdeos e
de outros recur sos di dti cos na escol a
pressupe que o professor saiba lidar com
eles de forma crtica e criativa e que possa
apr ovei t ar ao mxi mo o pot enci al
educativo de tais tecnologias.
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 9 9
Conf or me os Ref erenci as par a a
Formao de Professores da Secretaria da
Educao Fundamental do MEC, o acesso
a novos recur sos tecnol gicos pode ser
f undament al par a a ef et i vao de
mudanas necessr i as atual i zao do
sistema educacional brasileiro. Porm, as
car acter sti cas e pecul i ar idades de cada
recur so determinam a adoo de certos
procedimentos em detrimento de outros.
Assi m, o uso da televiso, do vdeo, do
computador, da calculadora, de materiais
mani pul at i vos, do l i vro di dt i co e do
pr pr i o t ext o escr i t o devem ser
consi der ados no moment o em que o
pr of essor r ef l et e sobr e sua ao
pedaggica.
Ai nda, o mesmo document o
cor robor a essa idi a na medida em que
r ecomenda que: O f undament al
otimizar o bom uso possvel de todos os
recur sos que possam contr i bui r par a o
desenvol vi ment o das compet nci as
profi ssi onais necessr ias ao exerccio da
funo de professor.
Por isso achamos que aspectos como
a adequada ut i l i zao de di f er ent es
recur sos no podem ser esqueci dos ao
pretender -se prepar ar um professor de
Matemtica para exercer de forma plena
sua funo.
Todas essas consi der aes sobre a
formao de professores se justificam pela
necessi dade de estabel ecer um vncul o
entre o professor e o aluno, em uma sala
de aula do Ensino Fundamental. Vnculo
esse que permita, ao professor, instigar a
curiosidade dos alunos sobre determinado
assunto e, ao al uno, aceitar o desafio e
investigar, utilizando-se do maior nmero
de recursos possvel, questes que o levem
a construir seu conhecimento.
Vi sando dar uma cont r i bui o no
sentido de viabilizar o cumprimento do que
proposto nos Par metros Cur ri cul ares
Naci onai s e, como represent ant es da
Uni ver si dade, ef et i var o papel de
formadores de professores comprometidos
com a educao e com seu pr pr i o
aprimoramento, ofereceremos a oficina:
Desafios e Possibilidades em Matemtica
no Ensi no Fundament al , onde
pretendemos propor formas de desenvolver
um det er mi nado cont edo (no caso,
relaes mtricas no tringulo retngulo)
at endendo aos obj et i vos do Ensi no
Fundamental e mostrando como articular
o assunto central com outros contedos e
com a Matemtica Superior.
Est a of i ci na t em como obj et i vo
principal desencadear uma reflexo que
leve os professores a renovar sua prtica
profissional em contedos e metodologias.
Para isso, faremos, inicialmente, uma
reviso de conceitos bsicos da geometria,
como semelhana de tringulos, projeo
ortogonal e alturas de um tringulo, que
so pr-requisitos para o contedo a ser
desenvol vi do. Nest e moment o, o l i vro
di dti co e uma di scusso sobre textos,
incluindo Histria da Matemtica, podem
ser usados.
Uma vez estabelecidos os conceitos-
chave, passaremos a deduzir as relaes
mtricas em um tringulo retngulo. I sto
ser feito a partir de material manipulativo
extremamente simples e acessvel, de forma
a possibilitar, ao professor, a sua utilizao
em sal a de aul a. Apr ovei t ar emos a
opor t uni dade par a di scut i r out r os
conceitos, como rea do tringulo expressa
em funo de seus lados e alturas relativas.
Est a ati vi dade, real i zada em pequenos
grupos, permite um questionamento sobre
conheci ment os j const r udos e por
constr ui r e i nvesti gar a capaci dade de
estabelecer relaes.
Uma das rel aes a deduzir ser o
Teor ema de Pi t gor as. Com est e
t r abal har emos mai s pr of undament e,
expl or ando di ver sos mat er i ai s
mani pul at i vos e anal i sando f or mas
di f er ent es de demonst r -l o, no
formalmente, mas no sentido de tornar o
resul tado convi ncent e. Propi ci aremos,
neste momento, o desenvol vi mento da
100 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
capaci dade de ar gument ao, poi s,
segundo Carraher (1988, p. 179)
Os materiais concretos so usados
porque refletem uma anlise matemtica
par t i cul ar ; de fat o, pressupe-se que,
subjacente aos materiais concretos existem
pr incpi os l gico-matemti cos, os quai s
desejamos ensinar.
Proporcionar aos alunos a vivncia de
ativi dades com materi ais concretos, que
t enham como pano-de-f undo os
conceitos matemticos, constitui-se numa
alter nati va pedaggi ca capaz de tor nar
si gni f i cat i va a aul a de Mat emt i ca e
possi bi l i ta que o ensi no se desenvol va
numa perspectiva inovadora.
A contextualizao do tema ser feita
por mei o da proposi o de si t uaes-
problemas, cujas solues dependem da
aplicao das relaes mtricas que foram
determinadas.
Um aspect o que j ul gamos
extremamente importante a vinculao
dos cont edos est udados no cur so de
f or mao i ni ci al com os do Ensi no
Fundamental e Mdi o. Sem dvida, nas
di sci pl i nas de um cur so super i or de
mat emt i ca, nos depar amos i nmer as
vezes com o Teorema de Pitgoras, tanto
no que diz respeito a suas aplicaes como
a sua fundamentao. Entretanto, par a
fazer esta ponte , escolhemos um captulo
de Anl i se Mat emt i ca que t r at a da
comensurabilidade. Em primeiro lugar, por
conter a base destas rel aes, que a
comparao de segmentos, que permite
estabelecer sua medida. Em segundo lugar,
por ser a gnese de um importante fato
numrico, que o surgimento dos nmeros
irracionais.
Desta forma, enfocaremos o assunto
sob t r s pont os de vi st a: al gbr i co,
geomtrico e numrico. Uma aplicao do
Teorema de Pitgoras, abordada sob esses
tr s aspectos, ser apresent ada com a
utilizao de um recurso tecnolgico.
Finalmente, traremos o relato de uma
aluna da Licenciatura em Matemtica da
PUCRS, sobre sua experincia em articular
cont edos da di sci pl i na de Anl i se
Matemtica com os trabalhados na sala de
aula do Ensino Fundamental.
Ref er nc i as
VILA, Ger al do Sever o de Souza. Anl i se
M at emt i ca par a Li cenci at ur a. So Paul o:
Edgard Blcher LTDA, 2001
BIANCHI, Alaydes S.; MLLER, Marilene J.
Def i ci nci as de apr endi zagem em mat emt i ca:
uma r eal i dade pr eocupant e. Por t o Al egre:
PUCRS, 2001. Projeto de Pesquisa.
BRASIL. Ministrio de Educao. Secretaria de
Educao Fundamental. Ref er enci ai s par a a
f or mao de pr of essor es. Braslia, DF, 1999.
BRASIL. Ministrio de Educao. Secretaria de
Educao Fundament al . Pa r m et r os
cur r i cul ar es naci onai s t er cei r o e quar t o ci cl os
do ensi no f undament al . Braslia, DF, 1998.
CARRAHER, Terezinha et al. Na vi da dez, na
escol a zer o. So Paulo: Cortez Editora, 1988
IMENES, Luiz Mrcio. Vi vendo a mat emt i ca:
Descobr i ndo o t eor ema de Pi t gor as. So Paulo:
Scipione, 1987.
IMENES, Lui z Mr ci o; LELLIS, Mar cel o.
M at emt i ca. v8. So Paulo: Scipione, 1997.
PERRENOUD, Philippe. 10 novas compet nci as
par a ensi nar . Porto Alegre, Artmed, 2000
PERRENOUD, Philippe. Const r ui r as compet nci as
desde a escol a. Porto Alegre, Artmed, 1999.
VASCONCELLOS, Celso dos S. Const r uo do
conheci ment o em sal a de aul a. Cader nos
pedaggi cos do Li ber t ad 2. So
Paulo,1996.
Can oas v.4 n. 1 p. 101 - 107 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Oficinas
Est r at gi as de apr endi zagem e
sol u es de pr obl emas par a
pr of essor es e al unos
Cl audi a Li set e de Ol i vei r a Gr oenw al d
M ar cos Rogr i o M er t z
1 - I nt r odu o
Problema qualquer tipo de atividade
procedimental que seja realizada dentro ou
fora da sala de aula. No entanto, uma tarefa
qual quer (sej a mat emt i ca ou no
matemtica) no constitui um problema.
Para que possamos falar da existncia de
um problema, a pessoa que est resolvendo
est a t ar ef a preci sa encont r ar al guma
di fi culdade que a obri gue a questi onar
sobre qual seria o caminho que precisaria
seguir para alcanar a meta (Pozo, 1998).
Problema qualquer situao que exija
o pensar do suj ei to par a sol uci on-l o.
Problema-matemtico qualquer situao
que exija a maneira matemtica de pensar
e conheci ment os mat emt i cos par a
solucion-la. Problemas de aplicao so
aqueles que retratam situaes reais do dia-
a-dia e que exigem o uso da matemtica
par a ser em r esol vi dos, so t ambm
chamados de situaes-problemas (Dante,
1989).
Probl ema sempre envol ve, par a o
al uno, uma rel ao entre o que j se
encont r a assi mi l ado e um novo
conheci ment o e par a que ocor r a a
aprendizagem necessrio a superao do
novo e o antigo que ele j conhece (Pais,
2000).
Lester, 1983, i dent i fi ca probl emas
como uma situao que o indivduo ou
um grupo quer ou precisa resolver e para
a qual no dispe de um caminho rpido
e direto que o leve soluo .
Temos um probl ema sempre que
procur ar mos os meios par a ati ngir um
objeti vo. Quando temos um desejo que
no podemos satisfazer i medi atamente,
pensamos nos meios de satisfaz-lo e assim
se pe um problema. A maior parte da
nossa ati vi dade pensante, que no sej a
simplesmente sonhar acordado, se ocupa
Claudia Lisete Oliveira Groenwald Doutora em Cincias da Educao pela Universidade Pontifcia de Salamanca, Espanha; professora titular no
Departamento de Matemtica e no Laboratrio de Matemtica da Universidade Luterana do Brasil ULBRA. E-mail: claudiag@ulbra.br
Marcos Rogrio Mertz Acadmico do curso de Matemtica da ULBRA, bolsista de Iniciao Cientfica FAPERGS/ULBRA..
102 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
daquilo que desejamos e dos meios para
obt-lo, isto , de problemas (George Plya,
1985 ).
Ex.: Calcule o valor de A:
A = log tan 1
+ log tan 2
+ log tan 3
+
... + log tan 89
A = log ( tan 1
. tan 2
. tan 3
. ... . tan
89
)
A = log
|
|
.
|
\
|
o o o o
o o o o
89 cos ... 3 cos 2 cos 1 cos
89 sen ... 3 sen 2 sen 1 sen
A = log
|
|
.
|
\
|
o o o o
o o o o
1 sen ... 87 sen 88 sen 89 sen
89 sen ... 3 sen 2 sen 1 sen
A = log 1
A = 0
Pozo (1998), salienta que existe uma
importante e sutil relao entre exerccios e
problemas, se um problema repetidamente
resolvido acaba por tornar-se um exerccio, a
soluo de um problema novo requer a
ut i l i zao est r at gi ca de t cni cas ou
habilidades previamente exercitadas.
A diferena mais importante para o
professor, entre problema e exerccio, a que
existe entre os problemas de rotina e aqueles
que no o so. O problema que no se resolve
por rotina exige um certo grau de criao e
originalidade por parte do aluno, enquanto o
problema de rotina no exige nada disso. O
probl ema a ser resol vi do t em al guma
possi bi l i dade de cont r i bui r par a o
desenvol vi ment o i ntel ect ual do al uno,
enquanto o problema de rotina no tem
nenhuma.
Exempl o de exer c c i o
Ache dois nmeros que somados tem
como resultado 10 e multiplicados 21.
Ex empl o de pr obl ema
Comprei 100 animais com R$ 100,00.
Sendo bois R$ 10,00 cada, ovelha R$ 3,00
e porcos R$ 0,50. Quantos animais comprei
de cada espcie?
Sol uo:
Sendo:
x = nmero de bois
y = nmero de ovelhas
z = nmero de porcos
5
14 400
400 5 14
200 6 20
600 6 6 6
100
2
3 10
100
x
z
z x
z y x
z y x
z
y x
z y x
+
=
=
= + +
=
= + +
= + +
5
19 100
500 14 400 5 5
100
5
14 400
100
x
y
x y x
x
y x
z y x
=
= + + +
=
+
+ +
= + +
5
14 400
5
19 100
x
z
x
y
+
=
=
x y Z
1 16,2 -
2 12,4 -
3 8,6 -
4 4,8 -
5 1 94
x = 5
y = 1
z = 94
=
= +
21 xy
10 y x
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 103
O ponto de partida do processo de
ensi no-apr endi zagem deve abor dar
assunt os de i nt er esse do al uno, que
est i mul em a cur i osi dade e que
desencadeiem um processo que permita a
construo de novos conhecimentos.
Na linguagem de Plya (1945), falar
de estratgias seria equivalente a falar de
um plano para encontrar uma soluo ,
enquanto o conheci mento oper aci onal
seria o que teramos que colocar em ao
par a execut ar o pl ano pr oj et ado
estrategicamente.
Assi m, as estr atgi as de sol uo de
problemas seriam formas conscientes de
organizar e determinar os recursos de que
di spomos par a a sol uo de um
determinado problema.
As est r at gi as i ncl ui r i am o
planejamento e organizao das diferentes
tcnicas adotadas para satisfazer submetas
e metas.
A soluo de qualquer problema um
processo complexo que deve ser realizado
segui ndo uma sr i e de passos
determinados, que segundo Plya, 1945,
so os seguintes:
a) Compreender o problema
b) Conceber um plano
c) Executar o plano
d) Viso retrospectiva
Exemplo
Com quat r o quat r os e as quat r o
operaes escrever os nmeros de 0 a 10.
Pl a n o d e a o p a r a o
pr of essor
Compreenso do problema, discutir
com a turma se h dvidas em relao
a tarefa
El abor ar um pl ano de ao em
conjunto com a turma
Apresentar dicas de soluo, quando
desejadas e solicitadas pelo aluno
Resoluo do problema pelos alunos
Verificao da soluo cor reta
Discusso das solues encontradas
Pl ano de a o par a o al uno
No procurar os nmeros na ordem,
pois isto pode gerar uma dificuldade
maior e, em funo disso, dificultar a
atividade.
Procurar relaes entre as respostas
encontradas.
Por exemplo:
4 + 4 4 : 4 = 7 e 4 + 4 + 4 : 4 =
9
pois:
8 1 = 7 e 8 + 1 = 9
Buscar encont r ar r espost as na
tabuada do 4. Por exemplo: qual o
nmero que ao di vi di r por 4 tem
resposta 5 ? 20, logo = 4 4 + 4 =
20
(4 4 + 4) : 4 = 5
20 : 4 = 5
ou ainda: 12 : 4 = 3
logo: (4 4 4) : 4 = 3.
Ao encontrar a resposta do nmero 5
relacionando encontra-se a resposta para
o nmero 3.
Sugest es par a o pr of essor
O professor deve i nter vir, junto ao
aluno, sempre com indagaes que o
levem a concluir suas dvidas e/ ou
seus er ros.
Exemplo: Para encontrar o nmero 4,
um cami nho, el i mi nar os outros tr s
nmeros 4, qual a soluo?
Est a pergunt a i nduz os al unos a
relacionarem que zero mais quatro igual
a quatro.
Logo, a pr xi ma i ndagao do
professor deve ser:
Como encont r ar zer o com t r s
nmeros quatro? Os alunos devem associar
com multiplicar por zero.
104 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
1 idia 0 + 4 = 4
2 idia (4 4) 4 = 0
Soluo (4 4) 4 + 4 = 4
Logo:
(4 4) 4 + 4 = 4
0 4 + 4 = 4
0 + 4 = 4
A interveno do professor deve ser
sempre com indagaes e nunca indicando
a resposta, mostrando como se faz e sim
levando o aluno a tirar concluses.
O professor ao se deparar com uma
r espost a er r ada, deve sempr e
perguntar ao aluno o que ele tinha
i nt eno de escrever, l evando-o a
expressar, em voz al ta, para poder
dialogar sobre sua inteno.
Exemplo 1: 4 + 4 : 4 + 4 = 6
A inteno do aluno era
8 : 4 + 4 = 6
Logo, evidencia-se a necessidade de
parnteses:
(4 + 4) : 4 + 4 = 6.
Exemplo 2:
(4 4) : 4 4 = 0
O uso i ndevi do de par nt eses
comum e deve ser sal i ent ado pel o
professor, que o uso do parnteses tem um
obj et i vo e no deve ser usado sem
necessidade.
Sol u o da at i vi dade
4 4 4 4 = 0
(4 4) : (4 4) = 1
4 : 4 + 4 : 4 = 2
(4 4 4) : 4 = 3
(4 4) 4 + 4 = 4
(4 4 + 4) : 4 = 5
(4 + 4) : 4 + 4 = 6
4 + 4 4 : 4 = 7
4 4 : 4 + 4 = 8
4 + 4 + 4 : 4 = 9
(44 4) : 4 = 10
Habi l i dades que podem ser
desenvolvidas nesta atividade
Revi so do contedo de expresses
numricas (ordem das operaes, uso
dos par nteses, col chetes, chaves),
per mi t i ndo o apr i mor ament o da
compreenso deste assunto.
Aumento da capacidade de realizar
rel aes, de uma resposta concl ui r
outra, em conseqncia, estimular o
raciocni o l gico e a capacidade de
abstrao.
Gener al i za o
Podemos ampl i ar o probl ema com
quatro quatros pedi ndo aos alunos para
escreverem os nmeros de 0 a 100, usando
quatro quatros e qualquer operao.
I mpor t ant e sal i ent ar que, par a
facilitar o trabalho, os algarismos quatro
podem estar agrupados.
Ex.: 44 - 44 = 0
44
44
= 1 44 : 44 = 1
4 : 4 + 4 4 = 2
4
+
4
- 4 : 4 = 3
Doi s nmer os di f cei s de ser em
encontrados so o 33 e o 41, que podem
ser indicados pelo professor:
33 =
4
4 4
! 4
+
41 =
( )
! 4
! 4 ! 4 4 +
A soluo geral para o problema :
Para todo nmero natural n, temos:
n =
4
1
log
4
log
4
4n + 1 radicais
4 ...
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 105
n =
73
2
2 2
4 log log
4
1
n =
73
2
1
. 2
2 2
2 log log
4
1
n =
72
2
1
2 2
2 log log
4
1
n =
72
2
2 log
4
1
n =
18 ) 72 .(
4
1
=
Sei s pr obl emas no tri vi ai s e
equivalentes ( Zalman Usiskin, RPM-04,
28-31 )
Caractersticas:
so probl emas mat emat i cament e
idnticos at nos nmeros usados na
sua resoluo;
nada no problema indica que o mesmo
tipo de Matemtica pode ser usado, at
que a resoluo seja examinada. Assim
os problemas, na medida do possvel,
vm de t pi cos t ot al ment e
desvinculados dentro da Matemtica ou
dentro de aplicaes da Matemtica;
os probl emas est o no mbi t o da
Matemtica do Ensino Fundamental e
Ensino Mdio, quanto mais simples
melhor.
Problemas:
1) Expresse
2
1
como soma de duas
fraes de numerador 1 ( fraes do tipo
n
1
n um inteiro positivo ).
2) Ache todos os retngulos cujos lados
tenham por medida nmeros inteiros
e que t enham rea e per met ro
numericamente iguais.
3) Quais pares de inteiros positivos tem
mdia harmnica igual a 4 ?
4) Ache os possveis pares de inteiros cujo
produto seja positivo e igual ao dobro de
sua soma.
5) Dado um ponto P, ache todos os n tais
que o espao em torno de P possa ser
cober t o, sem super posi o, por
polgonos regulares, congruentes, de n
lados.
6) Para quais inteiros positivos n > 2, o tais
que o espao em torno de P possa ser
cober t o, sem super posi o, por
polgonos regulares nmero 2n divisvel
por n - 2?
Resoluo:
Se
2
1
for a soma de duas fraes de
numerador 1 ento
q
1
p
1
2
1
+ =
1)
onde p e q so inteiros positivos. ( A equao
ser resolvida mais adiante ).
2) Sejam a e b o comprimento e a largura
do retngulo procurado. Como a rea
e o per metro so numer i camente
iguais, temos:
2a + 2b = ab
2 ( a + b ) = ab
2
1
ab
b a
=
+
2
1
b
1
a
1
= +
Como a e b devem ser i nt ei ros e
positivos esta ltima equao tem a mesma
forma que a equao do problema 1.
y x
xy 2
+
Sej am x e y i ntei ros posi ti vos. Das
condies dadas
4
y x
xy 2
=
+
Ex.: n = 18
n =
4 ... log log
4
1
4 4
73 radicais
106 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
2
y x
xy
=
+
2
1
xy
y x
=
+
A ltima equao tem a mesma forma
que a equao na terceira linha do problema
2 e assim se reduz a equao do problema
1.
Sej am x e y doi s i ntei ros, z o seu
produto, z > 0. Os nmeros x e y devem
ser positivos pois sua soma e produto so
positivos. Das condies dadas obtem-se
xy = z e x + y =
2
z
1) As duas condi es j unt as
implicam:
x + y =
2
xy
2
1
xy
y x
=
+
Est a l t i ma equao i dnt i ca
equao da ltima linha do problema 3 e
assim reduz-se equao do problema 1.
5) Este probl ema mai s di fci l de
caracterizar. Seja k o nmero de polgonos
com vrtices em P. Se os polgonos no se
sobr epuser em, f or em r egul ar es e
congruentes, utilizando a notao da figura
abaixo, obter-se-:
k
360
...
k 2 1
= o = = o = o
em graus
M as os
i
o so medidas de ngulos de
polgonos regulares de n lados, portanto
n
180 ). 2 n (
i
= o
1
k i s s
2
1
o
k
o
Temos ento
( )
n
180 . 2 n
k
360
=
n
2 n
k
2
=
2n = (n - 2).k
2n + 2k = nk
Das condies do problema segue-se
que n e k devem ser inteiros positivos e
portanto esta equao tem a mesma forma
que a primeira linha do Problema 2.
6) Se 2n divisvel por n - 2 ento 2n
= (n - 2)K, onde K um nmero inteiro.
Esta equao idntica a uma das equaes
do problema 5 e portanto se reduz do
problema 1.
Equa o Di of ant i na
Assim, os seis problemas podem ser
resolvidos considerando-se a equao do
probl ema 1. Devi do s condi es, esta
equao uma equao diofantina e sua
soluo interessante.
1. Sej a
q
1
p
1
2
1
+ =
onde p e q so
inteiros positvos
2. i mpossvel t er mos
p
1
4
1
>
e
q
1
4
1
>
(pois a soma no chegaria a ser
2
1
)
e assim pelo menos uma das fraes
p
1
e
q
1
deve ser maior do que ou igual a
4
1
.
Suponhamos
4
1
p
1
>
3. Ento p = 1, 2, 3 ou 4.
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 107
4. p = 1
1
2
1
=
+
q
1
1 q = -2, o
que no possvel pois q positivo;
p = 2
q
1
2
1
2
1
+ =
0
q
1
=
que
no tem soluo
p = 3
q = 6;
p = 4
q = 4.
5. Por causa da simetria de p e q na
equao or i gi nal , obt emos resul t ados
cor respondentes se
4
1
q
1
>
6. Portanto temos 3 solues:
(p,q) = (3,6);
(p,q) = (4,4);
(p,q) = (6,3)
SOLUES: t odos os pr obl emas
esto agora resolvidos.
Problema 1 - A resposta :
3
1
6
1
4
1
4
1
6
1
3
1
2
1
+ = + = + =
Problema 2 - Existem dois retngulos
satisfazendo as condies dadas: Um 4 x
4 e o outro, 3 x 6 .
Problema 3 - Duas respostas: 4 e 4 ou
3 e 6 so pares de i ntei ros cuj a mdi a
harmnica 4.
Problema 4 - Os pares so idnticos
aos do Problema 3.
Probl ema 5 - Os ni cos pol gonos
r egul ar es e congr uent es que, sem
superposio, cobrem o espao em torno
de P ( e assim cobrem o plano ) so os
pol gonos de 3 l ados ( sei s t r i ngul os
equilteros em torno de P ), os de 4 lados (
quatro quadrados em torno de P ) e os de
6 lados ( trs hexgonos regulares em torno
de P ), como se v na figura abaixo:
Problema 6 - A resposta : n - 2 um
divisor de 2n quando n = 3, n = 4 ou n =
6. ( A condio n > 2 no problema original
gar ant e ser n - 2 posi t i vo. Sem essa
condio existiriam as solues n = 1, n =
0 ou n = -2 ).
Ref er nc i as
DANTE, L.R. Di dt i ca da r esol uo de pr obl emas
de M at emt i ca. So Paulo: tica, 1989.
PAIS, Luiz Carlos, ett. all. Educao M at emt i ca
- uma i nt r oduo. So Paulo: EDUC, 2000.
PLYA, G. O ensi no por mei os de pr obl emas. RPM
- SBM,1985, 11-16.
POZO, Juan Ignacio, organizador, A Sol uo de
Pr obl emas - apr ender a r esol ver, r esol ver par a
apr ender . Porto Alegre: ArtMed, 1998.
USISKIN, Zalman. Seis problemas no triviais
equivalentes. RPM - SBM,1984, 28-34.
Oficinas
O uso de j ogos mat emt i c os
em sal a de aul a
Cl audi a Li set e Ol i vei r a Gr oenw al d
Ur sul a Tat i ana Ti mm
1 - I nt r odu o
Um dos obj et i vos de ensi nar
mat emt i ca desenvol ver o r aci ocni o
l gi co, est i mul ar o pensament o
independente, a criatividade. Sabemos que
o atual ensino da matemtica encontra-se
afastado da realidade e da compreenso dos
alunos e pensamos que, como educadores
mat emt i cos, devemos pr ocur ar
alternativas metodolgicas para tornar a
Matemtica menos rida, mais agradvel,
que motive o aluno a querer aprender cada
vez mais.
Nesta oficina ser apresentada uma
alternativa metodolgica j conhecida por
muitos, que aumenta a compreenso dos
cont edos mat emt i cos, i ncent i va a
criatividade e a descoberta na resoluo de
problemas do dia-a-dia, que so os jogos
matemticos.
2 - Mas o que um j ogo
mat emt i c o?
Jogos mat emt i cos so at i vi dades
l di cas que, par a serem desenvol vi das,
necessi t am conheci ment os l gi co-
matemticos.
Os jogos devem apresentar variaes
par a os exercci os, poi s per ant e a sua
atividade o aluno se colocar em contato
com as est r ut ur as mat emt i cas. A
abst r ao mat emt i ca, i nerent e nest a
disciplina se apresenta no jogo de forma
ativa, permitindo compreender, analisar,
sintetizar e abstrair.
O jogo, o brinquedo e a brincadeira
sempre estiveram presentes na vida do
homem, dos mais remotos tempos at os
di as de hoj e, nas suas mai s di ver sas
manifestaes, sejam bl icas, rel i gi osas,
filosficas ou educacionais.
Claudia Lisete Oliveira Groenwald - Dr em Cinciasda Educao pela Pontifcia de Salamanca na Espanha, Especialista em Matemtica e Licenciada
em Matemtica. Professora da Universidade luterana do Brasil ULBRA. E-mail: claudiag@ulbra.br
Ursula Tatiana Timm Licenciada em Matemtica pela ULBRA. E-mail: ursulatimm@bol.com
Can oas v.4 n. 1 p. 109 - 115 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
110 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
Jean Chateau (1985) j dizia que: no
se pode imaginar a criana sem seus riscos
e seus jogos. Supondo que subi tamente
nossas crianas cessassem de jogar; que os
pt i os de nossas escol as se tor nassem
sil enci osos, que ns no fossemos mai s
atrados pelos gritos ou choros que vm do
jardim ou do ptio, no ter amos mai s,
perto de ns, esse mundo infantil que faz
nossa al egr i a e nosso t or ment o, mas
ser amos um povo t r i st e, de pi gmeus
desajeitados e silenciosos sem inteligncia
e sem alma. Pigmeus que poderiam crescer,
mas que guardariam por toda a existncia
a ment al i dade de pi gmeus, dos seres
pr i mi ti vos; pel o j ogo que se tor nam
grandes a alma e a inteligncia. A criana
que no jogar um pequeno velho , um
adulto que no saber pensar.
Se t omar mos o j ogo em sent i do
ampl o, podemos def i ni -l o como um
di ver t i ment o, uma r ecr eao, uma
br i ncadei r a, um passatempo suj ei t o a
regras, exi sti ndo dentro dos l i mi tes do
tempo e do espao. Todo o jogo tem um
incio, um desenvolvimento e um fim e se
r eal i za em um campo pr evi ament e
delimitado, exigindo, pois, no seu decor rer,
uma ordem absol uta e pl ena par a sua
realizao.
Jogar no estudar nem trabalhar,
mas jogando, o aluno aprende, sobretudo,
a conhecer e compreender o mundo social
que o rodeia (Or tega, 1997). A mel hor
forma de conduzir a criana atividade, a
auto-expresso e socializao atravs dos
jogos, pois a aprendizagem acontece de
for ma i nteressante e pr azerosa. esse
raciocnio, de que os sujeitos aprendem
atravs dos jogos, que nos leva a utiliz-los
em sala de aula.
Podemos concluir, ento, que os jogos
so educativos. Sendo assim, requerem um
plano de ao que permita a aprendizagem
de conceitos matemticos e culturais, de
uma maneira em geral. Devemos ocupar
um horrio dentro do nosso planejamento,
de f or ma a per mi t i r expl or ar t odo o
potencial dos jogos, processos de soluo,
r egi st r os, di scusses sobr e possvei s
caminhos que podem surgir. Se optarmos
em utilizar jogos em sala de aula, devemos
faze-lo planejadamente. Se o professor no
aproveita aplicabilidade dos jogos, melhor
que no os utilize.
Ortega (1997) afi rma que no de
i nteresse fazer propostas de j ogos que,
f i nal ment e, no sej am exercci os que
possibil item a i nter pretao, escr ita, ou
qualquer outro tipo. A inveno do jogo
deve, ef et i vament e, dar l ugar a uma
verdadeira atividade ldica e portanto h
de ser considerada pelos alunos como uma
situao claramente distinta do trabalho.
Nada mais claro para o aluno que saber que
h um espao e um tempo para jogar.
Afi r ma tambm, que i mpor tante
organizar os materiais, o espao e o tempo
de jogar, conforme quadro a seguir:
Os mat er i ai s:
Os jogos que representam objetos
r eai s da vi da so os mai s
apropriados.
Podem ser fabricados.
importante utilizar as sobras de
mat er i ai s, se t r ansf or mam
adequadamente.
A esttica importante.
O t empo:
O tempo do jogo deve ser flexvel.
A or gani zao de um t empo
imaginrio de um jogo deve estar
includa no tempo real.
As nor mas de compor t ament o
delimitam o tempo imaginrio do
jogo.
O t empo do j ogo no deve ser
recompensa do trabalho rpido.
O espa o:
O ideal ter na escola uma sala de
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 111
Os jogos podem ser utilizados para
introduzir, para amadurecer contedos e
pr epar ar o al uno par a domi nar os
cont edos j t r abal hados. Devem ser
propost os de acordo com os nvei s de
conhecimento de cada turma.
Os professores devem usar os jogos
no apenas como um i nst r ument o
recreativo na aprendizagem, mas sim como
um i nstrumento facil itador, colabor ando
para serem trabalhados os bloqueios que
os alunos apresentam em relao a alguns
contedos matemticos, desenvolvendo a
aut oconf i ana, organi zao, at eno,
concentr ao, l inguagem, cri ati vi dade e
r aci ocni o dedut i vo. Ut i l i zar j ogos na
educao si gni f i ca t r anspor t ar par a o
campo do ensino-aprendizagem condies
par a maxi mi zar a const r uo do
conheci ment o, i nt r oduzi ndo as
propr i edades do l di co, do pr azer, da
capaci dade de i ni ci ao e ao at i va e
motivadora.
Partindo do princpio que as crianas
pensam de maneira diferente dos adultos
e de que o nosso objetivo no ensin-las
a jogar, o professor deve acompanhar a
maneira como as cri anas j ogam, sendo
um observador atento, interferindo para
col ocar quest es i nt er essant es (sem
perturbar a dinmica dos grupos) para, a
partir disso, auxili-las a construir regras e
a pensar de um modo que elas entendam.
Segundo Malba Tahan, 1968, para
que os jogos produzam efeitos desejados
preciso que sejam de certa forma, dirigidos
pel os educadores . Cabe ao prof essor
organizar o grupo a fim de que as crianas
discutam at chegar a um consenso.
Sabemos que o aspecto competi tivo
nos jogos contribui para o desenvolvimento
da cr i ana, uma vez que exi ge dest a
colaborao, elaborao e cumprimento de
regr as, mas devemos cui dar par a no
enf ati zar a pal avr a vencedor , poi s o
f r acasso i ni be, dest r i o ni mo e o
entusiasmo. Devemos lidar com a vitria
de for ma natur al , dei xando cl aro que
perder faz parte do jogo. Cabe ao professor
preparar o aluno, dando a ele a conscincia
de que no jogo el e est se arri scando a
ganhar e a perder; e que vencer ou no
pouco i mportante. Os alunos acei tam a
idia de perder um jogo medida que for
se acostumando com o uso deste material
em sala de aula.
As p e c t o s r e l e v a n t e s n o s
j ogos:
durante o jogo o professor consegue
det ectar os al unos que esto com
dificuldades reais.
o aluno se empolga com o clima de
aul a di ferent e, o que faz com que
aprenda sem perceber.
o jogo evolui com a idade refletindo
cada moment o a f or ma como a
criana compreende o mundo.
no existe o medo de er rar, pois o erro
considerado um degrau necessrio
para se chegar a uma resposta cor reta.
no jogo existe uma competio onde
os jogadores e adver srios almejam
vencer e para isso aperfeioam-se e
ultrapassam seus limites.
dur ante o desenrol ar de um j ogo,
obser vamos que a cr iana se torna
mai s cr t i ca, al er t a e conf i ant e,
expressando o que pensa, elaborando
perguntas e tirando concl uses sem
jogos, a qual podemos chamar ludoteca.
O espao deve ser decorado com a
participao dos alunos.
O cenrio do jogo cor responde com
a cena simulada.
Certos elementos espaciais atuam
de chaves que delimitam o cenrio
l di co.
Adaptado de Jugar y aprender, Or tega, 1997.
112 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
necessi dade da i nt er f er nci a ou
aprovao do professor.
Segundo Garca Hoz (1995), os jogos
convenientemente escolhidos e adaptados
so t ei s par a o desenvol vi ment o do
pensamento matemtico. Porm, devemos
pensar em j ogos e em possvei s
modificaes dos mesmos para incentivar
a criatividade.
Mour a (1991) af i r ma que o j ogo
apr oxi ma-se da mat emt i ca vi a
desenvol vi ment o de habi l i dades de
resoluo de problemas, ento, devemos
escolher jogos que estimulem a resoluo
de problemas, principalmente quando o
contedo a ser estudado for abstrato, difcil
e desvi ncul ado da pr t i ca di r i a; no
esquecendo de respeitar as condies de
cada comunidade e o querer de cada aluno.
Os jogos no devem ser nem muito fceis
nem muito difceis e devem ser testados
antes da sua aplicao, afim de enriquecer
as exper incias atravs de propostas de
novas atividades, propiciando mais de uma
situao. Devemos sempre nos questionar
se ele est sendo empregado com bases
ter i cas que gar antam um ensi no com
maior embasamento cientfico.
Segundo os Parmetros Cur riculares
Naci onai s, vol ume 3, no exi st e um
caminho nico e melhor para o ensino da
matemtica. No entanto, conhecer diversas
possibilidades de trabalho em sala de aula
f undament al par a que o pr of essor
construa sua prtica, destacando-se, entre
elas, a resoluo de problemas; a histria
da matemtica; o recurso dos jogos.
Material: tabuleiro e lista de situaes-
problema (a seguir), tampas de tubos de
pasta dental de cores diferentes que sero
utilizadas como pees e um dado.
Regr as:
1 Cada participante, na sua vez, sorteia
um nmero no dado. Este nmero
determi na quantas casas o j ogador
COMECE
AQUI
1
12 23
1 1 13 22
2 9
14
21
3 8 15 20
4 7 16 1
9
5
6 17 18
28 31 40 43
29 30 41 4
2
26
33 38
45
27 32
39 44
25 34 37 46
24 35 36
47
CHEGA
DA
0
11
9
2
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 113
deve avanar. Resol ve, ent o, o
problema cujo nmero cor responde a
essa casa.
2 Mas, cada jogador s pode movimentar
o peo para a casa sorteada se acertar
o pr obl ema. Caso cont r r i o,
permanece no mesmo lugar e passa o
problema para o seguinte jogador.
3 Se o j ogador segui nt e r esol ver o
probl ema, f i ca com os pont os do
jogador anterior e ainda tem direito
sua j ogada da vez. Mas caso el e
tambm no acerte, passa o problema
ao j ogador segui nt e. E assi m por
diante.
4 Ganha o jogo quem primeiro alcanar
a Chegada.
Pr obl emas das c ar t as:
1 - Andria tinha duas notas de R$100,00
par a compr ar ci nco pr esent es.
Comprou um jogo por R$29,85, duas
bonecas por R$25,72 cada, um
car rinho por R$29,92 e um livro por
R$27,23. Quanto Andria gastou ao
t odo? Sobrou ou f al t ou di nhei ro?
Quanto?
2 - Num dia de chuva forte, faltaram 27
do total de alunos da classe de Denis.
Se essa classe tem, no total, 40 alunos,
quantos compareceram nesse dia?
3 - I van entregador de jornais e entrega
por dia 132 exemplares. Sabendo que
cada exempl ar pesa em mdi a
0,285Kg, com quant os qui l os de
jornal ele sai no incio da manh?
4 - Gilda faz embalagens para presentes.
Em cada embal agem el a gasta, em
mdia, R$1,06 e venda cada uma delas
por R$1,84. Ao final de um ms ela
vendeu 3325 embalagens. Qual foi o
lucro de Gilda?
5 - Ontem pela manh, uma roleta da
estao de metr Liberdade marcava
2 554 721. No final do dia, marcava 2
559 457. Quantas pessoas passaram
ontem por essa roleta?
6 - A piscina onde Fausto pratica natao
tem 12,5m de comprimento. Se ele
cr uza a pi sci na 44 vezes, quantos
metros ter nadado?
7 - Milena faz curso de ingls, piano e
pintura. A mensalidade do curso de
i ngl s R$108,53, a de pi ano
R$101,85 e a de pi ntur a, R$65,42.
Quanto Mi l ena gasta mensalmente
com esses cursos? E anualmente?
8 - No incio do ano Rui gastou R$93,92
com um uni f or me, R$126,05 com
livros e R$95,72 com outros materiais
escol ares. Qual o total da despesa
escolar de Rui nesse incio de ano?
9 - Quais os algarismos que esto faltando
na conta abaixo?
94
x 8
73
10 - Diga os nmeros naturais menores
que 50 e mltiplos de 13.
11 - Quantos anos tem uma pessoa que
nasceu em 1929?
12 - Quais so os nmeros primos entre
10 e 20?
13 - Escreva os nmeros naturais menores
que 40 e mltiplos de 8.
14 - D o nome de trs quadrilteros.
15 - Qual o nome do ngulo menor que
um ngulo reto?
16 - Leia em voz alta a forma ordinal do
nmero 57.
17 - Escreva um nmero em o algarismo
6 aparece com valor relativo 600.
18 - Escreva um nmero no qual o valor
absoluto do algarismo da dezena o
dobro daquele da centena e que o
114 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
valor relativo do algarismo da centena
maior que 200.
19 - Diga todos os divisores naturais de
30.
20 - Quantos quilos tm cinco toneladas?
21 - Quantos gramas tm dois quilos?
22 - Di ga trs produtos habitual mente
comprados em litros.
23 - Di ga trs produtos habitual mente
comprados por dzia.
24 - Quantos milmetros tm sete litros?
25 - Responda bem r pi do: qual o
antecessor de 35500?
26 - Quantos minutos tm trs horas?
27 - Sabendo que um babaual de 600
rvores gera, em mdia, 150 bar ris de
l eo comest vel por ano, quant os
bar r i s ser o produzi dos por 100
rvores de babau em um ano?
28 - O homem pisou na Lua pela primeira
vez em 20/07/1969. H quantos meses
isso aconteceu?
29 - Em uma campanha beneficente,
dos 1200 alunos da escola de Virgnia
contr ibuiu com R$2,53 cada um. A
outra metade contribuiu com 2,5Kg
de al i mentos cada um. Quanto foi
ar r ecadado em di nhei r o e em
ali mentos?
30 - Quantos centmetros existem em dois
quilmetros?
31 - Sem repetir nenhum algarismo, diga
qual o menor nmero com sete
algarismos.
32 - Sem repetir nenhum algarismo, diga
qual o mai or nmero com set e
algarismos.
33 - Numa caixa cabem, em mdia, 13
dzias de laranjas. Quantas laranjas
cabem em 32 dessas caixas?
34 - Qual o total de dezenas do nmero
3274?
35 - Qual o nome do polgono que tem
oito lados?
36 - Hoje Laura tem 39 anos. Quantos
anos Laur a t er no pr xi mo ano
bissexto?
37 - Uma fbrica produz 2670 pacotes de
bolacha por dia. Qual a produo
mensal ? (Obs.: Par a cl cul o de
produo mensal , usa-se mdi a de
trinta dias.)
38 - Joaquim vende 35 dzias de ovos por
di a. Quant os ovos el e vende por
semana?
39 - Escreva quatro mil em romanos.
40 - Um vdeo est programado para duas
horas de gravao. J se passaram 85
mi nut os. Quant os mi nut os ai nda
restam?
41 - Considerando que o corao de um
adulto bate em mdia 75 vezes por
minuto, quantas batidas ele dar em
dois dias?
42 - Se em um dia um adulto inspira em
mdia 8640 litros de ar, quantos litros
de ar inspirar em uma semana?
43 - O esquel eto humano possui 206
ossos. Quantos ossos h na cabea, se
no restante do esqueleto existem 177
ossos?
44 - O crebro humano possui em mdia
25 bilhes de neurnios. De quantos
zeros voc precisa para escrever esse
nmero?
45 - Em mdia, o corpo de um adulto
possui 5 milhes de plos, sendo que
aproxi madamente 150mil no couro
cabel udo. Quantos pl os est o no
restante do corpo?
46 - Um tablete de chocolate tem prazo
de val i dade at o l t i mo di a de
set embr o do pr xi mo ano. Por
quantos di as ele ai nda bom para
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 115
consumo, a partir de hoje?
47 - Num super mercado so vendi dos
chocol at es em t abl et es de 30g.
Quant os desses t abl et es so
necessr ios para per fazer 2,4Kg de
chocolate?
4 - Concl uso
Se os j ogos so conveni entemente
preparados, tendo como pano de fundo
os concei t os mat emt i cos, ser o um
r ecur so pedaggi co ef i caz par a a
construo do conhecimento matemtico.
Queremos estimular a cada um que
observe mais seu desempenho frente aos
alunos e desenvolva sempre uma atitude
de cr ena no ser humano, em sua
capaci dade espont nea e cr i at i va,
possibilitando-lhe condies de trabalho
at r avs da ao, como t ambm dar
incentivo para que surjam outras pesquisas
nessa rea, com a finalidade de formar um
acervo informativo de maior consistncia
para auxiliar queles que se propem a
desenvolver o uso de jogos em sala de aula.
Ref er nc i as
BORIN, Jlia. Jogos e r esol uo de pr obl emas: uma
est r at gi a par a as aul as de mat emt i ca. So
Paulo: IME-USP, 1996.
CARAVILLE PGITO, Jos A. Apunt es de
Educaci n. N at u r al ez a y M at emt i cas.
Madrid: Anaya, 41, Abril Junho, 1991.
FERRERO, Luis .F. El j uego y l a mat emt i ca.
Madrid: La Muralla, 1991.
GUZMN, Miguel de. Avent ur as M at emt i cas.
Barcelona: Labor, 1986.
GUZMN, Miguel de. Cuent os con cuent as.
Barcelona: Labor, 1984.
HOZ, Vi ct or Gar ca. En se a n z a d e l a s
mat emt i cas en l a educaci n secundar i a .
Mdrid: Rialp, 1995.
MOURA, M. A. de. A con st r u o do si gn o
numr i co em si t uao de ensi no. So Paulo:
USP, 1991.
SECRETARIA DA EDUCAO FUNDAMENTAL.
Pa r m et r os Cu r r i cu l a r es N a ci on a i s:
M at emt i ca. Braslia: MEC/ SEF, 1997.
Can oas v.4 n. 1 p. 117 - 123 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Oficinas
Ut i l i za o do c abr i -gomt r e I I
em sal a de aul a
Ana Br unet
M agda Leyser
1 - I nt r odu o
Nest a of i ci na f ar emos uso do
programa Cabri-Gomtre I I , trata-se e um
progr ama que permi te a si mul ao em
Geometri a Pl ana, par a uso em Fsi ca e
Matemti ca no Ensi no Fundament al e
Mdi o. Nest a of i ci na expl or aremos as
f er r amentas di sponvei s nest e si st ema
grfico para construes geomtricas que
per mi t am cr i ar e expl or ar f i gur as
geomtr icas de for ma i nterati va par a o
estudo do teorema da proporcionalidade e
semelhana, culminando com o estudo de
uma aplicao do Teorema de Tales.
O Cabri -Gomtre foi desenvolvi do
por Jean Marie Laborde, no Laboratrio
de Estruturas Discretas e de Didtica do
I nsti t uto de I nfor mti ca e Matemti ca
Apli cada de Grenobl e, na Univer si dade
Joseph Four ier de Grenoble, Frana. A
primeira verso foi apresentada em 1988.
O seu nome i nspi r ado nas segui ntes
pal avr as na l ngua fr ancesa: Cahi er de
brouillon interactif, que podemos traduzir
por caderno de rascunho interativo .
Como o nome sugere, a idia criar
um ambiente no computador onde a tela
torna-se uma folha de desenho capaz de
r epr esent ar qual quer const r uo
geomt r i ca, de modo a per mi t i r a
i nvest i gao e expl or ao das mui t as
pr opr i edades que sur gem dur ant e a
const r uo geomt r i ca. Uma das
car act er st i cas dest a f er r ament a a
di nmi ca da const r uo poder ser
r eapr esent ada, e a possi bi l i dade da
def or mao das f i gur as mant endo as
relaes entre os objetos.
O representante oficial do Cabri no
Brasil o Departamento de Matemtica
PUC - SP, e o site oficial do Cabri no Brasil
www.cabri.com.br. Entretanto no site da
empr esa Ger ao Byt e
(www.geracaobyte.com.br) tambm esto
disposio algumas informaes tcnicas
e meios de aquisio do programa.
Ana Brunet Professora do Departamento de Matemtica da Universidade Luterana do Brasil.
Magda Leyser Professora do Departamento de Matemtica da Universidade Luterana do Brasil.
118 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
Na figura abaixo temos representada uma figura com alguns objetos que podem ser
criados no Cabri.
Na barra de ferramentas disponvel no
Cabri, cada boto representa uma caixa de
f er r ament as. Em cada cai xa est o
di sponvei s as f er r ament as que ser o
usadas para as construes geomtr icas.
Par a escol her uma det er mi nada
ferramenta, deve-se clicar sobre o boto da
ferramenta desejada e arrastar o mouse at
a opo desejada. Durante as atividades
indica-se o nome da caixa conforme figura
abaixo e a respectiva opo.
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 119
As at i vi dades desenvol vi das nest a
oficina versam sobre proporci onal idade,
i ncl ui ndo o t eorema f undament al da
proporcionalidade e o Teorema de Tales.
Estas atividades so ilustraes de alguns
resultados que podem ser for mal izados
atravs de uma argumentao dedutiva.
Normalmente, este contedo estudado
na oi tava sr i e do ensino fundamental .
Desejamos auxi l iar a explor ao destes
tpicos atravs da observao dinmica das
propriedades envolvidas.
2 - At i vi dades
At i vi dade 1:
1. Atravs da caixa de fer ramentas retas,
opo reta, clicar na rea de desenho
um pont o, nome-l o de B pel o
t ecl ado, desl ocar o mouse e
determinar a reta de seu interesse,
nome-la de t.
2. Pel a cai xa de fer r ament as cur vas,
opo circunferncia, com centro em
B, selecione o ponto B e desloque o
mouse conf or me seu desej o par a
determinar o raio da circunferncia,
com um cl i que det er mi ne a
ci rcunfer nci a.
3. At r avs da cai xa de f er r ament as
ponto, opo ponto de interseco,
apont e par a as i nt er sees da
circunferncia com a reta t, chame-as
de A e C.
4. Usando a cai xa de f er r ament as
desenhar, opo mostrar e esconder,
apont e par a a ci r cunf er nci a, e
esconda-a.
5. Usando a caixa de fer ramentas reta, a
opo reta, determinar uma reta que
passa por B, chame-a de s.
6. At r avs da cai xa de f er r ament as
const r ui r, opo r et a par al el a,
determi nar a reta par al ela a s que
passa pel o ponto C, chame-a de r.
Repita este procedimento para a reta
que passa pelo ponto A, e chame a reta
de u.
7. Usando a caixa de fer ramentas reta, a
opo segmentos, iremos marcar os
segmentos AB e BC. Para conseguir
selecionar a opo segmentos, depois
de abr i r o menu, deve-se manter
pressionado a tecla da esquerda do
mouse e arrastar o mouse at a opo
segmento. Automaticamente, a barra
altera o boto. Agora selecionar as
extremidades dos segmentos.
8. Usando a caixa de fer ramentas medir,
opo di st nci a e compr i ment o,
determinar as medidas dos segmentos
marcados no item 1. Ao direcionar o
ponteiro do mouse para o segmento,
automaticamente abre-se uma caixa
de t ext o cont endo a medi da do
segment o. Nest e moment o voc
poder edi t ar a cai xa de t ext o e
nomear o segmento.
9. I nserir na rea de desenho uma tabela
(pl ani l ha). Usando a cai xa de
fer ramentas medir, planilha, desloque
o pontei ro do mouse at a rea de
desenho e cl ique. Automati camente
i r aparecer uma tabel a (pl ani lha).
Par a i ncl ui r as medi das dos
segmentos na planilha, aponte para a
medida do segmento at aparecer a
mensagem tabular este valor. Caso isso
no ocor r a, cl i que na bar r a de
ferramentas na ferramenta planilha e
vol t e a apont ar a medi da do
segmento. Caso no tenha informado
o nome do segmento, a primeira linha
da planilha ficar em branco.
10. Usando a cai xa de f er r ament as
ver i f i car pr opr i edade, opo
eqidistante, verifique se o ponto B
eqi di stante de A e C. Par a tanto,
aps sel eci onar a f er r ament a,
selecione o ponto B, depois selecione
120 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
os pontos A e C. Clique em qualquer
regio da rea de desenho.
11. Usando a caixa de fer ramentas reta,
opo r et a, cr i e uma nova r et a
transversal as retas s, r e u. Chame-a
de t1.
12. Marque os pontos de interseo da
reta t1 com as retas s, r e u, chamando-
os de D, E e F. Use a cai xa de
ferramentas ponto, opo pontos de
interseo. Para marcar os pontos de
i nter seo seleci one os obj etos que
det er mi nam a i nt er seo, ou
aproxi me o pontei ro do mouse do
ponto de i nterseco. Logo aps o
ponto de i nterseo ser marcado j
podes di gi t ar pel o t ecl ado a sua
identificao.
13. Usando a caixa de fer ramenta retas,
opo segmentos, crie os segmentos
DE e EF, determine a medida destes
segmentos pela caixa de ferramentas
medir. Nomeie as medidas.
14. I nclua as medidas dos segmentos DE
e EF na tabela, selecione a ferramenta
planilha, aponte para a medida a ser
includa na tabela e quando aparecer
a mensagem Tabular este valor, clique.
Observe que voc ver a incluso da
nova medida na prxima coluna da
tabel a. Ent ret anto s vezes, faz-se
necessr i o redi mensi onar a tabel a,
para isso basta arrastar o canto direito
inferior da tabela.
15. Ver i f i que se E um pont o
eqidistante dos pontos D e F, usando
a cai xa de f er r ament as ver i f i car
propriedade a opo eqidistante.
16. Usando a ferramenta ponteiro, ar raste
a reta t1, se desejar incluir na tabela
os valores, deve-se selecionar a tabela
e pressi onar a tecl a tab enquanto
ar rasta a reta t1.
17. Como fazer a animao da transversal
com a t abel a? Use a cai xa de
fer ramentas exibir, opo animao ,
selecione a tabela e a transversal. Para
verificar a propri edade par a outr as
transversais, obser ve a medi da dos
segment os DE e EF dur ant e a
animao.
At i vi dade 2:
1. Na caixa de fer ramentas reta, opo
segmento, definir um segmento na
rea de desenho, chame-o de OO;.
2. Na caixa de fer ramentas reta, construa
uma reta, chame-a de t. O ponto que
determina a reta chame-o de C.
3. Na cai xa de fer r amenta constr ui r,
opo compasso, selecionar os pontos
O e O; e depois o ponto C.
4. Na caixa de ferramenta pontos, opo
pontos de interseco, chamar de B e
D os pontos de inter seco da reta
com a circunferncia.
5. Repita as etapas 3 e 4 para centro em
B, o novo ponto chame-o de A. E para
centro em D, o novo ponto chame-o
de E.
6. Salve esta etapa da constr uo. Na
bar r a de menu escol ha a opo
arquivo, salvar, no di sco r gi do, na
past a al unos, nome do ar qui vo,
atividade2.
7. Na caixa de fer ramentas retas, opo
retas, criar uma reta passando pelo
ponto A. Nomeia-a de s1.
8. Na cai xa de fer r amentas constr uir,
opo reta paralela, construir uma reta
passando por B e paralela a s1, chame-
a de s2. Usando a mesma estratgia,
construir uma reta s3 passando por
C, s4 passando por D e s5 passando
por E, todas paralelas a s1.
9. Mover um dos extremos do segmento
OO; e observar o que ocor re com a
constr uo.
10. Criar uma reta transversal t a s1, s2,
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 121
s3, s4 e s5. Caixa de fer ramentas reta.
11. Cai xa de ferramentas ponto, opo
ponto de interseo, marcar os pontos
de interseo entre s1 e t, s2 e t, s3 e
t, s4 e t, s5 e t, respectivamente, A,
B, C, D e E.
12. Pela caixa de fer ramenta retas, opo
segmento, definir os segmentos, AB,
BC, CD, DE, AB, BC, CD e DE.
13. Pela caixa de ferramenta medir, opo
distncia e comprimento, verificar a
di st nci a dos segment os do i t em
anterior.
14. Pela caixa de ferramenta exibir, opo
ani mao, sol i ci t ar ani mao da
medida do segmento OO;.
15. Pela caixa de ferramenta exibir, opo
ani mao, sol i ci t ar ani mao na
transversal t1.
Concluso: Se 3 ou mais retas paralelas
determinam segmentos congruentes
em uma t r ansver sal , ent o
determinam segmentos congruentes
em qualquer outra transversal.
Desafio: Como dividir um segmento em
3 partes iguais, 4 partes iguais, ... , n
partes iguais?
At i vi dade 3:
Teor ema f undament al da
proporcionalidade. Se uma reta paralela a
um dos l ados de um tri ngulo cor ta os
outros dois lados, ento ela os divide na
mesma razo.
1. Na cai xa de f er r ament as r et as,
escol her a opo tr i ngul o. Cli que
sobre a rea de desenho a posio do
pr imei ro vrtice, denomi ne-o de A,
clique a posio do segundo vrtice,
denomine-o de B, clique a posio do
tercei ro vr t i ce denomi ne-o de C.
Aut omat i cament e f echa-se o
tringulo.
2. Na caixa de fer ramenta retas, opo
segmento, definir o segmento AB.
3. Usando a caixa de ferramentas ponto,
opo ponto sobre objeto, marque um
ponto do segmento AB, denomine-o
de D.
4. Usando a cai xa de f er r ament as
const r ui r, opo r et a par al el a,
deter mi ne a reta que passa por D
sendo par al el a ao segment o BC.
Denominada de reta s.
5. Usando a caixa de ferramentas ponto,
opo ponto de interseo, marque
um pont o do segment o AC,
interseo com a reta s denomine-o
de E.
6. Na caixa de fer ramentas retas, opo
segmento, defina os segmentos AD,
DB, AE e EC.
7. At r avs da cai xa de f er r ament as
medi r, opo di st nci a e
compr imento, determine a medida
dos segmentos do item anter i or.
interessante que durante a execuo
dest a et apa edi t e o nome do
segmento.
8. Usando a caixa de fer ramentas medir,
opo cal cul ador a, apont e par a a
medida do segmento AD at aparecer
a mensagem este nmero e clique
para copi-la na calculadora, selecione
na cal cul adora o boto de di vi so,
copie a medida do segmento BD e
selecione na calculadora o boto de
= . Ar r ast e a r ea de edi o do
resultado da calculadora para a rea
de desenho, o resultado da operao
aparecer na rea de desenho. Edite
o resultado digitando AD/DB= , use
a ferramenta exibir, opo comentrio.
9. Repita o item anterior para definir o
quoci ent e ent r e as medi das dos
segmentos AE e EC.
10. Usando a caixa de fer ramentas medir,
opo planilha, crie uma tabela na rea
de desenho com duas col unas.
Aponte para o quociente de AD/DB
122 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
para tabular na primeira coluna, e o
quociente de AE/EC para tabular na
segunda coluna.
11. Mova um dos vrtices para observar a
razo, atravs da fer ramenta ponteiro.
Se desejar incluir os dados na tabela,
selecione a tabela e enquanto move
um dos vr t i ces mant enha
pressionada a tecla tab do teclado.
12. Usando a caixa de fer ramentas exibir,
a opo animao, selecione a tabela,
e arraste um dos vrtices do tringulo.
13. Apague o cont edo da t abel a.
Selecione a coluna, e use a tecla delete
do teclado.
14. Repita o item 10.
15. Usando a caixa de fer ramentas exibir,
opo animao, selecione a tabela, e
arraste o ponto D.
At i vi dade 4:
Se uma reta corta dois lados de um
tr ingul o divi dindo-os na mesma r azo,
ento ela paralela ao terceiro lado.
1. Na caixa de fer ramentas retas, opo
t r i ngul o, cr i e um t r i ngul o de
vrtices A, B e C.
2. Na cai xa de fer r amentas constr uir,
opo ponto mdi o, deter mi ne os
pontos mdios dos lados AB, chame-
o de D, e lado AC, chame-o de E.
3. Deter mi ne a reta que passa pel os
pontos D e E, chame-a de s.
4. Na cai xa de f er r ament as medi r,
comprimento e distncia, determine
a medida dos segmentos AD, BD, AE
e EC.
5. Usando a calculadora determine as
razes AB/BD e AE/EC. Use a caixa
de f er r ament as medi r, opo
calculadora. Transfira para a rea de
desenho e nomeie essas razes.
6. Na cai xa de fer r ament as ver i f i car
propriedades, opo paralelo, aponte
par a a r et a s e o l ado BC.
Aut omat i cament e apar ecer um
r et ngul o pont i l hado, sel eci one
qualquer rea de desenho para exibir
o texto onde confi r mar ou no a
propriedade.
7. Repi t a o mesmo procedi ment o a
partir do item 2 para o ponto mdio
do segmento AD e segmento AE.
8. Verifique se a propriedade se mantm.
At i vi dade 5:
As medi anas de um t r i ngul o so
concor rentes em um ponto que dista de
cada vrtice 2/3 da distncia deste vrtice
ao ponto mdio do lado oposto.
1. Na caixa de fer ramentas retas, opo
tringulo, definir na rea de desenho
um tringulo ABC.
2. Na cai xa de fer r amentas constr uir,
opo ponto mdio, definir os pontos
mdios dos segmentos AB, BC e CA,
respectivamente, M3, M1 e M2.
3. Na caixa de fer ramentas retas, opo
segmento, deter mi nar o segmento
definido pelos pontos A e M1.
4. Na caixa de fer ramentas retas, opo
segmento, determinar o segmento B
e M2.
5. Na caixa de fer ramentas retas, opo
segmento, determinar o segmento C
e M3.
6. Na caixa de ferramentas ponto, opo
ponto de interseo, determinar P o
ponto de interseo dos segmentos do
item anterior.
7. Usando a caixa de fer ramentas medir,
opo compr i ment o e di st nci a,
medi r os segmentos AM1 e AP, os
segmentos BM2 e BP, os segmentos
CM3 e CP.
8. Usando a caixa de fer ramentas medir,
opo cal cul ador a, det er mi nar os
quocientes AP/AM1, BP/BM2 e CP/
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 123
CM3. Dur ant e a execuo dest es
clcul os transfir a estas i nfor maes
para a rea de desenho, ar rastando o
resultado, e editando atravs da opo
comentrio da caixa de ferramentas
exibir .
9. Movimente os vrtices para observar
o que acontece com os quoci entes.
Anote comentrios.
Obser vao: Suger e-se usar os
resultados das atividades anteriores para
j ustifi car, atravs da teori a, o resul tado
observado nesta atividade.
At i vi dade 6:
Teorema de Tal es. Usando como
referncia as atividades anteriores, sugere-
se como exercci o a const r uo dessa
atividade.
Se duas retas so transversai s a um
conjunto de retas paralelas, ento a razo
entre dois segmentos quaisquer de uma
delas igual a razo entre os comprimentos
dos segmentos cor respondentes da outra.
At i vi dade 7:
Usando o Teorema de Tal es par a
construir o ponto de coordenada (a, 1/a)
em um ei xo coordenado, sendo a um
nmero real qualquer.
1. Seja x uma reta. Caixa de fer ramentas
retas, opo reta.
2. Sobre x marque dois pontos e nomeio-
os de 0 e 1. Cai xa de fer r amentas
ponto, ponto sobre objeto.
3. Sobre x marque um terceiro ponto e
chame-o de a.
4. Construa a reta perpendicular a x que
passe por 0. Use a cai xa de
f er r ament as const r ui r, opo ret a
per pendi cul ar. Est a r et a
perpendicular, chame-a de t.
5. Na reta t, a par ti r de 0, marque a
mesma distncia de 0 a 1 da reta x.
Nomeie este ponto, tambm, de 1.
6. Definir a reta que passa por a em x e 1
em t, chame-a de reta s.
7. Definir a reta paralela a s que passa
pelo ponto 1 da reta x, nomeia-a de
reta r.
8. Determinar o ponto de interseo de
r com t, este ponto denomine-o de y.
9. Por Tales tem-se que 1/a = y/1.
10. Usando as f er r ament as r et as e
interseo de objetos, marque o ponto
(a, 1/a). Usando a caixa de ferramenta
exibir, a opo rastro on/of, marque o
rastro do ponto (a, 1/a). Movimente a
no eixo x.
3 - Ref er nc i as
Cabr i-Gomtre II Gui a de Ut i l i zao par a o
Wi ndow s. Texas Instr uments. Disponvel em
htt p:/ / www.cabr i.com.br (verificado em
22/ 11/ 2001).
REZENDE, El iane Quelho Fr ot a; QUEIROZ,
Maria Lcia Bontorim. Geomet r i a eucl i di ana
pl ana e const r ues geomt r i cas. Campinas:
Unicamp. 2000.
REZENDE, Eliane Quelho Frota; RODRIGUES,
Cludina Izepe. Cabr i - gomt r e e a geomet r i a
pl ana. Campinas: Unicamp. 1999.
Can oas v.4 n. 1 p. 125 - 131 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Oficinas
Uma vi agem c om o Cabr i -
Gomt r e I I
Jos Car l os Pi nt o Lei vas
1 - I nt r odu o
O software Cabr i -Gomtre I I tem
si do ut i l i zado par a r esol ver mui t os
pr obl emas, sendo uma das mai s
competentes ferramentas computacionais
par a o ensi no de geometr i a nas mai s
di ver sas f acet as t ai s como: Geomet r i a
Plana, Geometria Espacial, Trigonometria
e Geometria Analtica.
A ofici na proporci onar ati vidades
que, ao mesmo tempo que percor rem o
menu, proporcionam redescober tas de
Jos Carlos Pinto Leivas Mestre em Matemtica e Professor da Fundao Universidade Federal do Rio Grande.
concei t os geomt r i cos. I ni ci aremos o
t r abal ho mot i vando com o segui nt e
problema real.
Pr obl ema:
No interior da localidade de So Jos
do Norte houve a necessidade de resolver
um problema de partilha de terra entre trs
her dei r os. A r egi o a ser di vi di da
apresentava nos fundos um mato nativo de
difcil acesso para
126 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
demarcao, devendo ser aberta uma
picada para tal. A parte frontal medindo
160 m tem fronteira com uma estrada. Uma
das fronteiras laterais mede 860 m e a outra
mede 800m. O que possvel obter uma
medida aproximada de 150m.
2 - At i vi dades
2.1 Ex pl or ando c oor denadas
Se voc est com o sof t war e
disponibilizado entre em novo.
Selecione a ferramenta mostrar eixos.
Selecione a ferramenta tringulo na
cai xa de fer ramentas e construa de
acordo com o problema.
Desenhe o seu tringulo.
D uma denomi nao para cada
vrtice.
Procure a ferramenta equao e
coordenadas na cai xa de fer r amentas
medir. Mova o cursor at cada vrtice e
aparecer a mensagem coordenadas deste
ponto. Clique uma vez e as coordenadas
sero registradas. Se o posicionamento das
coor denadas no f or sat i sf at r i o,
reposicione-as. No esquea de voltar ao
ponteiro.
Selecione na caixa de ferramentas
rea, movimente o cursor at aparecer este
tringulo e faa a medio da rea.
2.2 Ex pl or ando o t r i ngul o
Mova o tringulo para cada um dos
quadrantes, observando as coordenadas e
a rea (completando a tabela abaixo).
O que acont eceu com as
coordenadas dos vrtices do tringulo?
O que acont eceu com a r ea do
tringulo em cada posio?
Ret or ne o t r i ngul o ao pr i mei ro
quadr ante.
Selecione a ferramenta giro na caixa
de fer ramentas ponteiros at aparecer
este tringulo. Ar r aste o tri ngul o
num movimento circular.
Descr eva o que acont ece com o
mesmo.
Complete outras linhas da tabela.
posio Coordenadas de A Coordenadas de B Coordenadas de C reas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Novamente com a fer r amenta giro
movi mente o + at aparecer est e
ponto. Clique sobre ele de modo que
fi que pi scando. Mova o cur sor em
di reo ao tringul o at aparecer a
mensagem este tringulo, arrastando-
o. O que voc observa?
Os movimentos que voc fez com a
f er r ament a gi r o, em geomet r i a
r ecebem o nome de
_________________ e os doi s ti pos
de _________________ so
r eal i zados em t or no de
________________ ou de
____________________ .
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 127
2.3 Ex pl orando a semel han a
Selecione a ferramenta semelhana na
caixa ponteiro.
Clique sobre este tringulo.
Arraste o tringulo, com o cuidado
de que o pont o ai nda est ej a
piscando. Se a origem ( um ponto )
ainda estiver selecionada, o tringulo
se dilata.
Desselecione a origem.
Crie o tringulo semelhante.
Descreva o que aconteceu
Selecione a ferramenta simetria axial
na caixa transformar.
Marque um pont o A no pr i mei ro
quadrante, um ponto B no segundo
quadrante, um ponto C no terceiro
quadrante e um ponto D
no quarto
quadr ante.
Desejando obter o simtrico de cada
ponto em relao ao eixo dos y, mova
o l pi s at aparecer a mensagem
si mtr ico deste ponto. Cl ique uma
vez. Mova o lpis at o eixo dos y at
aparecer a mensagem em relao a
este ponto.
Nomei e os pont os e adi ci one as
coordenadas dos mesmos.
Complete a tabela abaixo e faa suas
concl uses.
ponto quadrante coordenadas
Cr i e um t r i ngul o no pr i mei r o
quadr ant e e seus si mt r i cos nos
quat r o quadr ant es. O que voc
constata?
Usando a fer ramenta ponteiro tente
ar rastar o segundo tringulo. Descreva
o que acontece.
Arraste o primeiro tringulo e descreva
o que aconteceu. Qual a concluso a
que voc chega?
O que voc fez at aqui foi obter um
tr i ngul o____________________ ao
pr i mei r o at r avs de uma
t r ansf or mao geomt r i ca
chamada_____________________
Retome o ponto e o tringulo do
primeiro quadrante. Voc conseguiria obter
os seus simtricos no terceiro quadrante
com uma nica simetria? Como?
Sugest o: expl or e a f er r ament a
transformar (a sexta)
Retome um tr i ngul o qual quer no
primeiro quadrante, incluindo medidas.
Sel eci one a f er r ament a si met r i a
central.
Apont e e cl i que no t r i ngul o do
pr imei ro quadrante at aparecer a
mensagem cri ar si mtri co deste
tringul o. Ar r ast e at a or i gem e
clique quando aparecer em relao a
128 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
este objeto.
Descreva o que aconteceu. Compare
com os casos anter iores salientando
analogias e diferenas.
Resumi ndo Si met r i a
_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________.
Os dois tipos de simetrias vistos so
_______________ e _____________.
Por si metr i a obtemos doi s obj et os
_________________________________.
2 . 4 t r a b a l h a n d o c o m
pol gonos
I nicie um novo documento e o salve
com seu nome.
Crie eixos coordenados .
Seleci one a fer r amenta pol gono e
const r ua um qual quer de quatros
l ados l ocal i zado no pr i mei r o
quadr ante.
Selecione vetor segundo o qual voc
i r desl ocar o seu quadr i l t er o.
Denote-o por v.
Usando a f er r ament a t r ansl ao
obt enha o pol gono t r ansl adado.
At r i bua l et r as a cada um del es.
Obt enha mai s doi s pol gonos
transladados. Pinte cada um deles de
cor diferente
O que voc observa quanto ao novo
pol gono? Desenhe-os no espao
abaixo.
Ar raste a extremidade (e a origem) do
vetor. Descreva o que acontece com o
polgono.
Usando ponteiro, ar raste o polgono
original. Descreva o que acontece com
o polgono transladado.
Deforme o polgono arrastando um
de seus vr t i ces. Compare com o
polgono transladado.
Em que posies voc colocou o vetor
ligado a origem;
ligado a algum vrtice do polgono;
sendo um dos lados do polgono;
analise os diversos casos e os compare.
Tente fazer os polgonos coincidirem.
O que observas quanto aos lados dos
pol gonos? E quantos aos ngul os
internos?
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 129
Concl uso
Translao um tipo de movimento
que _______________________________
______________________________________________________________.
Antes trabal hamos com rotao de
t r i ngul os e i st o f oi f ei t o at r avs de
__________ e ______________________
Pretendemos trabalhar com rotao
atravs de um determinado ngulo.
Delete toda a sua figura construda no
i tem aci ma. Descreva o procedi ment o
utili zado.
Construa um polgono de 4 lados da
f or ma que desej ar, no pr i mei r o
quadrante, preencha-o com uma cor,
e o represente no papel.
Na ferramenta edio numrica digite
um valor de ngulo que servir para
fazer a rotao. Qual a unidade que
voc usar?
Sugesto: pressione a tecla ctrl+ u.
Selecione a ferramenta rotao e mova
o l pi s na direo do pol gono at
aparecer a mensagem rotacionar este
polgono. Clique para selecionar o
polgono.
Mova o lpis na direo do ponto de
origem at aparecer a mensagem ao
r edor dest e pont o. Cl i que par a
selecionar o ponto. Mova o lpis em
direo ao valor de 30
at que aparea
a mensagem utilizando este ngulo.
Clique para selecionar o valor. Pinte o
novo polgono com outra cor.
Altere o ngulo de rotao.
V em selecionar. Um cursor pulsante
aparece.
Use as setas direita, esquerda, acima e
abai xo par a al t er ar os dgi t os
enquant o obser va a var i ao das
figuras rotacionadas.
Utilize uma cor diferente para cada
polgono criado.
Descreva o que observa.
Quando que os polgonos voltam a
coi nci dir ?
Altere o ponto de rotao para vrias
posies. Relate o que acontece.
Macr o const r ues so aquel as
construes que o usurio pode fazer e que
ir utilizar freqentemente.
Vamos construir um quadrado, que
uma das figuras bastante utilizadas e
que no const am de nossas
fer ramentas. Procure lembrar como
construir um quadr ado a partir do
conhecimento de uma diagonal, por
exemplo.
Construa um segmento AC que ser
uma das di agonai s do quadr ado.
Denomine o ponto mdio de AC por
P. O que ser P?
Descr eva o passo segui nt e
____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.
Const r ua uma ci r cunf er nci a de
centro P e passando por A ou B.
Descreva os passos seguintes
a)_________________________________________________________
b)__________________________________________________________
c)__________________________________________________________
d)__________________________________________________________
130 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
Seleci one os objetos inici ai s da sua
macr o const r uo na f er r ament a
adequada. Descreva o que acontece.
Selecione os objetos finais e descreva
o que acontece.
Defina Macro na caixa de ferramentas
e d-lhe um nome. Faa o seu registro.
Se o desejar grave em um arquivo.
2.5 Tr abal hando c om sl i dos
de r evol u o
Construa uma circunferncia C .
Anexe um segmento com origem em
um ponto A
e
C e extremidade num
ponto B fora de C.
D uma cor di ferente ao segmento
AB.
V na ferramenta lugar geomtrico e
clique sobre o ponto A.
Descr eva o que obt eve. Faa um
desenho.
V na ferramenta animao e coloque
uma mola sobre A, sobre B, sobre C e
sobre o centro de C. Coloque o mola
em vrias direes. Discuta com seu
colega o que ocor re. Descreva o que
voc obteve.
2.6 ex pl or ando i nc l i na o de
r et as
Com a fer ramenta eixos coordenados
ativa, marque um ponto A qualquer
no primeiro quadrante
Obtenha a reta contendo o ponto A e
a denote por r.
Na f er r ament a medi r, cl i que em
inclinao. Col oque no comentr io:
coeficiente angular.
Marque o ngulo ABC que a reta r
forma com o sentido positivo do eixo
dos x. Descreva o procedimento e faa
o registro abaixo.
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 131
coeficiente angular ngulo equao
Obtenha a medi da deste ngul o e
complete as duas primeiras colunas
da primei ra linha da tabel a abaixo.
Aproveite para elaborar uma tabela no
seu caderno iterativo.
Ent r e na f er r ament a equao e
coordenadas para obter a equao da
reta. Coloque um rtulo na terceira
col una: equao. Movi ment e
lentamente a reta e v anotando os
valores nas linhas seguintes.
Anime sua tabel a e estabel ea uma
relao entre o valor do ngulo, o do
coefi ci ente angular e a equao da
reta. Anote abaixo suas concluses.
2.7 Ex pl or ando t r i gonomet r i a
Selecione mostrar eixos
Const r ui r uma ci rcunf er nci a de
centro na origem.
Marcar um segmento OP sobre o eixo
hor i zont al , um segment o PM
per pendi cul ar a OP, sendo M um
ponto da circunferncia.
Por M conduza uma paral ela a OP,
encontr ando o ei xo ver tical em Q.
Marque o segmento OQ.
Construa os tringulos OPM E OQM,
preenchendo-os com cores diferentes.
D aspectos e cores di ferentes aos
segmentos OP E OQ.
Ani me o ponto M. Descreva o que
acontece.
Explore ao mximo.
3 - Ret or n and o ao
probl ema mot i vador
Exi stem elementos suficientes par a
resolver o problema motivador? Como voc
o resolveria? Descreva sua soluo.
Ref er nc i as
Cabr i - Gomt r e I I - M a n u a l . Texas
Instruments Incorporated. 1997.
CATUNDA, Omar e outros. As t r ansf or maes
geomt r i cas e o ensi no da geomet r i a. Salvador:
Editora da Universidade Federal da Bahia.
1990.
DINIZ, Maria I. S.V. e Smole, Ktia C.S. O
concei t o de ngul o e o ensi no de geomet r i a. SP:
Editora da USP.1993.
DOWS, Moise. Geomet r i a moder na.(par t e I ). SP:
Edgard Blucher. 1971.
LIMA, El on Lages. r eas e vol umes. RJ: Ao
LivroTcnico. 1973.
LIMA, Elon Lages. I somet r i as. RJ: Sociedade
Brasileira de Matemtica. 1973.
MACHADO, Ni l son Jos. At i v i d a des d e
geomet r i a. So Paulo: Atual. 1996.
Oficinas
I nt er net e Sof t war es Gr at ui t os
c omo Rec ur so no ensi no da
Mat emt i c a
Car men Kai ber da Si l va
Cr i st i ano Per ei r a da Concei o
Can oas v.4 n. 1 p. 133 - 142 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
1 - I nt r odu o
A educao de um i ndi vduo vi sta
como um pr ocesso cont nuo de
construo de conheci mentos e val ores,
apr esent a-se at r avs da l ei t ur a e
i nt er veno que o mesmo real i za no
mundo que o cerca. Nesse sent i do a
educao deve possibilitar a todos uma total
i nser o soci al e uso pl eno dos seus
direitos. Os professores de Matemtica no
podem se f ur tar de contr i bui r par a a
completa formao do cidado e a est
includa sua formao na rea tecnolgica.
Na viso de Borba (2001) a educao,
em sua concepo mais ampla, deve estar
subordi nada noo de ci dadani a e
dentro desse contexto que a informtica na
educao deve ser compreendida. Segundo
o autor,
O acesso i nfor mti ca deve ser vi sto como
um di rei to e, por tanto, nas escol as pbl i cas
e par ti cul ares o estudante deve poder usufr ui r
de uma educao que no momento atual
i ncl ua, n o m n i mo, u ma al f abet i zao
tecnol gi ca (Bor ba, 2001 p.16).
consenso que uma educao que
conte com os recursos da tecnologia um
direito dos alunos e responsabilidade dos
envolvidos no processo educativo garantir
esse direito. A reside o primeiro grande
desafio: impedir que o computador e a
i nt er net que revol uci onam o mundo
pr oduzam, em t er mos educaci onai s,
benef ci os apenas par a uma mi nor i a,
criando condies para que as diferenas
se acentuem cada vez mais.
A incluso digital deve ser objeto de
preocupao de gover nos, empresas,
or gani zaes no-gover nament ai s e
Carmen Kaiber da Silva - Doutora em Cincias da Educao pela Universidade Pontifcia de Salamanca, Espanha; professora titular no Departamento
de Matemtica e no Laboratrio de Matemtica da Universidade Luterana do Brasil ULBRA. E-mail: kai ber@ulbra.br
Cristiano Pereira da Conceio - Acadmico do curso de Matemtica da ULBRA, bolsista de I niciao Ci entfica ULBRA. E-mail: cristiano-
pereira@procergs.rs.gov.br .
134 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
organizaes internacionais com a adoo
de pol ti cas e al ocao de recursos que
permitam ampliar ao mximo o acesso a
comput adores e a rede, tendo como
objetivo o acesso a todos. Especificamente
ref er i ndo-se a rea educaci onal , est a
questo deve se constituir em preocupao
das Uni ver si dades, das soci edades de
educadores, escol as, professores, pais e
alunos que devem buscar a integrao da
tecnologia nas atividades letivas, em todos
os nveis, de maneira a proporcionar no
s o acesso tecnologia, mas tambm que
esse acesso potencialize as aprendizagens
e possi bi li te a cri ao e organizao de
novas formas de pensar e agir no sentido
da construo de uma sociedade mais justa
e igualitria.
Alm da questo do acesso, o outro
gr ande desaf i o que os educador es
enfrentam atualmente, o da utilizao das
novas t ecnol ogi as de for ma cr i at i va e
inovadora, de maneira que possam auxiliar
e potencializar as aprendizagens escolares.
Especificamente fal ando-se da Educao
Matemti ca, a uti li zao da tecnologi a
deve proporcionar aos alunos verdadeiras
e significativas aprendizagens matemticas,
como tambm, influenciar e alterar a forma
de ver, utilizar e produzir matemtica.
Durante muito tempo a utilizao da
tecnologia (calculadoras, computadores e
out r as mdi as) f oi mui t o cr i t i cada em
f uno dos per i gos que sua ut i l i zao
poderia trazer aos estudantes. Ponderava-
se que os alunos passariam a apertar teclas
e obedecer a mquina, o que contribuiria
para torn-lo cada vez mais um repetidor
de tarefas.
Esse pensamento er a defendi do (e
ai nda ) especi al ment e por quem
acreditava (e acredita) ser a Matemtica um
cor po de ver dades excl usi vament e
acessvei s at r avs de uma l i nguagem
abstr at a e si mbl i ca e segundo Bor ba
(2001, p.11)
Em especi al par a aquel es que concebem a
matemti ca como a matr i z do pensamento
l gi co. N esse sen t i do, se o r aci oc n i o
mat emt i co passa a ser r eal i zado pel o
compu t ador , o al u n o n o pr eci sar
r aci oci nar mai s e dei xar de desenvol ver sua
i ntel i gnci a.
Por outro l ado, segundo o mesmo
aut or, h argument os que apontam o
comput ador como a sol uo par a os
probl emas educacionai s, mas consi der a
que h espao para outros posicionamentos
e defende a idia de que a relao entre a
informtica e a Educao Matemtica deve
ser pensada como transformao da prtica
educativa, e avalia :
Parece-nos mai s rel evante anal i sar o novo
cenr i o educaci onal que se consti tui a par ti r
da entr ada desse novo ator , a tecnol ogi a
i n f or mt i ca. Aqu i , i n t er essa- n os as
possi bi l i dades e di f i cu l dades qu e se
apresentam, sem compar ar se so mel hores ou
pi ores do que aquel as nas quai s essa tecnol ogi a
no uti l i zada.
Nesse contexto a discusso em torno
da utilizao da tecnologia no processo de
ensi no e aprendi zagem da matemti ca
abr ange, tambm, quest es rel ati vas a
necessi dade, opes e vant agens da
utilizao de recursos computacionais no
curr cul o de Matemtica, bem como na
proposta de atividades que insiram estas
mdi as aos cont edos de f or ma
potencialmente criativa e passem a integrar
o fazer pedaggico dos professores.
Mendes (1995) apont a al guns
aspectos significativos que o emprego dos
recur sos oferecidos pela i nformti ca no
processo educativo podem alcanar:
os computadores podem auxi l iar o
aluno a executar e elaborar tarefas de
acordo com seu nvel de interesse e
desenvolvimento intelectual;
jogos e linguagens podem auxiliar no
aprendizado de conceitos abstratos;
o recurso pode organizar e metodizar
o t r abal ho, ger ando uma mel hor
qualidade de rendimento;
destaca o elemento afetivo, j que o
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 135
aspect o moti vaci onal i nerent e
r el ao do al uno com o
mi crocomputador.
Para obteno dos benefcios aci ma
descritos, Niquini (1996) identificou
o uso da informtica em trs ramos
bsi cos:
uti li zao de programas (softwares)
educaci onais, como instrumento de
ensi no l i gado a uma mat r i a
especf i ca, at r avs de pr odut o
elaborado com este fim;
utilizao de softwares para fixao de
contedos, consti tuindo-se em uma
al t er nat i va l di ca s f or mas
tradicionais e inspidas de ensinar;
si st emat i zao de pesqui sa,
f unci onando como l i vr o di dt i co
el et r ni co (di ci onr i os e
enci clopdi as).
Dos r amos bsi cos apontados pel a
autor a, o que se ref ere a uti l i zao de
softwares educaci onai s em si tuaes de
ensi no e aprendizagem , em rel ao a
Matemtica, bastante promissor. O ensino
da Matemti ca se uti li za fortemente de
i l ust r aes gr f i cas e i negvel a
i mpor t nci a das i magens na i nt ui o
mat emt i ca. A geomet r i a e t oda
Matemtica que usa representaes grficas
so as reas mai s pr i vi l egi adas com a
utilizao de tais mdias.
Em relao a utilizao de recursos da
informtica nas aulas de Matemtica, um
aspecto que pode ser bastante explorado
o trabalho com softwares gratuitos. Esto
a disposi o, na i nternet, uma sr ie de
softwares como Graphmatica, Poly, Rgua
e Compasso, Modellus, Tangram, Euklid
entre outros, que podem ser incorporados
ao currculo de Matemtica sem nenhum
custo, ou com custo mui to baixo. Esses
soft wares, de modo ger al , apresent am
car act er st i cas como i nt er at i vi dade,
exat i do de f i gur as, aspect o est t i co
agradvel e uma certa facilidade de uso que
so fatores positivos para sua utilizao.
Nesse sentido est sendo desenvolvido
o projeto A informtica como recurso no
ensino da Matemtica que tem como meta
a anl i se de sof t war es educat i vos,
enfatizando os programas gratuitos, de livre
distribuio e alguns recursos da internet,
buscando a i nser o dos mesmos no
cont ext o da sal a de aul a, at r avs da
el abor ao de at i vi dades l i gadas a
contedos especficos. O trabalho permitiu
a or gani zao da of i ci na I nt er net e
softwares gratuitos como recurso no ensino
da Mat emt i ca que passa a ser
apresentada a seguir.
2 - Desenvol vi ment o da
of i c i na
A of i ci na I nt er net e sof t war es
gr at ui t os como recur so no ensi no da
Matemti ca tem como meta trabalhar
aspect os da ut i l i zao de sof t war es
gr at ui tos e da i nt er net, i nser i dos no
cont ext o da sal a de aul a obj et i vando
contribuir de forma positiva no processo
de ensino e aprendizagem da Matemtica.
O trabalho desenvolvido na oficina visa,
t ambm, l evantar a di scusso sobre a
necessi dade, opes e vant agens da
utilizao de recursos computacionais no
cur r cul o de Mat emt i ca, pr opondo
atividades que insiram estas ferramentas
aos contedos de forma potencialmente
cr i at i va e passem a i nt egr ar o f azer
pedaggico dos professores.
A opo por expl or ar sof t war es
gratuitos e pginas da Web justifica-se pela
facilidade de acesso rede, o que possibilita
o pr of essor usar um ambi ent e
i nf or mat i zado favor vel a Matemt i ca
independente da aquisio de softwares,
como tambm, pelo fato de que o material
di sponvel (si tes e sof twares) de boa
qualidade.
A of i ci na est or gani zada
considerando os seguintes aspectos :
136 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
apresentao dos softwares e discusso
sobre suas potencialidades e insero
nas aulas de Matemtica;
realizao de atividades previamente
el abor adas expl or ando cont edos
especficos de Matemtica, utilizando
os programas;
apresentao de sites de Matemtica
com discusso sobre possibilidades de
uti lizao.
A seguir so apresentados os softwares
Poly, Tangram, Graphmatica, Euklid e as
at i vi dades el abor adas ut i l i zando os
mesmos, bem como sites de interesse para
professores e alunos de Matemtica.
Pol y
O sof t war e Pol y um pr ogr ama
shareware
1
, desenvolvido pela Pedagoguery
Software I nc. e trata sobre poliedros. Os
slidos podem ser vistos em perspectiva,
ocos ou compact os, s com arest as e
vrtices, planificados ou no modo grafo.
Em todos os modos de visualizao, pode
ser ani mado, reduzi do ou aumentado,
sendo que as figuras podem ser exportadas
para outros programas. Os diversos modos
de visualizao possibilitam um trabalho
enr i quecedor com os pol i edr os, que
podem ser cl assifi cados e rel aci onados,
per mi ti ndo a el abor ao de i nmer as
atividades de investigao.
I NTERFACE DO PROGRAMA
1
Shareware: software oferecido gratuitamente para ser experimentado pelo usurio. Em muitoscasos essesdemos tem as funes reduzidasem relao
verso registrada. Ao trmino do perodo de experincia (quase sempre 30 dias), o usurio deve enviar uma soma (geralmente muito baixa) ao autor
do programa para poder continuar a us-lo legalmente.
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 137
1 At i vi dade: Ex pl or ando o
Pol y
Abra o Poly e procure, pelo menos
em quatro categorias ou famlias, poliedros
que tenham somente faces triangulares e
pol i edr os que t enham soment e f aces
quadr angul ar es. Voc pode usar os
diferentes modos de ver os poliedros que
o programa apresenta. Anote o resultado
de sua pesquisa na tabela abaixo.
Poliedros com faces triangulares Poliedros com faces Quadrangulares
Categoria Nome Categoria Nome
Essa atividade objetiva a familiarizao
com o Pol y. Deve ser discutida no grupo
de modo que ao f i nal da mesma o
estudante tenha acessado as opes de
pr ef er nci as e expl or ado as
potencialidades do software.
2 At i vi dade: Car ac t er i zando
o s p o l i e d r o s Re g u l a r e s
(Sl i dos de Pl at o)
Obser ve no Pol y cada um dos
pol iedros da faml i a pl atni cos e
preencha a tabela abaixo:
Qual o tipo de
polgono que
forma as
faces?
Todas as
faces
so
iguais?
Nmer
o de
faces (
F )
Nmero
de
Vrtices
( V )
Nmero
de
Arestas
( A )
Verifique
a relao
F+V=A+
2
Tetraedro
Cubo
Octaedro
Dodecaedro
Icosaedro
Tetraedro
Octaedro
Dodecaedro
Icosaedro
A par ti r dessa ati vi dade possvel
discutir caractersticas de cada famlia de
pol i edr os at r avs da obser vao e
compar ao das di ferentes faml i as. As
discusses devem permi tir responder
questo: O que caracteriza os chamados
poliedros de Plato? A atividade permite,
tambm, verificar e discutir a relao de
Eul er.
Gr aphmat i c a
O pr ogr ama Gr aphmat i ca um
f r eewar e
2
que per mi t e a const r uo de
grficos de funes elementares. Possui a
opo de t r abal har em coor denadas
cartesianas, polares e escalas logartmicas.
Com o uso desse aplicativo pode-se, por
exempl o, i nvest i gar a i nf l unci a dos
138 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
I NTERFACE DO PROGRAMA
3 At i v i dade: Ut i l i zando o
Gr aphmat i c a
1. Constr ua o gr fi co das f unes
abai xo em um mesmo si st ema de
coordenadas. Ver i fi que os val ores dos
coeficientes a, b e c e busque relaes entre
as alteraes nos mesmos e a representao
grfica das funes. Anote os resultados da
sua pesquisa.
a) y = x
2
b) y = 2x
2
c) y = 3x
2
d) y =
2
1
x
2
e) y =
3
1
x
2
coeficientes do polinmio y = ax
2
+ bx+ c
na representao grfica das funes. Tem-
se, tambm, a possi bi l i dade de buscar
relaes entre as alteraes que ocorrem no
grfico quando determinado coeficiente
al t er ado (coor denao ent r e a
representao analtica e grfica).
2
Freeware: softwar e que pode ser adquirido livremente na i nternet, copiado e distribudo, sem nenhuma forma de pagamento de direitosautorais. Ainda
assim, est sujeito ao copy-right: no pode ser modificado nem ter seu cdigo copiado ou vendido como prprio.
Situao:
Concluses:
Si tuao
Concluses
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 139
2 - Repita a tarefa para as funes:
f) y = -x
2
g) y = -2x
2
h) y = -3x
2
i) y =
2
1
x
2
j) y =
3
1
x
2
3 - Repita a tarefa para as funes:
k) y = x
2
l) y = x
2
+ 1
m) y = x
2
+ 2
n) y = x
2
-1
o) y = x
2
-2
4. Repita a tarefa para as funes:
p) y = x
2
+ x+ 2
q) y = x
2
+ 2x+ 2
r) y = x
2
+ 3x+ 2
s) y = x
2
+ 4x+ 2
Situao:
Concluses:
Si tuao
Concluses
Situao:
Concluses:
Si tuao
Concluses
de funes mantendo-se os coeficientes a
e c, f azendo b var i ar. Os vr t i ces das
parbolas geradas so pontos de uma outra
parbola. Esse resultado pode ser verificado
constr ui ndo os grfi cos das funes do
item 4.
Eukl i d
O Software Eukl i d um programa que
pode ser usado como shareware pelos alunos
e por t odos aquel es que gost am de
geometria. Com ele pode-se desenvolver
const r ues geomt r i cas poi s of erece
rgua e compasso eletrnicos , sendo que
sua interface de menus de construo, em
grande parte, estabelecida em linguagem
clssi ca de Geometr i a. Os desenhos de
objetos geomtricos so feitos a partir das
propriedades que os definem e mantm
estabilidade sob o movimento. possvel
que se copi e os obj et os par a out r os
aplicativos, usando o recurso pr i nt-screen .
Assim, o Software Eukl i d um excelente
programa que pode ser utilizado em vrios
t pi cos de geomet r i a, cabendo ao
professor analisar seu potencial e adot-lo,
quando possvel, para utilizao em sala de
aula.
Situao:
Concluses:
Si tuao
Concluses
O objetivo desse grupo de tarefas
explorar a representao grfica, bastante
f aci l i t ada pel o uso do sof t war e, e
desenvolver um estudo das relaes entre
as modi f i caes nos coef i ci ent es das
funes quadrticas e a sua representao
grfica. Um resultado bastante interessante
surge ao construir os grficos de um grupo
140 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
4. At i v i dade: Ut i l i zando o
EUKLI D
Essa at i vi dade prope expl or ar a
construo de tringulos suas medianas,
bissetr izes, medi atr i zes e al tur as e seus
pont os not vei s (bar i cent ro, i ncentro,
circuncentro e ortocentro).
Enc ont r ando o bar i c ent r o
Abra o programa Euklid,
Selecione a guia constr uct
Cl i que na opo t r i ngul o
(marque os tr s pont os par a f or mar o
objeto).
Clique no boto ponto mdio e
l ogo aps em doi s vr t i ces, par a
acharmos os pontos mdios do lado
formado por V
1
e V
2
Agora trace um segmento utilizando
a opo segmento de linha
uni ndo o ponto mdi o e o vr ti ce
oposto a ele (mediana)
Faa o mesmo com V
2
e V
3
e com V
3
e
V
1
O ponto de i nt er seco ent re as
medi anas chamado
________________
Tr a ando bi sset r i zes
Abra uma nova atividade
Cl i que na opo t r i ngul o
(marque os trs pontos para formar o
objeto)
Agora, com a opo criar bissetr iz
selecione, no sentido horrio
os trs vrtices que formam o ngulo
que se deseja trabalhar.
Defina o ponto de interseco
Sel eci one a gui a Measur e &
I NTERFACE DO PROGRAMA
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 141
calculate
Cl i que na opo medi r ngul o ,
selecionando os vrtices que formam
o ngul o de um l ado da bi sset r i z
(sentido horrio)
Faa o mesmo para o outro lado da
bissetriz e verifique as medidas
Enc ont r ando o i nc ent r o
Utilizando a figura anterior, trace as
demais bissetrizes.
A i nt er seco das t r s bi sset r i zes
internas do tringulo chamado _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Enc ont r ando o c i r c unc ent r o
Em um novo ar qui vo, f aa um
tringulo como j foi visto
Defina os pontos mdios de cada lado
do tringulo
Agor a ut i l i ze a opo cr i ar
per pendi cul ar def i na o
ponto por onde se quer passar a
reta e o segmeto o qual o programa
uti l i zar como refer nci a, faa i sso
para todos os lados (mediatrizes)
O pont o onde as medi at r i zes se
encontram chamado _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Enc ont r ando o or t oc ent r o
Abra um novo arqui vo e cri e outro
tri ngulo
Ut i l i ze a f er r ament a cr i ar
perpendicular para traar uma
reta que passe por um vrtice e seja
perpendicular ao lado oposto (retas
supor tes ou al tur as)
o ponto de encontro das al tur as
chamado de __________________
Para finalizar a atividade interessante
t r aar al t ur a, bi sset r i z, medi ana e
medi at r i z em um t r i ngul o qual quer,
movimentar o tringulo de modo a chegar
a um tringulo equiltero verificando que,
nesse caso, os pontos notveis (baricentro,
i ncent r o, ci r cuncent r o e or t ocent r o)
coici dem.
5 At i vi dade : Mat emt i c a na
I nt er net
Explorao, anlise e discusso de
si tes, obj et i vando a f ami l i ar i zao e a
possvel utilizao dos mesmos nas aulas
de Matemtica. Anlise dos contedos e
suas l i gaes com out r as pgi nas
relacionadas a Matemtica (hi per l i nks).
Os sites visitados e discutidos foram:
http://www.obm.org.br - Web Site da
Olimpada Brasileira de Matemtica
ht t p://www.somat emat i ca.com.br -
site com diversos materiais e programas
A anlise dos softwares e as atividades
desenvol vi das per mi tir am perceber um
pot enci al de i nser o no ensi no e
aprendizagem da Matemtica significativo
e nesse contexto o professor deve assumir
um papel i nvest i gat i vo, buscando
desenvol ver e apresentar situaes que
conduzam a formao de um ambiente que
f avor ea a apr endi zagem at i va, o
desenvol vi mento da cr i ati vi dade e dos
pr ocessos de r ef l exo; pr omova a
explorao, a investigao, a formulao de
hipteses e a busca de resultados.
I ncor por ar tecnologia nas aulas vai
mui t o al m de pr opor ci onar os
instrumentos tecnolgicos aos estudantes.
A aprendizagem deve desenvolver-se em
um ambiente apropriado e em situaes
que f avoream a const r uo sl i da de
conhecimentos, transformando a maneira
como vivemos, como resolvemos problemas
t er i cos e pr t i cos e como f azemos e
percebemos a Matemtica.
142 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
Ref er nc i as
BICUDO, M. A. B. (org.). Pesqui sa em educao
mat emt i ca: concepes e per spect i vas. So
Paulo: UNESP, 1999.
BORBA, M. C., PENTEADO, M. G. I nf or mt i ca e
Edu cao M at emt i ca . Bel o Hor i zont e:
Aut ntica, 2001.
BORBA, M. C., PENTEADO, M. G (orgs.). A
i nf or mt i ca em ao: f or mao de pr of essor es,
pesqui sa e ext enso. So Paulo: Olho dgua,
2000.
GASPERETTI, M. Comput ador na Educao. So
Paulo: Esfera, 2001.
LITWIN, E. (org.). Tecnol ogi a Educaci onal . Porto
Alegre: Artes Mdicas, 1997.
MORAES, R. A. I nf or mt i ca na Educao. Rio de
Janeiro: DP&A,2000.
NIQUINI, D. P. I n f or m t i ca n a Edu cao:
I mpl i caes di dt i co- pedaggi cas e const r uo
do con heci ment o. Br asl i a: Uni ver sidade
Catlica de Braslia,1996.
SANDHOLTZ, J. H. et al ii . En si n ando com
t ecnol ogi a: cr i ando sal as de aul a cent r adas nos
al unos. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1997.
SILVEIRA, S. A. Excl uso Di gi t al A M i sr i a na
Er a da I nf or mt i ca. So Paulo: Fundao
Perseu Abramo, 2001.
POLY, ver so 1.08: pr ogr ama par a
manipulao de poliedros. PEDAGOGUERY
SOFTWARE INC. 2002. Disponvel par a
download em http:/ / www.peda.com/ poly/
GRAPGHIMATICA, ver so 1.6: Pl ot ador de
gr f i cos. KSOFT, INC. Disponvel par a
downl oad em htt p:/ / www8.pair.com/
ksoft/ index.html
EUKLID, verso 1.4b.: Programa de geometria.
Rol and Mechl i ng . Di sponvel par a
download em http:/ / www.dynageo.com/
eng/ index.html
S MATEMTICA, site de apoio ao ensino de
Mat emt i ca, di sponvel em ht t p: / /
w ww.somat emat i ca.com.br Si t e de
Matemtica
OLIMPADA BRASILEIRA DE MATEMTICA,
disponvel em http:/ / www.obm.org.br
SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMTICA,
disponvel em http:/ / www.sbem.com.br
Can oas v.4 n. 1 p. 143 - 151 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Oficinas
No es de c l c ul o a par t i r de
ex per i nc i as c i ent f i c as
M ar i l ai ne de Fr aga Sant Ana
Al exandr e Ri bei r o Fr asson
Eduar do M ul l er Ar aj o
M aur ci o Rosa
1 - I nt r odu o
O apr i mor ament o do ensi no de
Clculo uma das grandes preocupaes
entre os professores universitrios e tem
si do di scut i do sob vr i os aspect os. A
i nt roduo de concei t os bsi cos como
l imi tes e deri vadas fei ta em ger al de
for ma demasi adamente t er i ca, o que
provoca desinteresse por parte dos alunos
alm de um consenso entre os mesmos de
que Clculo muito difcil , provocando
acomodao e conformismo. Este trabalho
pr ope a ut i l i zao de exper i nci as
cientficas simpl es na i ntroduo de tais
conceitos como alternativa ao tradicional.
A idia bsica consiste na realizao de tais
experincias em sala de aula, anlise dos
dados obtidos, construo de grficos e s
ento parte-se para a obteno do conceito
que se deseja introduzir.
2 - Obj et i vos
Const r ui r concei t os de l i mi t e e
derivada a partir da modelagem de
experimentos cientficos.
Cr iar um ambi ente onde haja uma
relao di reta entre exper incias j
conheci das e a const r uo de
concei tos.
Contribuir para a formao de uma
vi so cl ar a do cl cul o di f erenci al ,
f undament ando a base par a o
processo de ensino-aprendizagem no
decor rer dos cur sos de cl cul o de
forma interdisciplinar.
Marilaine de Fraga SantAna Doutora em Matemtica e Professora do Curso de Matemtica da Universidade Luterana do Brasil.
Alexandre Ribeiro Frasson acadmico do Curso de Matemtica da Universidade Luterana do Brasil.
Eduardo Muller Arajo acadmico do Curso de Matemtica da Universidade Luterana do Brasil.
Maurcio Rosa acadmico do Curso de Matemtica da Universidade Luterana do Brasil.
144 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
TPICOS A SEREM DESENVOLVIDOS DURAO(minutos)
Noes de titulao (referencial qumico) 20
Preparao do material a ser utilizado no experimento 1 10
Realizao do experimento 1 10
Coleta de dados obtidos do experimento 1 5
Relato das concluses 15
Noes e significado de limite 20
Intervalo 10
Apresentao do experimento 2 (aquecimento d'gua) 10
Preparao do material a ser utilizado no experimento 2 5
Realizao do experimento 2 com a coleta de dados por
todos os participantes (plotagem em papel milimetrado)
25
Relato das concluses 10
Retomada do conceito de limite e noes de derivada 25
Concluses gerais 10
Indicaes bibliogrficas 5
4 - Desenvol vi ment o
4.1 No es de t i t ul a o
4.1.1 Consi der a es t er i c as
A vol umet r i a de neut r al i zao
compreende os mt odos baseados na
reao de neutr al i zao, cuj as reaes
resultam na formao de gua.
Com solues padres cidas podem
ser determinadas substncias alcalinas, com
sol ues padr es al cal i nas so
determinveis substncias cidas. Tem-se
assi m, duas var i antes de volumetr i a de
neutralizao: a alcalimetria e a acidimetria.
Tant o na aci di met r i a quant o na
alcalimetri a, o ponto de equi valncia se
situa na regio cida ou alcalina. So as
condi es de equi l br i o, em cada caso
particular, que determinam o valor do pH
em que se situa o ponto de equivalncia.
Comument e, o pont o f i nal nas
titulaes de volumetria de neutralizao
acusado medi ant e o empr ego de
indicadores de pH.
Um dos r eagent es usado na
preparao de soluo padro alcalina, o
NaOH.
No caso especfico da determinao
da acidez total do ci do cl ordr ico HCl,
ser usado NaOH como soluo alcalina,
em pr esena de f enol f t al ena como
indicador.
4.2 Pr oc edi ment o
a) Medir uma alquota de 50 ml de cido
cl or dr i co em uma bur et r a
vol umt r i ca de 50 ml
respecti vamente;
3- Cr onogr ama
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 145
b) Medir um alquota de 50 ml de NaOH
com pipeta volumtrica e transferir
para um erlenmeyer;
c) Adicionar 4 a 6 gotas de fenolftalena;
d) Titular com soluo padro de HCl
0,1 N ( adicionar gota a gota, atravs
da bur et a, a sol uo padr o de
NaOH) , at a primeira tonalidade
rsea, persistente por 30 segundos. (
Dur ant e o pr ocesso o f r asco de
erlenmeyer dever ser agitado e suas
paredes lavadas com gua destilada,
para que a reao possa ser completa);
e) Marcar a quantidade necessria para
que haja a mudana na colorao;
f) Marcar o ponto exato que ocor re a
viragem, ou seja, a primeira gota que
ocor re a mudana de col orao e a
persistncia da mesma;
g) Questionar a partir da visualizao do
experimento a relao com o clculo.
4.3 Anl i se dos r esul t ados
Com o ponto de viragem traa-se um
paralelo com a noo de limite, onde se
estabelece o limite da soluo alcalina ao
ponto de neutral i zao, que o ponto
mximo, propriamente dito at alcanar a
acidez.
5 - Desenvol vi ment o do
Segundo Ex per i ment o
5.1 Obj et i vo Espec f i c o
Est e exper i ment o consi st e na
plotagem e sua posterior anlise, dentro dos
obj etivos propostos por este proj eto, da
cur va de r eao de um pr ocesso de
aquecimento dgua.
5.2 Def i ni es
Curvas de Reao: Representam o
compor t ament o gr f i co de uma
var i vel . At r avs del as pode-se
aprender mui t as coi sas sobr e as
caractersticas de um processo. Muito
utilizado em experimentos cientficos
e na indstria. Por exemplo, todo o
processo de tr atamento tr mi co de
met ai s so ef et uados a par t i r de
curvas de aquecimento. Essas curvas
de aquecimento so determinadas a
partir de intensos estudos de curvas
de reao.
Pr ocesso: So as f unes e/ ou
operaes usadas no tratamento de
um mater i al ou matri a-pr i ma, no
caso do exper i ment o propost o, a
oper ao de adi ci onar ener gi a
calorfi ca gua um processo. O
recipiente, as resistncias eltricas, o
t er mmet r o di gi t al const i t uem o
ci r cui t o no qual o pr ocesso de
aqueci ment o r eal i zado. A
t emper at ur a da gua (var i vel
principal) e a potncia da resistncia
eltrica (varivel manipulada) so as
principais variveis do processo.
Ponto de Ebulio: a temperatura
qual a aplicao de mais calor a um
l qui do no pr ovoca qual quer
aumento de temperatura e o lquido
se converte em vapor. No ponto de
ebulio, a presso do vapor saturado
de um l qui do i gual pr esso
atmosfrica (760 mmHg) e, assim, o
ponto de ebulio varia com a altitude
e a presso. Quanto mais baixa for a
presso, tanto mais baixo o ponto
de ebulio e vice-versa. O ponto de
ebul i o da gua em condi es
nor mai s de 100C. O ponto de
ebulio cor responde graficamente a
um patamar.
5 . 3 Ma t e r i a i s e
Equi pament os Ut i l i zados
Recipiente de ao galvanizado 15 x 15
x 30 cm. Capacidade de 6,75 litros .
Duas r esi st nci as el t r i cas com
potncias de 800 watts e 1000
watts.
146 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
Um termmetro digital de resoluo
0,1C composto por um i ndi cador
digital microprocessado e um sensor
termor resistivo ou bulbo de resistncia
de platina tipo PT 100 ( platina a 0
C com 100 Ohm).
Um cronmetro.
Uma folha de papel mi limetr ado e
rgua.
5.4 Pr oc edi ment o
a) O recipiente dever conter um volume
cor respondente a 2,5 litros.
b) I nserir o sensor de temperatura no
recipiente e certificar-se que o mesmo
est totalmente imerso.
c) Energi zar o t er mmet r o di gi t al
verificando a indicao. O indicador
mostrar a temperatura inicial da gua
em graus Celsius com uma resoluo
0,1.
d) Solicitar aos participante do evento
que r egi st r em em uma t abel a a
temperatura inicial da gua.
e) I nserir a resistncia de 1000 watts e
cer t i f i car -se que a mesma est
totalmente imersa na gua.
f) Energizar a resistncia e, ao mesmo
tempo, inicializar (start) a contagem
de tempo no cronmetro.
g) A cada mi nut o, os par t i ci pant es
dever o r egi st r ar na t abel a a
temperatura cor respondente. Efetuar
esse levantamento at dois minutos
aps o ponto de ebulio da gua.
h) Para todos os participantes, a partir
da tabela construda, plotar os dados
em um grfico, temperatura (C) em
f uno do t empo (mi n), a ser
construdo no papel milimetrado.
i) Retirar a gua quente do recipiente,
deixar esfriar o mesmo e repor gua
temperatura ambiente, com o mesmo
volume anterior.
j) Repet i r o exper i ment o, passos
descritos da letra b h, utilizando as
duas resistncias.
5.5 Anl i se dos r esul t ados
Para efei to de i l ustr ao, tomamos
como exemplo os resultados expressos na
tabela abaixo, e o grfico originado a partir
destes dados.
t(min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
T(C) 29,5 31,9 38,7 45,9 53,4 60,0 66,7 73,0 80,0 86,7 92,7 97,2 98,0
2R
T(C) 25,2 30,5 42,7 54,4 66,0 77,2 88,7 95,5 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
Tabela 1: Tempo(min) x Temperatura (C) com a Utilizao de 01 e 02
Resistnci as
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 147
Curvas de Temperatura
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
t (min)
T
(
C
)
Obser vando as cur vas do gr f i co,
imediatamente os participantes da oficina
podem concluir o seguinte:
1 Que a gua aquece mai s
rapidamente utilizando 2 resistncias.
Ou seja, a curva de reao 2 (com duas
resistncias) possui uma velocidade
de aquecimento superior a curva de
reao 1.
2 Que ambas as curvas, a partir de
um tempo, tendem a estabilizar em
torno de 97 e 98 C.
A partir das concluses ser necessrio
quanti fi car e tr abal har al guns conceitos
importantes par a o estudo da derivada,
iniciando pela taxa de variao mdia de
cada curva.
5.5.1 Tax a d e Va r i a o
Mdi a
Todos os participantes, com certeza,
i r o l embr ar do concei t o bsi co de
velocidade mdia de um objeto ao longo
de um intervalo de tempo definido desta
forma: o deslocamento total da posio,
durante o intervalo, dividido pela variao
do tempo.
A par ti r deste concei to el ement ar
pode-se, anal ogament e, ref erenci ar o
exper i ment o cal cul ando-se as
vel oci dades mdi as de aqueci mento,
expressos nas duas curvas, ao l ongo de
intervalos de tempo como sugere a tabela
abaixo:
Tabela 2: Taxas Mdi as de Al guns
I nter valos
Intervalo 0 - 14 0 - 8 10 - 12 7 - 9 3 - 4
Vt (min) 14 8 2 2 1
VT1 (C) 68,5 34,8 5,3 13,7 7,5
VT2 (C) 71,8 58,2 0,0 1,5 11,6
TVM1 4,9 4,4 2,7 6,9 7,5
TVM2 5,1 7,3 0,0 0,8 11,6
Onde:
Vt (min): Variao de tempo = tb
ta ( i nstante fi nal menos i nstante
inicial).
VT (C): Variao de Temperatura =
Tb Ta (temperatur a final menos
temperatura inicial), onde VT1 com
uma resi st nci a e VT2 com duas
148 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
resistncias.
TVM (C/mi n): Taxa de Var i ao
Mdi a =
vt
VT
(var i ao da
temperatura dividido pela variao do
tempo).
A partir dos resultados expressos na
tabela conclui-se que:
a) no intervalo 0 14 (todo o perodo
do experimento) as TVMs so muito
pr ximas e , portanto no revel am
cl ar ament e o que no gr f i co
evidente, ou seja, que a gua se aquece
mai s r api dament e com duas
resistncias.
b) no intervalo 0 8, na parte mais linear
de ambas as curvas, fica claro que, com
duas resistncias, a veloci dade de
aqueci ment o si gni f i cat i vament e
mai or se compar ada com uma
resistncia apenas.
c) no intervalo 10 12 somente nos
revela o intervalo em que a curva 1
tende a se estabilizar e que, portanto,
o aquecimento do intervalo anterior
mai s r pi do que neste i nter val o.
Observa-se tambm que a TVM2
nula, ou seja a temperatura, naquele
intervalo j havia estabilizado.
d) no intervalo 7 9 demonstra , por
outro lado, que agora a curva 2 tende
a se estabilizar e que a curva 1 ainda
est var i ando com uma taxa bem
maior.
e) no intervalo 3 4 , em plena variao
de ambas as curvas, revela da forma
mais categrica que a velocidade de
aquecimento da curva 2 bem maior
que da curva 1. I sto significa que, com
uma resistncia, no espao de tempo
de 1 minuto a temperatura aumentou
7,5 C enquant o que com duas
resistncias aumentou 11,6C.
Uma i mpor t ante concl uso, agor a
graficamente, que a taxa mdia ao longo
de qualquer intervalo a inclinao da reta
que l i ga os pont os, no gr f i co,
correspondentes aos extremos do intervalo.
A par ti r destas obser vaes no
di fci l concl ui r que a taxa mdi a um
conceito til, mas d uma idia grosseira
do compor t ament o do f enmeno em
est udo. No resol ve, por exempl o, o
problema de se medir a velocidade ou
taxa de aquecimento em um determinado
instante.
Para isso, vamos eleger um ponto do
grfico das curvas e analisar o que acontece
com a taxa mdia medi da que vamos
di mi nuindo o i nter valo de tempo tanto
pel a di rei t a como pel a esquerda. Na
verdade, veremos o que acont ece na
vizinhana do ponto. A ttulo de exemplo,
elegemos o ponto t = 4 .
Tabel a 3: Taxas Mdi as na
Vizinhana de t = 4
Intervalo 0 a 3 1 a 3 2 a 3 5 a 6 5 a 8 5 a 12
Vt (min) 3 2 1 1 3 7
VT1 (C) 16,4 14,0 7,2 6,7 20 19,8
VT2 (C) 29,2 23,9 11,7 11,5 19,2 19,8
TVM1 5,5 7,0 7,2 6,7 6,7 2,8
TVM2 9,7 12,0 11,7 11,5 6,4 2,8
Obser va-se que medi da que o
comprimento dos intervalos dimi nui, os
valores das taxas mdi as, par a as duas
curvas, antes e a aps t = 4, se aproximam
cada vez mais. Na primeira curva o valor
estar entre 6,7 e 7,2 enquanto que na
cur va 2 est ar ent re 11,5 e 11,7. Se
tivssemos registrado as temperaturas em
intervalos de tempos menores, no seria
difcil concluir que chegaramos a valores
mais prximos. I sto , para se calcular a
taxa de aquecimento em t = 4 com mais
casas deci mai s, t er amos que t omar
intervalos cada vez menores de cada lado
de t = 4 , at que as t axas mdi as
coi nci di ssem par a o nmero de casas
deci mai s desej ado. E ento, a taxa de
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 149
aquecimento em t = 4 seria definida como
sendo esse valor comum.
5.5.2 De f i n i n d o a Ta x a
I n s t a n t n e a Us a n d o o
Conc ei t o de Li mi t e
Vamos supor que o valores comuns da
curva 1 e curva 2 no instante t = 4 sejam,
respectivamente 6,95 e 11,60. Quando se
consideram intervalos cada vez menores,
o que acontece que as taxas mdias esto
ligeiramente acima ou ligeiramente abaixo
destes valores. Parece ser natural, ento,
definir a taxa, no instante t = 4 , como
sendo 6,95 para a curva 1 e 11,60 para a
cur va 2. Essa taxa chamada de taxa
instantnea neste ponto, e sua definio
depende de estarmos convencidos de que
i nter val os cada vez menores for necem
taxas mdi as ar bitr ar i amente prxi mas
quel es valores. A matemti ca moder na
t em um nome par a esse processo:
chamado de tomar o limite.
Portanto, para o nosso experimento,
a velocidade de aquecimento instantneo
ou taxa instantnea de aquecimento em
um instante t dada pelo limite da taxa
mdia de aquecimento, ao longo de um
intervalo, quando esse intervalo se encolhe
cada vez mais ao redor de t.
5.5.3 Vi sual i zando a Tax a
de Aquec i ment o no Gr f i c o:
I ncl i na o de uma Cur va
J vi mos que a t axa mdi a de
aqueci ment o ao l ongo de qual quer
intervalo a inclinao da reta que liga os
pontos, no grfico, cor respondentes aos
extremos do intervalo. A prxima pergunta
como vi sual i zar a t axa em um dado
instante de tempo. Tomamos taxas mdias
ao longo de intervalos cada vez menores
com uma extremidade em t = 4. medida
que o comprimento do intervalo diminui,
a inclinao se aproxima cada vez mais da
inclinao da curva em t = 4.
A pedra angular da idia o fato de
que , em escala muito pequena, a maioria
das funes se parece com retas. Se, em
um pont o do gr f i co, f i zer mos uma
grande ampliao para obter uma vista
bem de perto, notaremos que , quanto mais
se amplia, mais a curva se parece com uma
reta. Chamamos a inclinao desta reta de
inclinao da curva no ponto. Portanto, a
i ncl i nao da ret a ampl i ada a t axa
instantnea.
5.5.4 A Der i vada: Tax a de
Var i a o I nst ant nea
Vamos agora formalizar e generalizar
o que foi visto at aqui. Considerar f a
f uno do t empo que f or nece a
temperatura y da gua em um instante t,
de modo que y = f (t ). Dest a f or ma,
podemos fornecer uma expresso para a
taxa mdia ao longo de um intervalo.
Se:
b t a s s
Taxa Mdi a de Aqueci ment o =
a b
a f b f
tempo do Variao
a temperatur da Variao
=
) ( ) (
Se est i ver mos i nt er essados em
observar a velocidade instantnea em t =
a, ento queremos ol har para intervalos
cada vez menores em torno de t = a . Vamos
consi der ar i nt er val os da f or ma
h a t a + s s
onde h o comprimento do
i nter val o. Ent o, ao l ongo do i nt er al o
h a t a + s s
Taxa mdia =
h
a f h a f ) ( ) ( +
=
Este quociente chamado de r azo
i ncr emental. O numerador mede o valor
da variao (ou o incremento) da f ao longo
do intervalo de a at a + h . Assim, a razo
incremental a variao da f dividido pela
variao em t que agora, para generalizar,
vamos denominar de x.
Este quociente compara a variao do
valor da funo, f(x), com h, a variao em
x. Se uma pequena variao em x produz
uma var i ao gr ande em f (x), esse
quociente ser grande; reciprocamente, se
uma pequena variao em x produz uma
150 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
variao menor ainda em f(x), o quociente
ser pequeno.
Como a taxa instantnea o nmero
do qual se aproxi mam as taxas mdias
quando os i nt er val os di mi nuem em
comprimento, isto , quando h fica cada
vez menor. Assim , a taxa instantnea em t
= a o limite, quando h tende para 0,
Taxa I nst ant nea em t = a
) ( '
) ( ) (
lim
0
a f
h
a f h a f
h
=
+
=
Este nmero to i mpor tante que
recebe um nome prprio, a der i vada da f
em a, denotada por f (a).
5.5.5 Vi s u a l i za n d o a
De r i v a d a : I n c l i n a o d a
Cu r v a e I n c l i n a o d a
Tangent e
Como j foi visto, medida que o
compr i ment o do i nt er val o di mi nui , a
inclinao se aproxima cada vez mais da
inclinao da curva em um determinado
pont o. Por tanto, podemos vi sual i zar a
derivada f (a) como sendo a inclinao do
grfico da f em a.
Por exempl o, se escol her mos doi s
pontos no grfico, A e B, e que na razo
i ncremental o numer ador a di stnci a
ver t i cal e h a di st nci a hor i zont al
conclumos que a taxa de variao mdia
a inclinao da reta AB. Agora, medida
que h se torna menor, a reta AB se aproxima
da reta tangente curva em A. Logo, a taxa
de var i ao i nstantnea da f em a a
inclinao da tangente em A.
O que a der i vada nos di z
gr af i camente? Quando f posi t i va, a
tangente est inclinada para cima; quando
f negativa, a tangente est inclinada para
baixo. Se f = 0 em toda parte, ento a
tangente est sempre na hori zontal e ,
portanto, a f constante. Assim, o si nal da
f nos di z se a f est cr escendo ou
decr escendo.
No nosso experimento, a derivada nos
indicaria se a temperatura est crescendo,
quanto est crescendo em um determinado
i nstant e, quando se est abi l i zou e , se
desligssemos as resistncias e deixssemos
cai r a t emper at ur a, nos i ndi car i a o
decrescimento da temperatura e sua taxa.
Mais ainda, o mdulo da derivada nos
fornece o mdulo da taxa de variao; de
modo que se f gr ande (posi t i vo ou
negativo), ento o grfico da f ser muito
inclinado (para cima ou para baixo), e se f
pequeno, o grfico da f ser levemente
i ncli nado. Com i sto , podemos deduzi r
muita coisa a respeito do comportamento
de uma funo a partir do comportamento
de sua derivada.
5.6 C o n s i d e r a e s
Fi nai s
5.6.1 Pr ov v e i s c a u s a s
da f al t a de r epet i t i vi dade do
ex per i ment o
Muitas so as causas das variaes nos
resultados do mesmo experimento quando
este for repetido em vrias turmas, locais
ou eventos diferentes provocando curvas
ou grficos distintos.
Os processos tm a caracterstica de
at r asar as mudanas nos val or es das
variveis do processo. Esta caracter stica
dos processos determinam a variabilidade
das curvas de reao. Estes retardos so
geralmente chamados atrasos de tempo do
processo.
As duas principais propriedades so
as seguintes:
Resistncia: So as partes do processo
que resi st em a uma t r ansf er nci a de
energi a. Por exempl o, as par edes do
recipiente, atravs da troca trmica com o
meio provoca a resistncia a transferncia
de energia trmica, a composio qumica
da gua utilizada, a presso atmosfrica no
local do experimento, a temperatura inicial
da gua, a cor rente eltrica da rede, etc.
podero provocar resistncia ou retardo a
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 151
transferncia de energia .
Atr aso Puro ou Tempo Morto : a
caracterstica de um sistema pela qual a
resposta a uma excitao retardada no
t empo, ou sej a, o i nt er val o aps a
apl i cao da exci tao dur ant e o qual
nenhuma respost a obser vada. Est a
caracterstica no depende da natureza da
excitao aplicada e aparece sempre da
mesma f or ma. Sua di menso
si mpl esment e a de t empo. No nosso
exper i ment o o t empo mor t o ser
provocado pela sensibilidade do sensor ao
detectar a var i ao da temper atur a d
gua.
5.6.2 Ou t r o s t e m a s
mat emt i c os que podem ser
a b o r d a d o s a t r a v s d o
me s mo e x p e r i me n t o o u
mat er i ai s ut i l i zados e s ua
i nt er di sc i pl i nar i dade
No ensi no mdi o, tal exper i mento
poder ser util izado, pr inci palmente no
estudo de funes. Podem ser trabalhadas
as f unes l i near, l ogar t mi ca e
exponenci al , f uno const ant e e,
sobretudo, a funo definida por mais de
uma sentena. Com o material utilizado
podem ser trabalhados alguns conceitos de
geometri a como o clcul o da superfcie
para a fabricao do recipiente e o calcule
de volume.
Alm disso, este experimento pode ser
trabalhado conjuntamente com as reas de
fsica e qumica no ensino mdio como, por
exemplo, a explicao sobre a determinao
da potncia de uma resistncia eltrica em
funo da tenso e cor rente el tr i ca, a
definio de estados fsi cos da matr ia,
noes de termometria e termodinmica,
as caractersticas fsico-qumicas da platina
(o sensor de temperatura), etc.
Ref er nc i as
ANTON, H, Cl cul o, um Novo Hor i zont e (Volume
1), 6
a
ed, Porto Alegre: Bookman, 2000.
HUGHES- HALLETT, Dbora, organizador a.
Cl cul o (Volume 1). So Paulo: LTC, 1997.
SWOKOWSKI, E, Cl cul o em Geomet r i a Anal t i ca
(Volume 1), 2
a
ed, So Paulo: Makron Books,
1995.
Can oas v.4 n. 1 p. 153 - 156 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Oficinas
Educ a o mat emt i c a e
hi st r i a: At i vi dades par a as
sr i es f i nai s do ensi no
f undament al
Tani a El i sa Sei ber t
1 - I nt r odu o
A opo pela Histria da Matemtica
como recurso central, fundamenta-se na
necessi dade de resgatar a realidade dos
fatos histricos para que se possa formar
um i ndi vduo consci ent e dos
acont eci ment os, suas causas e
conseqnci as e, com i st o, most r ar a
existncia da matemtica, principalmente
como sendo um i nst r ument o que a
humanidade criou para resolver problemas
e no como agent e causador de
transtornos. Ao selecionar as atividades,
que no so i ndi t as, buscou-se uma
maneira prazeirosa de trazer a Histria da
Mat emt i ca par a a sal a de aul a,
proporcionando significado ao estudo de
diversos temas.
2 - Ref er enc i al Ter i c o
Buscou-se a fundamentao teri ca
deste trabalho na teoria de aprendizagem
significativa de David Ausubel e na teoria
scio-histrica de Lev Vygotsky.
Para Ausubel, o fator mais importante
que influencia a aprendizagem aquilo que
o aluno j sabe. Uma nova informao deve
sempre interagir com uma j existente na
est r ut ur a cogni t i va do i ndi vduo. A
aprendi zagem si gni fi cati va processa-se
quando o mat er i al novo, i di as e
i nf or maes que apr esent am uma
estrutura lgica, interage com conceitos
relevantes e inclusos, claros e disponveis
na est r ut ur a cogni t i va, sendo por el es
assi mi l ado, cont r i bui ndo par a sua
diferenciao, elaborao e estabilidade .
(AUSUBEL, 1968, pg.37).
Recomenda o uso de organi zadores
prvios, como estratgia para ancorar a
nova aprendizagem, pois estes possibilitam
o desenvol vi ment o de concei t os
subsunores que faci litam o processo de
aprendizagem.
Par al el ament e, f az par t e dest e
processo a interao entre pares. Para isso
busca-se fundamentao na teoria scio-
Tania Elisa Seibert Professora no Colgio Sinodal So Leopoldo/RS.
154 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
hi st r i ca de Vygot sky, que d nf ase
especial importncia da linguagem e de
atividades compartilhadas como ativadoras
do desenvol vi ment o cogni t i vo e da
aquisio de conceitos. Para ele, a vivncia
em soci edade essenci al . pel a
aprendizagem nas relaes com os outros
que construmos os conhecimentos que
permitem o desenvolvimento mental dos
i ndi vduos. As i nf or maes nunca so
absor vi das di ret ament e do mei o. So
sempr e medi adas, expl ci t a ou
impl icitamente, car regando signi fi cados
histricos e sociais.
Acr edi t a-se que a hi st r i a da
mat emt i ca um for t e mot i vador no
processo de const r uo de concei t os
matemticos, pois medida que se estuda
a evoluo histrica desta construo, traz-
se significados diferenciados ao aluno, que
passa a perceber as transfor maes que
est es concei t os sof rer am ao l ongo do
processo, mas tambm o quanto so atuais
e teis.
Tomando est es aspect os como
referenciais, a histria da matemtica como
encadeadora do processo de aprendizagem
e, levando sempre em considerao o saber
do aluno, foram el abor adas tarefas que
devem funci onar como medi ador as ou
organizadores, para que o aluno consiga
desenvol ver o seu conheci ment o e
const r ui r os concei t os envol vi dos nos
contedos propostos.
3 - Me t o d o l o g i a d o
Tr abal ho
O t r abal ho f oi desenvol vi do no
Col gi o Si nodal , da rede par ti cul ar de
ensino, com uma turma de 27 alunos.
Decidiu-se, em conjunto, a formao
de seis grupos de trabalho. Conversou-se
sobre os mtodos de trabalho e sobre a
avaliao.
As atividades que mediavam as etapas
da construo de conceitos visavam sempre
dar condi es para o al uno avanar no
apr endi zado. Par a i st o, f or am
desenvolvidas de forma participativa. Cada
aluno, em seu grupo, recebia fotocpia da
t ar ef a, f azi a uma l ei t ur a si l enci osa,
comentava com os colegas do grupo e as
desenvolvia.
Pronta a atividade, comparava os seus
r esul t ados com os dos col egas,
identificando semelhanas e construindo
os seus concei t os. At r avs do uso da
linguagem oral e escrita, os seus resultados
eram comparados com os do grande grupo
e, todos juntos, com auxlio da professora,
quando necessrio, concluamos as tarefas.
Estas tarefas foram elaboradas em uma
seqncia que possibilitava aos alunos a
descober t a do cont edo. Per gunt as e
respostas em momentos opor tunos e a
interao entre al uno/aluno e professor/
aluno foram de extrema valia.
Er a obj et i vo do proj et o o assunto
Tr i gonomet r i a mas sabi a das
dificuldades dos alunos no que diz respeito
ao conhecimento da geometria, por este
moti vo, as pr i mei r as ati vi dades f or am
elaboradas buscando criar condies para
que eles pudessem conhecer o tringulo e
algumas de suas propriedades.
Na primeira parte, foram estudadas
medi das de ngul os, i nst r ument os de
medi das de ngul os e al gumas
propri edades dos tr ingulos, par a, com
isso, buscar condies adequadas para o
estudo da semelhana entre tringulos.
Aps esta etapa, foi iniciado o estudo
sobre Tales de Mileto e a semelhana entre
tringulos. Elaborando tarefas adaptadas
da Histria da Matemtica introduziu-se
este assunto. For am uti li zados recur sos
como at i vi dades pr t i cas de pt i o,
const r ues geomt r i cas, maquet es e
exer cci os, par a que t odos os al unos
pudessem avanar e cr iar condies de
conhecermos Pitgoras e o seu Teorema.
Nest a et apa do pr oj et o, f oi
demonstr ado o Teorema de Pi tgor as.
Al m de ser em r eal i zados exercci os
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 155
tradicionais, resgatou-se dos registros da
hi st r i a al guns probl emas e al gumas
atividades.
Quando este assunto estava elaborado
partiu-se para o estudo da Trigonometria
at r avs de at i vi dades de const r uo,
exerccios e leituras.
Optou-se relatar neste texto apenas as
atividades relacionadas com a Histria da
Matemti ca, por haver necessi dade de
resumi r o tr abal ho. Estas tarefas esto
i nser i das dent ro do desenvol vi ment o
nor mal do cont edo, i st o , ent r e
demonstr aes, exercci os e at i vi dades
costumeiras.
4 - At i vi dades rel aci onadas
com a Hi st ri a da Mat emt i ca
4.1 Um pouco de hi st r i a sobre a
unidade de medi da de ngul os: O
Grau
Atividade desenvolvida com o objetivo
de dar si gni f i cado da di vi so da
circunferncia em 360.
4.2 Conhecendo i nst r umentos de
medida de ngulos:
Foram desenvolvidas atividades com
o uso do t r ansf er i dor e do quadr ant e
(aparelho adaptado do astrolbio).
4.3 Um pouco de histria: Tales de
Mileto
Foram abordados fatos de sua vida,
suas descobertas e principalmente o uso
das pr opr i edades ent r e t r i ngul os
semelhantes, valorizando a forma com que
ele descobriu a altura de uma pirmide.
4.4 Usando as sombras de Tales para
determinar alturas
Cada grupo foi ao ptio, e aplicou o
mtodo da semelhana por sombras de
Tales para determinar a altura de algum
elemento.
4.5 Um pouco de histr ia: Cl udio
Ptol omeu
Aborda-se a bi ogr af i a de Cl udi o
Ptolomeu e com ela unidades de medida
como cvado, cbito, braa e mos, com o
objetivo de mostrar a necessi dade de se
criar um sistema de medida internacional.
4.6 Usando o Winkelmesser
I nstr umento usado por l enhadores
alemes para descobrir a altura de rvores
que se basei a na semel hana ent r e
tringulos issceles.
4.7 Um personagem importante da
Histria da Matemtica: O Escriba .
Estudam-se as formas que os escribas
utilizavam para multiplicar e dividir.
4.8 Uti l i zando maquet es par a dar
significado a certos problemas
Construo de duas maquetes: uma
baseada num t ext o ext r ado do l i vro
Per spect i vas da Mat emt i ca, de Hans
Fr eudent hal , educador mat emt i co
holands. Ele descreve o mtodo que teria
sido utilizado por Tales para determinar a
distncia de um navio at a praia, usando
a congr unci a de t r i ngul os. A out r a
maquete, fazendo uso da semelhana entre
tringulos, determina a largura de um rio.
156 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
4.9 Um pouco de histria: Pitgoras
de Samos
Est udo da bi ogr af i a de Pi t gor as,
deduo do Teorema de Pitgoras usando
semelhana entre tringulos, resoluo de
exer cci os encont r ados em r egi st r os
histricos e extrao da raiz quadrada.
4.10 Tr i gonometr i a: um pouco de
histria
Const r uo de concei t os
trigonomtricos utilizando a razo entre
tringulos semelhantes.
4.11 Const r uo da t abel a
trigonomtrica
Ut i l i zando os concei t os de seno,
cosseno e tangente, construir uma tabela
t r i gonomt r i ca e di scut i r os nmeros
encontr ados.
4. 12 O quadr ant e e as r azes
trigonomtricas: uma utilizao prtica.
Util izando o quadr ante e as razes
trigonomtricas os alunos determinaram
a altura de um objeto no ptio da escola.
Este problema foi representado atravs de
uma maquete, possibilitando desta forma
a aplicao dos conhecimentos adquiridos.
5 - Ref l ex es f i nai s
Quando o projeto chegou ao seu final,
foi solicitado aos alunos uma avaliao, na
qual eles puderam opinar livremente sobre
todos o processo.
Analisando estas manifestaes pode-
se afi r mar que o recur so Hi str i a da
Matemtica foi bem recebido pelos alunos
e, mai s do que i st o f ez com que
acredi tassem na matemti ca como uma
criao dinmica e proveitosa, e, a partir
di st o, a vi so dest a di sci pl i na f i cou
diferente, passando a ser percebida pelos
alunos como um instrumento agradvel e
til na resoluo de problemas, agora com
significado e prximo a sua vida.
Mostrar que a matemtica no cai do
cu, que foi criada por pessoas comuns e
dentro de contextos culturais, faz com que
os al unos a ol hem com outros ol hos .
(DAMBRSI O, I I I Seminrio Nacional de
Histria da Matemtica, 1999, Brasil).
Alm das opinies externadas pelos
alunos em diferentes momentos, pode-se
destacar que esta foi a minha experincia
mais bem sucedida em sala de aula. Jamais
em out r os pr ocessos ou si t uaes o
envol vi mento e a moti vao dos alunos
havi a mani f est ado-se de manei r a t o
agradvel e intensa.
Ref er nc i as
BOYER, Carl B. Hi st r i a da mat emt i ca. So
Paulo: Edgard Blcher, 1974.
GUELLI , Oscar. Con t a n d o a h i st r i a d a
mat emt i ca. Dando cor da na t r i gonomet r i a.
So Paulo: tica, 1993.
_____________. M at emt i ca. Uma avent ur a do
pensament o. So Paulo: tica, 1997.
MOYSS, Luci a. Apl i caes de Vy got sky
educao mat emt i ca. So Paulo: Papir us,
1997.
MOREIRA, Marco A. e MASINI, El cie F. S.
Apr endi zagem si gni f i cat i va: a t eor i a de Davi d
Ausubel . So Paulo: Moraes Ltda, 1982.
REGO, Teresa Cristina. Vygot sky: Uma per spect i va
h i st r i co- cu l t u r a l d a ed u ca o. 7.ed.
Petrpolis: Vozes, 1999.
SEIBERT, Tania Elisa et. al. Tr i gonomet r i a por
mei o da const r uo de concei t os. So Leopoldo:
UNISINOS, 2001.
STRUI K, Di r k J. H i st r i a con ci sa d a s
mat emt i cas. 2. ed. Lisboa: Gradiva, 1992.
VYGOTSKY, L.S. Pensament o e Li nguagem. So
Paulo: Martins Fonte, 1993.
_____________. Li nguagem, desenvol vi ment o e
apr endi zagem. So Paulo: Edusp, 1988
ZARO, Mi l t on e HILLEBRAND, Vi cent e.
M at emt i ca Exper i ment al . 2. ed. So Pulo:
tica, 1992.
Can oas v.4 n. 1 p. 157 - 161 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Oficinas
A heur st i c a no ensi no do
c l c ul o di f er enc i al e i nt egr al
Rubn Pant a Pazos
1 - I nt r odu o
A aprendi zagem dos concei tos e
mtodos bsicos do clculo diferencial e
integral necessria para que os alunos de
graduao obtenham melhor eficincia na
soluo de problemas dessa disciplina que
depoi s ser o usados na sol uo de
pr obl emas em out r as di sci pl i nas da
engenhar i a, admi ni st r ao, f si ca ou
mat emt i ca. O cl cul o di f er enci al e
integral tem o propsito que de descrever
o cr esci ment o ou decr esci ment o e a
variao. A populao possui uma taxa de
crescimento que muda. O valor da moeda
decresce, mas pode em det er mi nadas
ci r cunst nci as cr escer
5
. Al m da
ut i l i zao de novas f er r ament as
tecnolgi cas em diver sas i nstitui es do
ensi no super i or o pr obl ema da
compreenso, domnio e uso de conceitos
tais como limite de uma funo, derivada
ou integral de uma funo mantn uma
vigncia em diferentes nveis. A influncia
da mdia e os novos recursos tecnolgicos
representa mais um desafio aos esforos
educaci onai s poi s o espao par a o
r aci oc ni o e o desenvol vi ment o do
pensamento fica mai s estreito quando a
oferta da informao tem a organizao do
mer cado. Pesqui sas de di f er ent es
instituies mostram que a taxa de leitura
per capita resulta heterognea em reas
geogr f i cas pr xi mas ou ai nda par a
diferentes camadas sociais numa mesma
regio. Neste contexto qual ser o espao
para sali entar, empregar e consolidar o
mt odo heur st i co nas di sci pl i nas de
clculo diferencial e integral que estamos
propondo neste trabalho ?
O termo heur sti ca tem suas razes na
palavra grega euristike( descoberta), e hoje
a heurstica o mtodo pedaggico que
leva o aluno a aprender por si mesmo a
verdade que se lhe quer ensi nar. Como
al ter nati va metodol gi ca no ensi no do
cl cul o di ferenci al e i ntegr al as i di as
bsicas consistem em formar no aluno o
est abel eci ment o dos vncul os ent r e
deter mi nados obj etos e tarefas, de um
l ado, e as cor r espondent es aes de
r espost a por out r o l ado , Cabr er a
Sarmiento (2001)
1
. Na seo 2 vamos dar
a exposio das idias fundamentais do
mt odo. Na seo 3 i ndi camos a
implementao do mtodo nas disciplinas
Rubn Panta Pazos Professor da Faculdade de Matemtica Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul Av Ipiranga 6681, 90619-900
Porto Alegre RS. E-mail: rpp@mat.pucrs.br
158 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
do cl cul o num exempl o el ement ar.
Fi nal ment e f or mul amos al gumas
concl uses.
2 - I di as Fundament ai s
do Mt odo Heur st i c o
As instituies do ensino no escapam
das circunstncias da sociedade e o trabalho
dos professores da matemtica no ensino
superior est relacionado com os problemas
gerais da soci edade (a cr ise econmica,
pol t i cas de r eduo do magi st r i o,
concor r ncia no mercado das enti dades
privadas) e particulares da instituio ou a
tur ma com a qual tr abal ha (sej a numa
universidade pblica ou parti cular, se a
composio da turma heterognea ou
no). No dia a dia constatamos:
O interesse pela leitura no segue o
mesmo desenvol vi ment o que o
aumento da populao universitria
em vrios pases em desenvolvimento;
O nvel da base mat emt i ca dos
al unos que i ngr essam nas
uni versidades resulta cada vez mais
elementar;
Os meios de comunicao social so
submet i dos a uma economi a de
mercado onde a matemtica resulta
apenas uma ferramenta pragmtica
empregada numa dose mnima;
A composio das turmas indica que
o nmero de alunos que trabalham
tempo integral maior o que impede
melhor desempenho do aluno.
Nessa r eal i dade podemos
compr eender que os r esul t ados das
aval i aes nas di sci pl i nas mat emti cas
fiquem muito afastados das expectativas
originais do planejamento das instituies
ou ainda dos mesmos alunos.
Nem mesmo a incorporao de novas
metodologias, entre as quai s fi guram as
t cni cas comput aci onai s, poder i am
significar uma mudana crucial. O uso dos
si st emas de computao al gbr i ca nas
uni ver si dades dos pa ses em
desenvolvimento vem refletindo o que j
tem acontecido nos pases industrializados,
a idia incor reta que a matemtica pode
ser reduzi da a si mpl es mani pul ao
medi ante computadores par a resol ver
problemas que de outro modo teriam um
custo maior de tempo e compl exi dade.
Acr edi t amos que no ensi no das
mat emt i cas o pr i nci pal r esul t a a
t r ansmi sso das i di as mat emt i cas,
i ncl ui ndo seus pr i nci pai s concei t os e
mtodos, sendo o papel de qualquer nova
tecnologia muito importante, mas sempre
auxiliar, uma fer ramenta e s isso.
No se t r at a excl usi vament e da
transmisso de idias na forma expositora
clssica, seria melhor ainda na descoberta
do mesmo aluno na medida do possvel de
al guns f at os que per mi t am f or mar
associaes em torno aos conceitos bsicos
de cada disciplina matemtica, em nosso
caso do clculo diferencial e integral. O
mt odo heur st i co busca expl or ar o
prprio esforo de raciocnio do aluno. A
maior parte da gente usa apenas um 10
por cento de sua capaci dade cerebr al
menciona um autor norte-americano
2
. Em
out ro mei o soci al como na soci edade
cubana a escola dedica boa parte de seus
esforos na criao das condies para que
os alunos apreendam a pensar
1
. Hoje
que vi vemos di as de gr ande agi t ao,
quando a primeira vitima da guerra a
verdade,...
6
, devemos resgatar como um
mtodo de muita potencialidade o mtodo
heurstico, ensinar a pensar pode ser mais
i mpor t ant e que apenas r epassar
informao ou indicar a forma de utilizar
tcnicas computacionais. Com certeza, a
t arefa pode se vi sl umbr ar um esf or o
isolado, mas nossa tarefa no abandonar
a r azo de ser do educador,
par t i cul ar ment e do pr of essor de
matemtica.
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 159
2.1 Conc ei t os Met odol gi c os
No desenvolvimento de um mtodo
que inclua o mtodo heurstico vamos nos
basear nos seguintes itens:
A heurstica assume um papel diretor
r el aci onado com os obj et i vos da
di scipl ina;
Devem ser includas as tecnologias
adequadas para visualizar os objetos
mat emt i cos e par a at ender as
necessi dades cur r i cul ares do cur so
que emprega o clculo;
O mtodo deve ser integrado, isto
no pode ser f r agment ado, com
sesses prticas visando a resoluo de
problemas para a fixao dos conceitos
e mtodos envolvidos;
O trabalho deve ser planejado.
2.2 Passos a ser em segui dos
Um cont ext o de r ef er nci a
necessrio, em cada nvel. I sto gera a idia
que sempr e devemos f or necer uma
i nf or mao bsi ca. Depoi s segue uma
i nt er ao heur st i ca par a at i ngi r os
objetivos do nvel conceitual ou algortmico
planejados. Uma etapa de consolidao do
nvel obti da medi ante outras tcni cas
(sesses prticas de problemas, aulas de
laboratrios com sistemas de computao
algbrica).
3 - Model os El ement ares
de Popul a o
Consideremos o modelo si mples da
populao apresentado numa disciplina de
clculo envolvendo equaes diferenciais.
O professor pode trazer dados empricos
de alguma cidade:
A populao de uma cidade foi 950.00
habitantes em 1990.
A taxa de vari ao da populao
proporcional populao mesma.
A populao do ano 2000 1300.000
habitantes.
Neste ponto a informao bsica que
taxa de variao medida pela derivada
de uma funo, neste caso a funo p(t)
que representa a populao no instante t.
O problema achar a constante de
proporci onal i dade, i ndi car o nvel da
popul ao em 1995 e, supondo que a
situao mantida mais cinco anos, fazer
a previso para 2005.
Dois modelos foram trabalhados pelos
alunos:
3.1 Model o 1 : (for mul a o e
sol u o de um pr obl ema de
val or es i ni c i ai s)
15 0 ) (
) (
s s = t t kp
t d
t dp
onde t o tempo medido desde 1990
(t = 0), k represent a o coef i ci ent e de
proporcionalidade. A soluo obtida pelo
mtodo de separ ao de var i vei s deu
como resultados k = 0.031369, p(1995) =
1111. e p(2005) = 1520. Neste caso o
t r at ament o medi ant e uma equao
diferencial e um valor inicial.
3.2. Model o 2 : (for mul a o e
sol u o de uma pr ogr esso
geomt r i c a)
( ) 15 , , 2 , 1 , 0 1
0
= + = n p p
n
n
Os resul tados aparecem na t abel a
abaixo.
Os resultados foram?
= 0.031863, p(1995)
= 1108 e p(2005)
= 1509.
160 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
Ano Populao
1990 950.0
1991 979.8
1992 1010.5
1993 1042.2
1994 1074.9
1995 1108.6
1996 1143.4
1997 1179.3
1998 1216.2
1999 1254.4
2000 1293.7
3 . 3 Co n s o l i d a o d o s
model os obt i dos em f or ma
i ndependent e
O aut or ensai ou a f ase de
consolidao destes modelos em trabalho
de aul a e medi ant e o si st ema de
computao algbrica Maple V. Porque a
mni ma di f er ena dos r esul t ados? e
revelam a mnima diferena que os alunos
achar am pel o f at o de consi der ar uma
varivel contnua no primeiro modelo, no
entanto a seqncia emprega uma varivel
di screta. Al m di sso, o modelo vli do
devido s circunstncias muito particulares
do desenvolvimento de Porto Alegre, o que
no seria vlido em perodos maiores ou
de desequi lbr io. O al uno tirou di versas
concl uses: os model os f or necem
aproximaes da realidade, as diferenas
obedecem ao diferente tipo de varivel, os
grficos permitem melhor entendimento
das solues.
Os grficos de p(t) e da seqncia p
n
so apresentados abaixo e revelam a mnima
Populao de Porto Alegre
Tabela 1. Populao no perodo 1990-
2000
diferena que os alunos acharam pelo fato
de consider ar uma varivel contnua no
primeiro modelo, no entanto a seqncia
emprega uma varivel discreta. Alm disso,
o modelo vlido devido s circunstncias
muito particulares do desenvolvimento de
Porto Alegre, o que no seria vlido em
perodos maiores ou de desequilbrio. O
al uno t i r ou di ver sas concl uses: os
model os f or necem apr oxi maes da
real i dade, as di f erenas obedecem ao
di f erent e t i po de var i vel , os gr f i cos
per mi t em mel hor ent endi ment o das
solues.
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 161
Observaes. Se as equaes
di ferenci ai s f or massem uma di sci pl i na
i ndependent e, o t r abal ho poder i a
conti nuar num out ro nvel most r ando
outros tipos de modelos de populao. Mas
o objetivo bsico foi atingido, que os alunos
descobr i r am algumas car acter sti cas na
modelagem das equaes diferenciais no
problema do crescimento de populao de
uma ci dade, como poder i a ser num
pr obl ema de cont ami nao ou
radioatividade.
Os nveis de dificuldade conceitual
exigem parmetros diferentes. Assi m na
i nt r oduo do concei t o de l i mi t e
deveramos enfocar em forma mista uma
i nt r oduo i nt ui t i va e t ambm um
formalismo acompanhado de tcnicas de
visualizao. De outro lado alguns tpicos
como tcnicas de integrao podem ser
compl ement ados com exempl os da
geomet r i a ou f si ca par a a mel hor
aprendizagem do aluno. A nfase deve ser
que na descoberta de alguns conceitos e
de car act er st i cas par t i cul ares de um
probl ema o al uno sej a at or e no um
simples receptor de informao. O desejo
de cumprir contedos e cronogramas no
deve sacr i f i car a propost a do mt odo
heur stico.
4 - Concl uso
Devemos concl ui r que o mt odo
heur st i co t ent a val or i zar di ver sas
met odol ogi as no ensi no do cl cul o
di f er enci al e i nt egr al , no est em
contradio com nenhuma. Um mtodo
i ntegr ado que tenha a heur sti ca como
elemento diretor deve salientar o papel das
novas tecnol ogi as sempre que seu uso
forme parte do planejamento da disciplina.
As sesses pr t i cas de r esol uo de
problemas no podem restringir-se apenas
numa sntese de receitas para superar as
aval i aes, pelo contr ri o devem servi r
para uma mnima di scusso procurando
exerci tar o r aci ocni o do al uno. Mas o
i nt er cmbi o de exper i nci as ent re os
professores da matemtica ser um crisol
para futuras pesquisas.
Ref er nc i as
FLANSBURG, Scott with Hay, Victoria, Math
Magic, Harpe Perennial, New York, 1994.
HAGEDUS, S.J.. Advanced Mat hemat i cal
Thinking, Metacognition & The Calculus,
i n
www.soton.ac.uk/ mt/ amtpaper.htm.
POWELL, St ephen G., Si x Key Model ing
Heuristics , in the site
mba. l u ck mou t h. edu / pages/ f acu l t y /
steve.powell/ sixkey.htm.
STRANG, Gi l ber t , Cal cul us, Wel l esl ey
.Cambridge Press. 1991.
SARMIENTO, Cabrera Lizardo. La Heurstica:
una al t er nat i va met odol gi ca par a l a
enseanza de procedimient os l gicos del
pensamiento asociados a conceptos atravs
de la clase de Matemtica presentacin en
COMAT 2001, Matanzas Cuba. 2001.
VIANA, Emil i o, Ent r evi st a en Choque de
Opiniones, CNN en Espaol, 14/ 10/ 2001,
Washington DC, 2001.
Can oas v.4 n. 1 p. 163 - 168 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
Oficinas
Const r u o dos nmer os
r el at i vos e de suas oper a es
Ver a Ker n Hof f mann
1 - I nt r odu o
A oficina tem a inteno de discutir
uma metodol ogi a para a constr uo de
nmeros rel ativos e de suas operaes.
Ser o apr esent ados j ogos e out r as
atividades que se utiliza para realizar esta
const r uo. A pr opost a basei a-se em
atividades simples, e no uso de materiais
de baixo custo. Todas as atividades foram
por mim aplicadas em sala de aula, em
mini-cursos e em encontros de professores
de Matemti ca desde 1986. A proposta
enfatiza principalmente a diferena entre
a operao matemtica e o nmero inteiro
r el at i vo nas oper aes. Ut i l i za-se da
oper ao adi o par a a constr uo do
conceito da operao de multiplicao sem
se fixar na regra de sinais.
2 - Nmer os I nt ei r os
Rel at i vos
A introduo dos nmeros relativos,
em nossa poca, parece ser um fato simples
e cor r i quei r o. Nor mal ment e, ns,
professores de Matemtica, no nos damos
cont a das di f i cul dades que est o
subjacentes compreenso dos nmeros
rel at i vos e no expl i camos aos nossos
alunos o porqu de negativo vezes negativo
ser i gual a posi ti vo. Ser que sabemos
expl i car o mot i vo? Ou si mpl esment e
falamos aos alunos que assim e pronto?
Necessitamos, portanto, de um modelo
matemtico que possa ser utilizado tanto
na adi o como na mul t i pl i cao de
nmeros relativos.
Nossos alunos enfrentam dificuldades
ao estudarem os nmeros relativos e suas
oper aes. Al m di sso, a passagem do
estgi o das operaes concretas para as
abstratas, com todas as implicaes que as
el as tr azem, acentua a necessi dade de
estudo e de um aprofundamento didtico
em nmeros relativos. Precisamos de um
modelo que seja familiar aos alunos. Um
model o que se possa expl i car
simultaneamente adio e multiplicao
dos nmer os r el at i vos, bem como as
operaes inversas. O modelo matemtico
preci sa per mi t i r que os al unos f aam
transferncias de aprendizagem e que no
sej am condi ci onados a exempl os que
tol ham sua autonomi a. Apresento uma
Vera Kern Hoffmann Professora do I nstituto de Educao Ivoti
164 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
srie de atividades que visam auxiliar nossos
al unos a super ar as di f i cul dades que
encont r am ao est udarem os nmeros
relativos.
At i v i d a d e 1 : J o g o d o
ver mel ho-azul
Material: Confeccionar sete car tes
vermelhos e sete cartes azuis, ambos com
a escrita de um numeral natural de 0 a 6;
uma folha quadriculada ( casas ) como o
modelo abaixo ampliada para pelo menos
5 j ogadas por al uno e fi chas ou outro
material que possa servir como marcador.
Procedi mento: For mar dupl as par a
realizar o jogo. Cada dupla recebe uma
folha quadriculada e deve preencher todas
as jogadas.
O aluno que vai jogar deve colocar seu
marcador sobre o ponto zero de uma linha
e tirar um carto azul e outro vermelho
do monte. Se, como no exemplo, ele tirar
o carto 4 azul, ento deve deslocar seu
marcador 4"casas para a direita a partir
do ponto zero; em seguida, como ele tirou
o car to 6 ver mel ho, deve desl ocar o
marcador, saindo da casa 4 em direo
esquerda 6"casas . Seu marcador deve ficar
na casa 2 vermelha. Ele coloca as iniciais
de seu nome no l ocal onde chegou o
marcador e anota, no final da tabela, o par
ordenado que usou para chegar na casa
2 vermelha, como no exemplo. Recolocam-
se as fichas no jogo, e o outro jogador faz
sua jogada sempre iniciando do zero. Deve-
se preencher toda folha .
Aps a realizao do jogo, solicita-se
aos alunos que escrevam as observaes que
fizeram a partir do jogo. A importncia
desta ati vidade est no fato dos al unos
anotarem as idias que tiveram ao realizar
o jogo.
At i v i d a d e 2 : J o g o d o s
t r i ngul os e dos quadr ados
Material: 50 quadrados (4x4 cm); 50
tringulos equilteros (4cm de base ); dado
e 4 marcadores e fol ha quadr i cul ada
semelhante do jogo anterior.
Procedimento: Os alunos jogam em
gr upos de quat r o. Recebem f i gur as
recor t adas nas f or mas t r i angul ares e
quadradas e um dado. Alm disso, uma
folha semelhante do jogo anterior.
6v 5v 4v 3v 2v 1v 0 1a 2a 3a 3a 4a 5a
Par
ordenado
Paulo (4,6)
Helena
(4,1)
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 165
Cada aluno, na sua vez, joga o dado e
recebe o nmero de quadr ados que foi
indicado pelo dado. Procede nova jogada
e recebe o nmero de tringulos que o dado
indicou. Estabelece-se a regra de que um
quadrado e um tringulo se anulam. Anota-
se o nmero de figuras que restaram da
jogada, bem como o par ordenado formado
pel o nmero de quadrados e tringul os
sorteados( observar bem a ordem do par
ordenado - quadrados, tringulos). Vence a
jogada o jogador que tiver mais quadrados.
Neste jogo devemos cuidar para falar
somente do nmero de quadrados a mais ou
a menos do que tringulos que temos na
jogada.
necessrio acentuar que as atividades
at aqui desenvolvidas permitem que os
alunos pensem em modelos diferentes para
as situaes, sem se fixar em um especfico.
A importncia deste fato reside que no
interessa o material ,mas a estrutura que est
inerente ao jogo.
At i v i dade 3: Chegando ao
conj unt o dos i nt ei ros rel at i vos
Mater i al i ndi vi dual de cada al uno:
fi chas de papel (3x3cm); 13 envel opes
confeccionados pelo aluno.
Procedimento: Solicitar que os alunos
escrevam em cada ficha um par ordenado
do ltimo jogo. Pedir que organizem as
fichas sobre a mesa de tal maneira que as
fichas que representam a mesma casa
(quant i dade) f i quem j unt as. Pedi r
igualmente que coloquem, em um mesmo
envelope, todas as fichas que representam a
mesma quantidade e que dem nome ao
envel ope, i ndi cando, por um l ado, a
quantidade que ele est representando em
relao aos quadrados e, por outro, se h
quadrados a mais ou a menos do que zero.
Exemplificando:
O envelope 1 a mais pode conter as
fichas ( 1,0) ;(2,1); (3,2); (4.3) ;(5,4);(6,5) =
+ 1
O envelope 2 a menos pode conter as
fichas (0,2) ; (1,3) ;(2,4) ; (3,5); (4,6) = -2
O envelope 0 pode conter as fichas (0,0)
;(1,1); (2, 2); (3,3); (4,4); (5,5); (6,6) = 0
Estabelecer o conjunto de todos os
nmer os que houver nos envel opes.
Reconhecer que seria possvel ampliar o
nmero de envelopes e, por conseqncia,
o conjunto de envelopes que at o momento
finito, poderia ser infinito. Nomear o novo
conjunto reconhecido como conjunto Z :
conjunto dos nmeros i ntei ros relativos.
Estabelecer com os alunos os subconjuntos
possvei s. A not ao de mdul o e a
comparao entre nmeros relativos pode ser
trabalhada neste momento.
At i v i dade 4: Const r ui ndo a
adi o c om os quadr ados e
t r i ngul os
Material: 1 dado normal; 1 dado com
os sinais de + e de - ; os quadrados e
tringulos da atividade 3 e uma ficha a ser
copiada no caderno.
Procedi ment o: Estabel ecer que as
f i gur as quadr adas represent ar o as
quantidades posi tivas e os tri ngul os as
quantidade negativas. Cada aluno joga, na
sua vez, os dois dados e pega as peas
correspondentes ao resultado e preenche a
tabela. Cada aluno partir de saldo zero. Ao
final, vencer quem ficar com o maior saldo.
166 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
Aps concluir a atividade, pedir que
escrevam a frase matemtica obtida no seu
j ogo, observando a col una dos pontos
obtidos:
0 + ( + 3) + (-5) + ( -3 ) + ( + 4 ) + (
+ 2 ) = + 3 -5 -3 + 4 + 2 = + 9 -8 = + 1
Este j ogo deve ser repeti do vr i as
vezes por que per mi t e que os al unos
cheguem concl uso de como podem
somar os nmeros relativos.
Variao do jogo: Cada jogador joga
o dado 5 vezes consecutivas e anota, na
ficha em seu caderno, os pontos obtidos
por el e e pel os seus col egas. Vencer o
aluno que tiver o maior saldo
O aluno pode utilizar o material dos
quadrados e tringulos para solucionar as
questes. O professor deve ver i fi car as
diferentes maneiras que os alunos utilizam
para encontrar os resultados e comentar a
f aci l i dade que exi st e em j unt ar,
inicialmente, as quantidades positivas e as
negat i vas par a depoi s est abel ecer a
diferena.
Aps est as at i vi dades, out r os
exer cci os de adi o poder o ser
realizados.
At i v i dade 5: Const r ui ndo a
subt r a o c om o j ogo do
e do no
Material :1 dado com os sinais positivo
e negativo(dado da operao); 1 dado com
os numer ai s + 1; + 2; + 3; -1; -2; -3 e
figuras quadradas e triangulares.
Nome Pontos Resultado
Paulo +3+5-3-2+2 -5
Helena -2-3+5+6-1 +5
Rosane -3+2-1+2-3 -3
Claudia +6-5-4+2+1 0
Procedimento: O aluno joga os dados e anota os resultados na tabela:
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 167
O si nal + do dado dos si nai s
significa que o nmero positivo ou o
nmero negativo que ele obteve no dado
dos numerais. O sinal - do dado dos
sinais representa que no o nmero
positivo ou o nmero negativo obtido no
dado dos nmeros. O aluno retira as peas
conforme os pontos da jogada. Ao final das
cinco rodadas, ele verifica o seu saldo final.
Cada al uno deve escrever a f r ase
matemtica do jogo e determinar o seu
resul tado. Vencer quem ti ver o mai or
saldo.
Frase matemtica com os parnteses:
+ (+ 2) - (+ 3) - (-2) - (-1) + (-3) e de forma
simplificada sem os parnteses : + 2 -3 + 2
+ 1 -3 = + 5 -6 = -1
Este jogo deve ser bem explorado para
que os alunos tenham condies de definir
a diferena entre o sinal do nmero que
expressa uma quant i dade e o si nal de
operao. Esta clareza necessria para a
construo do prprio conjunto Z, pois a
quantidade representada pelo nmero
um estado, enquant o que, o si nal que
antecede ao nmero a oper ao que
resultar em um determinado efeito sobre
o nmero.
At i vi dade 6 : Const r ui ndo a
mul t i pl i c a o dos nmer os
r el at i vos
Material: quadrados e tringulos ; um
dado com os numerais :+ 1; + 2;+ 3; -1; -
2; -3 ; um dado com + 1x; + 2x; + 3x; -1x;
-2x; -3x ; ficha copiada no caderno.
Procedi mento: Cada al uno joga os
dois dados ao mesmo tempo, interpreta-
os conforme a regra e retira o nmero de
quadrados ou tringulos. A regra que o
dado do vezes o operador que determina
quantas vezes devemos, ou no, reti rar
quadrados ou tringulos.
Exempl ifi cando:
- 2 x ( + 3 ) = -6 Significa no duas
vezes o tr s posi ti vo (quadr ados), l ogo
sero 6 negativos(tringulos).
+ 2 x ( -3 ) = -6 Significa duas vezes
o trs negativo (tringulos), logo sero 6
negativos(tringulos).
-2 x ( - 3 ) = + 6 Significa no
duas vezes o trs negativo (tringulos) ,
logo sero 6 positivos (quadrados).
O j ogo da mul t i pl i cao pode ser
real izado com di ferentes mater iai s, tai s
como: pies ou roletas que possibilitem o
trabalho com quantidades maiores.
A mul tiplicao introduzida como
soma de parcelas e, por isto, a adio deve
est ar bem tr abal hada. Ut i l i zando est a
metodologia no haver necessidade de o
professor apresentar a regra da operao
multiplicao, nem conveniente faz-lo.
168 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
O al uno real i za est as associ aes, que
f aci l i t am o seu aprendi zado e evi t a a
difi cul dade da uti l izao dos si nai s nas
operaes.
A oper ao di vi so pode ser
introduzida com um jogo, mas ela melhor
compreendida como a inversa da operao
mul tipl icao. O jogo da divi so, neste
momento, uma situao desnecessria
pela construo de sua operao inversa,
que foi proposta anteriormente.
4,8%
17,3%
48,3%
26,9%
2,6%
No satisfatrio
Regular
Bom
Muito bom
Sem resposta
Can oas v.4 n. 1 p. 169 - 171 j an. / j un. 2002 ACTA SCIENTIAE
I Congr esso I nt er nac i onal de
Ensi no da Mat emt i c a
apr esent a o e aval i a o
O I Congresso I nter naci onal de
Ensi no da Mat emt i ca, r eal i zado na
Uni ver si dade Lut er ana do Br asi l em
Canoas, f oi um event o de gr ande
significado e representou um marco nas
discusses do Ensino da Matemtica em
nossa I nsti tuio. O grande nmero de
par t i ci pant es most r a que essa r ea
acadmica tem se consolidado nos ltimos
anos, pr opor ci onando pesqui sas e a
formao de grupos atuantes em diversas
I nst i t ui es de Ensi no Super i or. A
integrao com pesquisadores de pases sul
amer i canos se most r ou bast ant e
promi ssor a, o que nos encor aj a a dar
cont i nui dade a esse t i po de event o,
planejando o I I Congresso I nternacional
de Ensino da Matemtica para o ano de
2003.
A Universidade Luterana do Brasil,
o Curso de Matemtica e o Programa de
Ps-graduao em Ensino de Cinci as e
Mat emt i ca f or am mui t o f el i zes ao
pr opor ci onar em est e moment o aos
pesquisadores, professores de Matemtica
dos di ver sos nvei s de ensi no e aos
licenciandos de Matemtica, permitindo
uma i mpor tante troca de exper inci as,
pr opi ci ando a di scusso e o
compartilhamento de questes, problemas
e vivncias da laboriosa, porm gratificante
tarefa de pesquisar o ensino e o ensinar
Matemtica.
Conferncias, grupos de discusso e
oficinas pedaggicas, de alto nvel, foram
real i zadas ao l ongo dos t r s di as do
congresso. A avaliao dos congressistas
nos diversos aspectos do I Congresso foi
muito positiva. A organizao do evento foi
consi der ada sat i sf at r i a, conf or me
podemos observar no grfico 1.
Grfico 1
Organizao do evento
170 ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002
Of i ci nas pedaggi cas represent am
uma modalidade de ao que promove a
i nvestigao de probl emas matemti cos
atravs da relao prtica-teoria. uma
situao de ensino-aprendizagem onde se
t r abal ha com a par t i ci pao at i va dos
al unos, ut i l i zando mater i ai s concretos,
vi sando o desenvol vi ment o dos
0
20
40
60
80
100
120
140
Muito Bom Bom Regular Ruim
Avaliao das oficinas da manh
conheci ment os. Obj et i vam r ef l et i r e
apr esent ar al t er nat i vas aos desaf i os
pedaggi cos a que est o suj ei t os os
docent es. Nesse sent i do as of i ci nas
desenvolvidas no I Congresso atingi ram
seus objetivos, o que pode ser verificado
na aval i ao feita pel os par ti ci pantes e
apresentada nos grficos 2 e 3.
Grfico 2
Grfico 3
0
20
40
60
80
100
120
140
Muito Bom Bom Regular Ruim
Avaliao das oficinas da tarde
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 171
Os grupos de discusso objetivam discutir assuntos que despertam grande interesse
em pesquisadores e em professores de Matemtica. A avaliao desta atividade nos deixou
muito satisfeitos, porque de forma clara o grau mximo se salientou, conforme observamos
no
Grfico 4
0
20
40
60
80
100
120
Muito Bom Bom Regular Ruim
Avaliao dos grupos de discusso
O event o, na sua t ot al i dade, f oi
profcuo e de grande importncia para o
ensi no da Mat emt i ca, par a o
desenvol vi mento da pesquisa na rea e
par a a i nt egr ao de educador es
matemticos preocupados com o processo
ensino-aprendizagem da Matemtica.
Ar no Bayer
Car men Kai ber da Si l va
Cl audi a Li set e Ol i vei r a Gr oenw al d
ACTA SCIENTIAE v.4 n.1 j an./ j un. 2002 173
NORMAS PARA PUBLI CAO
1. M ODALI DADES DE PU BLI CAO
1.1 - artigos que expressem opinies e posicionamentos acerca de questes atuais das Cincias
Naturais e Exatas, cientificamente embasados.
1.2 - resenha crt ica de obras r el at ivas a essas reas, r esumo de teses, comunicaes,
documentos;
1.3 - matrias de divulgao da Universidade;
1.4 - matrias informativas sobre participao em eventos cientficos e tecnolgicos.
2. APRESENTAO DOS ORI GI N AI S
2.1 - os artigos devero ser apresentados em disquete, de preferncia em Windows Write ou
Windows Word, acompanhados de uma cpia impressa;
2.2 - o texto dos artigos dever ter de 10 a 20 laudas; o texto de resenhas ou outra modalidade
de comunicao no dever ir alm de 10 laudas;
2.3 - um resumo de seis(6) a dez(10) linhas, em lngua portuguesa e em lngua inglesa,
dever introduzir o artigo, juntamente com palavras-chave;
2.4 - a apresentao dever conter: identificao, com ttulo, suttulo (se houver), nome(s)
do(s) autor(es), maior titulao acadmica, cargo atual e instituio em que exerce suas funes;
telefones e endereos particular e profissional;
2.5 - citaes, referncias bibliogrficas e notas de rodap devero seguir as normas da
ABNT, ou, excepcionalmente, em casos devidamente justificados, de outro sistema de reconheci-
do valor cientfico;
2.6 - a estrutura do artigo ser a de um trabalho cientfico, contendo partes tais como:
introduo, desenvolvimento, material, mtodos, resultado, discusso, concluso, segundo as
caractersticas especficas de cada matria.
3. PU BLI CAO
3.1 - os trabalhos remetidos para publicao sero submetidos apreciao do Conselho
Editorial ou de outros consultores por este designados, de acordo com as especificidades do tema.
Em se tratando de material elaborado por aluno(s), o mesmo dever estar visado por um professor
da rea;
3.2 - os autores sero comunicados, atravs de correspondncia, da aceitao ou recusa de
seus artigos. A Comisso Editorial no se responsabiliza pela devoluo dos originais remetidos;
3.3 - havendo necessidade de alterao quanto ao contedo do texto, ser sugerido ao autor
que as faa e devolva no prazo estabelecido; adequao lingstica e copidescagem esto a cargo
da Comisso Editorial;
3.4 - os autores recebero 2(dois) exemplares da revista.
You might also like
- Atividades remotas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnaldo Francisco dos SantosDocument22 pagesAtividades remotas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnaldo Francisco dos SantosElisa BuenoNo ratings yet
- Uma Investigação Sobre Logaritmos Com Sugenstoes Didaticas PDFDocument142 pagesUma Investigação Sobre Logaritmos Com Sugenstoes Didaticas PDFWesley OliveiraNo ratings yet
- Revista GeoSertões, v6, n11, 2021Document174 pagesRevista GeoSertões, v6, n11, 2021SANTIAGO VASCONCELOSNo ratings yet
- Anais Do VIII Encontro de História Ensino, Metodologias e Práticas Pedagógicas em História Na Sociedade Contemporânea. 2016 UFALDocument275 pagesAnais Do VIII Encontro de História Ensino, Metodologias e Práticas Pedagógicas em História Na Sociedade Contemporânea. 2016 UFALMariana RossinNo ratings yet
- Transformação do Sertão em Zona Rural no RJDocument90 pagesTransformação do Sertão em Zona Rural no RJJoalisson MagiaverNo ratings yet
- Texturas e propriedades dos minérios de ferro do Quadrilátero FerríferoDocument225 pagesTexturas e propriedades dos minérios de ferro do Quadrilátero FerríferoWilliam CurieNo ratings yet
- Uma viagem histórica pela língua portuguesaDocument208 pagesUma viagem histórica pela língua portuguesaMaria PaulaNo ratings yet
- LeticiaSC DISSERT Quadrinho Ensinociencas PDFDocument224 pagesLeticiaSC DISSERT Quadrinho Ensinociencas PDFglauciargonzagaNo ratings yet
- AnáliseTrajetóriaPoços Brito 2008Document201 pagesAnáliseTrajetóriaPoços Brito 2008Desiderio BastosNo ratings yet
- A Representação Gráfica Das Unidades de Paisagem No Zoneamento AmbientalDocument209 pagesA Representação Gráfica Das Unidades de Paisagem No Zoneamento AmbientalMichael AugustoNo ratings yet
- A evolução da pesquisa sobre ensino e aprendizagem da história na revista História & EnsinoDocument26 pagesA evolução da pesquisa sobre ensino e aprendizagem da história na revista História & Ensinoreggina06No ratings yet
- Ciências Da Natureza e Suas Tecnologias 1° Propedêutico (Atividade)Document3 pagesCiências Da Natureza e Suas Tecnologias 1° Propedêutico (Atividade)Romário Sales PereiraNo ratings yet
- Combinados 3 º AnoDocument16 pagesCombinados 3 º AnoNislene Nogueira100% (1)
- GUTIERREZ, Ester. Negros, Charqueadas e Olarias - Um Estudo Sobre o Espaço PelotenseDocument255 pagesGUTIERREZ, Ester. Negros, Charqueadas e Olarias - Um Estudo Sobre o Espaço PelotensePierre ChagasNo ratings yet
- A Escola Na MídiaDocument302 pagesA Escola Na MídiaReinaldoFrançaNo ratings yet
- Lazer Na Região NorteDocument238 pagesLazer Na Região NorteandrechacacapiNo ratings yet
- Anais do VI Encontro de HistóriaDocument279 pagesAnais do VI Encontro de Históriainperpetuum2011No ratings yet
- 2015 Tese Wilton - Rabelo.pessoaDocument152 pages2015 Tese Wilton - Rabelo.pessoaNeudesdePaivaNo ratings yet
- ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MECÂNICO de UM SOLO MICRO-reforçado Com Fibras de Distintos Indices AspectoDocument146 pagesANÁLISE DO COMPORTAMENTO MECÂNICO de UM SOLO MICRO-reforçado Com Fibras de Distintos Indices AspectoLivia NascimentoNo ratings yet
- C4T2 - Capítulo 1Document138 pagesC4T2 - Capítulo 1Suedio MeiraNo ratings yet
- 9º Ano Teste LiteraturaDocument2 pages9º Ano Teste LiteraturaCoruja SabidaNo ratings yet
- 15° Apostila 4° Ano 2021 ConcluidaDocument10 pages15° Apostila 4° Ano 2021 ConcluidaMaria LuizaNo ratings yet
- Andrealongarezi,+Número+Completo+ +vol.2 n.1 2018+ +OK+ +23.06Document308 pagesAndrealongarezi,+Número+Completo+ +vol.2 n.1 2018+ +OK+ +23.06Mayam AndradeNo ratings yet
- Composição Social e Distribuição Espacial Dos Habitantes de Vila Rica Na Década de 1810Document129 pagesComposição Social e Distribuição Espacial Dos Habitantes de Vila Rica Na Década de 1810yeeg1990No ratings yet
- C2T2 Compressed PDFDocument155 pagesC2T2 Compressed PDFMatheus Mazurechen BarrosNo ratings yet
- Língua Portuguesa e Matemática aplicadas às Ciências NaturaisDocument3 pagesLíngua Portuguesa e Matemática aplicadas às Ciências NaturaisPATRICIA DE SOUZA TAVARESNo ratings yet
- Moura Ir Me RclaDocument128 pagesMoura Ir Me RclaBruno SantosNo ratings yet
- Consentimento informado para pesquisa na UERNDocument2 pagesConsentimento informado para pesquisa na UERNRamon matos.No ratings yet
- Os Kujà são diferentesDocument416 pagesOs Kujà são diferentesMaria Cristina Graeff WernzNo ratings yet
- Apc - Uci - 2024Document2 pagesApc - Uci - 2024Karielly Ferreira MachadoNo ratings yet
- 6 - PET 5º ANO - Semana de 26-04 A 30-04Document14 pages6 - PET 5º ANO - Semana de 26-04 A 30-04Natali Barauna - DoulaNo ratings yet
- Ae Avaliacao Trimestral3 Em2 Enunciado 2021Document6 pagesAe Avaliacao Trimestral3 Em2 Enunciado 2021Elisabete GasparNo ratings yet
- Sumário - MorfologiaDocument25 pagesSumário - MorfologiaCaroline Alves DiasNo ratings yet
- EstadoPlanejamentoFurtado PESQUISADocument299 pagesEstadoPlanejamentoFurtado PESQUISAmarlioNo ratings yet
- Atividade Semana 14Document20 pagesAtividade Semana 14André GustavoNo ratings yet
- Geografia do Município de QuaraíDocument84 pagesGeografia do Município de QuaraíAnonymous PUw3YtJNo ratings yet
- Petróleo e Segurança Internacional Aspectos Globais e Regionais Das Disputas Por Petróleo Na África SubsaarianaDocument0 pagesPetróleo e Segurança Internacional Aspectos Globais e Regionais Das Disputas Por Petróleo Na África SubsaarianaLuã BragaNo ratings yet
- A Câmara de Natal e a colonização dos sertões (1681-1722Document244 pagesA Câmara de Natal e a colonização dos sertões (1681-1722Lívia BarbosaNo ratings yet
- São Paulo e Buenos Aires - Urbanismo e ArquiteturaDocument312 pagesSão Paulo e Buenos Aires - Urbanismo e ArquiteturaAnastaciaNo ratings yet
- Avaliação de Ciências - Recursos Naturais 5ºanoDocument2 pagesAvaliação de Ciências - Recursos Naturais 5ºanoClemilson100% (1)
- Estudo de HistóriaDocument6 pagesEstudo de HistóriaSilviaNo ratings yet
- Planner Do Professor 5o Ano ModifricadoDocument230 pagesPlanner Do Professor 5o Ano ModifricadoneiaNo ratings yet
- Sequencia PáscoaDocument7 pagesSequencia Páscoalilianmartinsfigueiredo3No ratings yet
- Livro de Geometria Espacial - Triangulos, Tales, TeoremasDocument228 pagesLivro de Geometria Espacial - Triangulos, Tales, TeoremasBrigida Figueiredo de BarrosNo ratings yet
- Cleide CarnicerDocument70 pagesCleide Carnicercamylle carvalho0% (1)
- 7 Avaliacao Ficha 2 08 09Document4 pages7 Avaliacao Ficha 2 08 09jotapedros100% (1)
- Katherine Oliveira - Serranópolis GoiásDocument210 pagesKatherine Oliveira - Serranópolis GoiásKatherine OliveiraNo ratings yet
- Anatomia Humana Estudo DirigidoDocument9 pagesAnatomia Humana Estudo Dirigidotamiresvieira14No ratings yet
- Atletismo: esporte com diversas modalidadesDocument29 pagesAtletismo: esporte com diversas modalidadesSAMUEL CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOSNo ratings yet
- Território, Reforma Agrária e Capital no RNDocument279 pagesTerritório, Reforma Agrária e Capital no RNÍTALO FONSECANo ratings yet
- Aeekem217 Ava Trim 3Document4 pagesAeekem217 Ava Trim 3Explicações da Ju100% (2)
- Sequência Didática para EJA - Seres Vivos e SolDocument97 pagesSequência Didática para EJA - Seres Vivos e SolErikaNo ratings yet
- Atividades Remotas Decima Etapa KellysDocument11 pagesAtividades Remotas Decima Etapa KellysAntônia Kellys matosNo ratings yet
- Orientação Pelo SolDocument2 pagesOrientação Pelo Solvalentina200196No ratings yet
- Ensino fundamental anos iniciais atividades não presenciaisDocument32 pagesEnsino fundamental anos iniciais atividades não presenciaisGislandia Vieira MarinhoNo ratings yet
- Original Ro2008n7Document117 pagesOriginal Ro2008n7Guilherme RochaNo ratings yet
- Ae Ekem3 Ficha Av Interm 2perDocument6 pagesAe Ekem3 Ficha Av Interm 2perestofadoraguadepenaNo ratings yet
- Apostila Isn1-1Document413 pagesApostila Isn1-1Carlos Wagner100% (1)
- Relatorio 6 Indice de RefracaoDocument9 pagesRelatorio 6 Indice de Refracaohenriquegamerr1No ratings yet
- Exercitando Fotossíntese e RespiraçãoDocument8 pagesExercitando Fotossíntese e RespiraçãoSilvania Pires De Oliveira Araujo0% (1)
- 02 Teste Avaliacao d1 sd2Document5 pages02 Teste Avaliacao d1 sd2maria claraNo ratings yet
- Guia de referência para regulador de tensão K38P3Document8 pagesGuia de referência para regulador de tensão K38P3Kleberson CarlosNo ratings yet
- Curso CLP Siemens S7-200Document49 pagesCurso CLP Siemens S7-200Dayane KellyNo ratings yet
- 0 - Aula IntrodutóriaDocument9 pages0 - Aula IntrodutóriaandrewheislNo ratings yet
- Determinação Da Densidade Relativa de Um LíquidoDocument3 pagesDeterminação Da Densidade Relativa de Um LíquidoShuraNo ratings yet
- RESUMO Desenho Mecânico, Ajustagem e Estado de SuperfícieDocument16 pagesRESUMO Desenho Mecânico, Ajustagem e Estado de SuperfícieWilton Marcos SilvaNo ratings yet
- Relações métricas na circunferênciaDocument11 pagesRelações métricas na circunferênciaSara Vitória CarvalhoNo ratings yet
- MicroEstim_01a instruçõesDocument46 pagesMicroEstim_01a instruçõesLarissa KarllaNo ratings yet
- Dados Estatística ExcelDocument22 pagesDados Estatística ExcelYuri MartinsNo ratings yet
- Questões e ResoluçãoDocument3 pagesQuestões e ResoluçãoTudo AquiNo ratings yet
- ClimaDocument21 pagesClimaemerson100% (1)
- Andre Giacomini Dias CarmonaDocument34 pagesAndre Giacomini Dias CarmonaFernanda LealNo ratings yet
- QUEDA LIVRE - FISICA Resumo Capitulo 5.2Document4 pagesQUEDA LIVRE - FISICA Resumo Capitulo 5.2Junior SilvaNo ratings yet
- Prova Agente Legislativo SP 2010Document4 pagesProva Agente Legislativo SP 2010BVCvalenttimNo ratings yet
- Questões Física II ADocument2 pagesQuestões Física II AErikikoNo ratings yet
- Guia do Usuário Nobreaks Laser Senoidal NHSDocument2 pagesGuia do Usuário Nobreaks Laser Senoidal NHSFausto OviedoNo ratings yet
- Atuador normalizado DNC-100-80-PPVDocument1 pageAtuador normalizado DNC-100-80-PPVRafael Oliveira CarvalhoNo ratings yet
- Fibras ópticas: maquina de fusão e OTDRDocument44 pagesFibras ópticas: maquina de fusão e OTDRMaycon MacedoNo ratings yet
- Guia Informativo Do Tef-ScopeDocument4 pagesGuia Informativo Do Tef-Scopeandresud2008No ratings yet
- Hernias Parede AbdominalDocument25 pagesHernias Parede AbdominalAna Pinto100% (1)
- Matemática em testesDocument7 pagesMatemática em testesAmélia F Martins0% (1)
- How Stuff WorksDocument8 pagesHow Stuff WorksRodrigo SgarbiNo ratings yet
- Questionário de FisicaDocument9 pagesQuestionário de FisicaCarolline_27No ratings yet
- O 1 2 OeDocument22 pagesO 1 2 Oeamandafayad1No ratings yet
- Aula1-Introdução Metodos EspectroquimicosDocument48 pagesAula1-Introdução Metodos EspectroquimicosscruutNo ratings yet
- IFET RN Campus João Câmara lista exercícios eletricidadeDocument3 pagesIFET RN Campus João Câmara lista exercícios eletricidadeValdeir SilvaNo ratings yet